Publicações
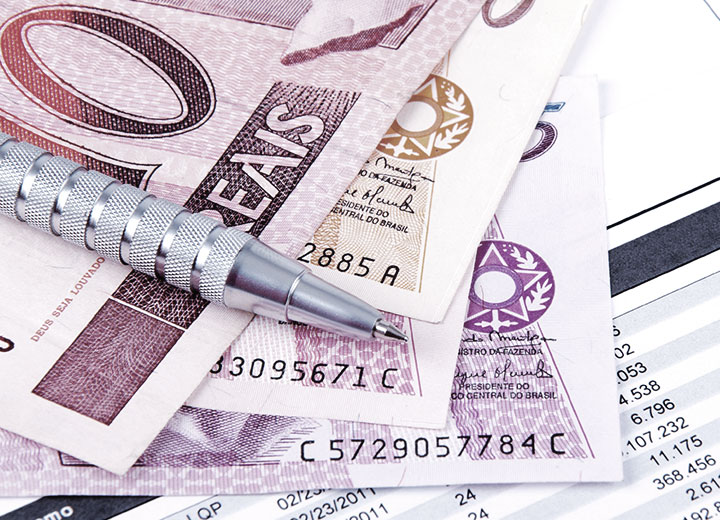
- Categoria: Tributário
Desde que o STF firmou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 574.706, muitos contribuintes tiveram desfecho definitivo em seus processos individuais sobre o tema, o que deu margem a novas questões controvertidas. Uma das polêmicas mais relevantes, em razão dos efeitos de caixa verificados, diz respeito a quando tributar pelo IRPJ e pela CSLL o montante dos créditos reconhecidos judicialmente e que serão objeto de compensação administrativa.
A matéria é controvertida por sofrer impacto de diferentes eventos relevantes: (a) o trânsito em julgado da ação judicial individual ajuizada pelo contribuinte; (b) a efetiva mensuração dos créditos pelo contribuinte e o reconhecimento contábil dos valores a recuperar como ativo, em contrapartida à receita; (c) a habilitação dos créditos perante a Receita Federal do Brasil (RFB) como condição para realizar a compensação; (d) a efetiva compensação dos créditos com outros tributos federais, nos termos regulados pela Receita Federal; e (e) a homologação da compensação pela Receita Federal.
Em termos práticos, a incidência do IRPJ e da CSLL pressupõe o direito do contribuinte de dispor livremente do valor dos créditos, sem depender de ato de terceiro. Para muitos, o mero reconhecimento do direito de crédito ora tratado parece não assegurar essa disponibilidade, já que representa apenas o direito de exigir do devedor a disponibilização desse rendimento.
O trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito de crédito do contribuinte é o primeiro passo para a aquisição da disponibilidade jurídica da renda, um dos eventos passíveis de configurar o fato gerador do IRPJ e CSLL. A concepção de “primeiro passo” é relevante, pois, embora o contribuinte tenha, com a sentença transitada em julgado, direito absoluto e incondicional ao crédito, na maioria dos casos não há, naquele momento, a quantificação do direito que foi reconhecido.
Em geral, as decisões transitadas em julgado nos mandados de segurança impetrados pelos contribuintes visando à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins são ilíquidas (não fixam o valor a recuperar). Por essa razão, para fins de registro contábil do valor dos créditos, sua liquidez deve ser apurada, o que normalmente é feito de forma unilateral pelo contribuinte com base nas melhores estimativas, conforme dispõem as normas contábeis.
A Receita Federal já manifestou o entendimento de que é no momento do trânsito em julgado da sentença judicial que os créditos passam a ser receitas tributáveis de IRPJ e CSLL (soluções de consulta nº 106/10, 232/07 e 233/07). No entanto, não há clara indicação nos termos dessas normas se as sentenças transitadas em julgado já quantificavam o montante dos créditos, isto é, se as decisões eram líquidas ou ilíquidas.
Sob outra perspectiva, é possível defender que o trânsito em julgado de sentença ilíquida não é o momento adequado para a incidência de IRPJ e CSLL, pois a parte sequer definiu se vai seguir com a restituição via compensação ou por precatório. Sobre esse tema, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é direito do contribuinte optar por uma ou outra forma (Súmula 461 do STJ).
Caso a opção pela compensação administrativa se confirme, é necessário habilitar os créditos na Receita Federal, conforme os procedimentos regulados pela Instrução Normativa nº 1.717/17. Nesse momento, o crédito foi mensurado pelo contribuinte, mas o fisco ainda não se manifestou. Aliás, mesmo com o deferimento do pedido pelo fisco, não há qualquer anuência sobre o valor do crédito (art. 101, parágrafo único da IN 1.717). Nessa linha, é possível argumentar que esse ato unilateral em relação ao quantum devido não deveria ter o condão de tornar líquida a sentença transitada em julgado. De fato, da forma como está prevista na norma, a habilitação mais se aproxima de um procedimento formal prévio de checagem, equivalente à verificação das condições da ação, sem nenhum exame de mérito.
Especificamente com relação aos créditos decorrentes do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, a Receita Federal tem apresentado vários óbices para restituí-los aos contribuintes, como a limitação do valor do ICMS a ser excluído ao efetivamente pago (e não o destacado nas notas fiscais) e a pretensão de limitar o entendimento firmado pelo STF aos períodos anteriores à Lei nº 12.973/14. Dessa forma, há fundamentos para se afirmar que não são líquidos e representativos de acréscimos patrimoniais os valores ainda sujeitos a questionamento pelo fisco.
Uma outra linha interpretativa é a de que o IRPJ e a CSLL só incidiriam quando o contribuinte efetivamente realiza as compensações (transmissão do PER/DCOMP), momento em que ele faz uso dos créditos a que entende ter direito. Essa argumentação teria fundamento na (i) opção feita pelo contribuinte quanto à utilização do crédito pela via da compensação e nas (ii) características inerentes ao crédito tributário, cujo poder liberatório é limitado por lei (tais créditos só podem ser utilizados para compensação com débitos relativos a tributos federais).
O direito à compensação somente existe quando o contribuinte é, ao mesmo tempo, credor e devedor de obrigações perante um mesmo ente, no caso, a Fazenda Nacional. Nos autos da Solução de Consulta nº 206/03, a Receita Federal até mesmo já expôs o entendimento de que a disponibilidade jurídica e econômica ocorre quando o contribuinte efetivamente recebe o crédito tributário e, no caso de compensação, quando ela é efetivamente realizada.
Ainda que a própria Lei nº 9.430/96 determine que a Declaração de Compensação equivale ao pagamento, há também quem siga o entendimento de que a liquidez do crédito tributário, para fins de caracterização da disponibilidade jurídica ou econômica da renda como fato gerador do IRPJ e da CSLL, ocorre somente no momento da homologação da compensação pela RFB.
Essa é a hipótese que implica no recolhimento do tributo de forma mais distante do trânsito em julgado e, portanto, mais desejada pelos contribuintes e menos desejada pelo fisco. E é exatamente o que o Juízo da 6ª Vara do Rio de Janeiro acolheu como o evento relevante para fins tributários na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5035622-22. 2019.4.02.5101. Segundo prevaleceu nesse caso, “apenas com a homologação do pedido de compensação pela autoridade fiscal é que se pode falar em crédito líquido recuperado pela impetrante, a partir de quando efetivamente o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorrerá”.
Essa decisão tem dois efeitos positivos: ao mesmo tempo que (i) evita o desembolso prematuro para pagamento dos tributos sobre o valor do crédito, ela (ii) estimula o fisco a apreciar com brevidade as compensações em questão, deixando de fazer uso do prazo de cinco anos para tanto. Porém, sabemos que a matéria é controvertida e que essa decisão, ainda sujeita a recurso, é uma das poucas que versam sobre a matéria.
Ao que tudo indica, após muitos anos de discussões no Judiciário para reconhecimento da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins, os contribuintes ainda enfrentarão extensas discussões sobre o momento da tributação desses créditos pelo IRPJ e CSLL.

- Categoria: Tributário
Um aspecto que é objeto de debate frequente nos tribunais administrativos com competência para apreciar questionamentos apresentados em face de cobrança de créditos tributários é a possibilidade de a autoridade administrativa, após a lavratura do auto de infração, modificar os fundamentos invocados na acusação ou mesmo introduzir novos elementos para fortalecer sua motivação.
O ato administrativo de lançamento tributário formaliza a constituição do crédito tributário. Ao praticar o ato, a autoridade administrativa externa a sua interpretação dos dispositivos legais que entende serem aplicáveis à espécie e veicula a cobrança do tributo acrescido da penalidade. O exercício da garantia da ampla defesa e do contraditório pelo contribuinte é direcionado ao confronto dos fundamentos expostos pela acusação, a qual tem o condão de fixar os critérios que serão submetidos ao controle de legalidade.
O Código Tributário Nacional (CTN) dispõe no artigo 146[1] que a modificação do critério jurídico adotado em um lançamento, seja decorrente de um ato de ofício da autoridade ou em virtude de decisão de um órgão administrativo de julgamento ou judicial, somente poderá ser alterado em relação aos fatos subsequentes à sua introdução.
Em outras palavras, depois de efetuado um lançamento, o critério jurídico nele refletido não poderá ser modificado no que toca aos fatos compreendidos naquele ato. Desse modo, mesmo que a própria Administração Pública constate que foi adotado um entendimento equivocado, a alteração dele é vedada com o fim de justificar o ato já praticado.
O controle de legalidade do lançamento é exercido tendo como base tão somente o ato administrativo praticado e, por conseguinte, não tem a função de impor que a Administração siga aquele entendimento para períodos subsequentes. Veda-se a modificação do critério jurídico adotado para a exigência do tributo constituído. No que concerne aos fatos posteriores, o critério novo poderá ser empregado e não há vinculação necessária a lançamento anterior.
De acordo com as prescrições do CTN nos artigos 145 e 149, há hipóteses específicas e delimitadas nas quais o lançamento efetuado poderá ser alterado. Não existe entre elas, porém, situação que autorize uma alteração da interpretação dos dispositivos legais invocados pelo agente que praticou o ato nem a possibilidade de acréscimo de elementos em caso de constatação de equívoco na fundamentação inicial.
Esse aspecto é de grande relevância porque, ao contestar um auto de infração, o contribuinte apresenta as razões que justificam a conduta por ele adotada e os documentos que respaldam suas alegações. Assim, após a contestação do contribuinte, a autoridade administrativa não poderá rever espontaneamente o ato e implementar ajustes.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) tem diversos julgados a respeito do tema, e não há uniformidade entre eles. Um exemplo da aplicação acertada do óbice imposto pelo artigo 146 do CTN no tocante à retificação do auto de infração após a notificação do contribuinte é verificado no acórdão 3401-005.943, ocasião em que o relator, Conselheiro Lázaro Soares, corretamente sustentou não ser possível modificar a fundamentação do lançamento. Todavia, o conselheiro esclareceu que a vedação diz respeito apenas ao passado, não cerceando a atividade da Administração no que concerne a lançamentos futuros. Veja-se trecho esclarecedor do acórdão:
(...) 34. O que não se permite é que a Autoridade Tributária, identificando um lançamento com fundamentação legal equivocada, tendo ocorrido um erro de direito, venha a alterar tal fundamento, substituindo-o por outro e acarretando, assim, um agravamento da situação do contribuinte naquela mesma autuação, referente ao mesmo fato gerador, sobre o pretexto de adequar o ato administrativo à legislação vigente. No entanto, nada impede que, em futuros lançamentos, faça tal correção, mesmo para fatos geradores passados. (...)
O acórdão 1401-002.822 também enfrentou situação semelhante, na qual o lançamento foi cancelado porque a decisão de primeira instância invocou um fundamento que não tinha sido suscitado pelo auto de infração originário. Tal circunstância, segundo exposto pela decisão, implica no cerceamento do direito de defesa do contribuinte, uma vez que, necessariamente, a defesa se dirige ao confronto dos argumentos da acusação.
Entretanto, a despeito da identificação dos julgados acima, que bem aplicaram o comando emergente do artigo 146 do CTN, há julgados recentes em que se podem constatar equívocos de duas ordens: i) a avaliação que toma como referência um lançamento anterior; e, ii) a conclusão de que novos argumentos invocados, desde que chancelem a infração descrita na acusação, não configuram alteração de critério jurídico. O entendimento refletido no acórdão 9303-008.195,[2] a um só tempo, contraria o objetivo colimado pelo artigo 146, visto que invoca como critério de comparação lançamento anterior e, igualmente, afirma que a modificação do fundamento legal, desde que mantida a descrição fática, não caracteriza alteração de critério jurídico.
Embora a jurisprudência do CARF demonstre que o tema não está pacificado, entendemos que há sinais positivos e exemplos de aplicação acertada da vedação à modificação do critério jurídico adotado pelo lançamento. Quanto à preservação da garantia do devido processo legal e da ampla defesa, a conexão com o artigo 146 do CTN diz respeito à identificação precisa da acusação, que permitirá ao contribuinte exercitar seu direito plenamente.
Não é coerente com a garantia da ampla defesa a autorização para que a Administração, no desempenho da função de constituir crédito tributário, possa alterar os fundamentos da acusação sempre que o contribuinte se defender e apresentar argumentos e documentos que demonstrem o acerto da sua conduta. Não se admite que o órgão acusador, escorado no objetivo final de manter a acusação, invoque novos fundamentos em diversas oportunidades. A acusação deve ser precisa e conter todos os elementos ao ser efetivada e, em matéria tributária, o limite está previsto no artigo 146 do CTN, com regra expressa que veda modificação dos fundamentos do lançamento.
[1] “Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.”
[2] “A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração diz respeito à alteração da legislação aplicável a um mesmo fato para um mesmo sujeito passivo. Mantendo-se a descrição do fato e a infração a ele imputada, argumentos adicionais, que levam à mesma infração, não caracterizam alteração de critério jurídico.”

- Categoria: Bancário, seguros e financeiro
O Decreto Presidencial nº 10.029/19, publicado no dia 27 de setembro, autorizou o Banco Central do Brasil (BCB) a reconhecer como de interesse do governo brasileiro: (i) a instalação, no País, de novas agências de instituições financeiras domiciliadas no exterior; e (ii) o aumento do percentual de participação, no capital de instituições financeiras com sede no País, de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior.
Antes, o procedimento para participação estrangeira no Sistema Financeiro Nacional (SFN) abrangia um processo de autorização técnica do BCB e, mais tarde também, uma manifestação de interesse do governo brasileiro mediante a edição de um decreto específico assinado pelo presidente da República.[1]
Com a edição do Decreto Presidencial nº 10.029, o próprio BCB, após a conclusão do processo de análise técnica do pedido, reconhecerá o interesse do governo brasileiro na participação estrangeira no SFN, tornando desnecessária a edição de um decreto presidencial específico para cada caso.[2]
A mudança acaba com a incerteza e o longo período de espera para a manifestação do presidente da República e permite manifestações de interesse baseadas em requisitos objetivos estabelecidos em regulamentação específica a ser emitida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). As novas regras deverão apresentar, quando cabível, as mesmas condições aplicáveis aos investidores locais.
A necessidade de expedição de decretos presidenciais específicos acarretava, muitas vezes, morosidade para a entrada de instituições estrangeiras no SFN. Agora, com o grau maior de segurança e agilidade conferido aos pedidos de autorização, o mercado nacional se torna mais atrativo, o que deve resultar em aumento da competitividade, oferta de produtos de maior qualidade e possivelmente redução no custo do crédito e das tarifas de serviço.
[1] Segundo o art. 52 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), é proibido: (i) instalar no País novas agências de instituições financeiras domiciliadas no exterior; e (ii) aumentar o percentual de participação, no capital de instituições financeiras com sede no País, de pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior, exceto quando há manifestação de interesse do governo brasileiro. Tal proibição está vinculada à sensibilidade e à importância das atividades financeiras para a estabilidade e o crescimento do País, bem como à necessidade de proteção do SFN.
[2] Não há, no caso do Decreto nº 10.029/19, o reconhecimento automático do interesse do governo brasileiro na participação estrangeira no SFN, mas sim, a transferência de competência para reconhecer tal interesse para o próprio BCB.

- Categoria: Trabalhista
Uma lei aprovada pelo estado da Califórnia, nos Estados Unidos, em setembro, presume que uma pessoa que preste serviços mediante remuneração deve ser considerada um empregado da contratante, exceto se a empresa demonstrar que todos os seguintes requisitos foram atendidos:
(A) A pessoa é livre de controle e direção da parte contratante com relação à prestação dos serviços, tanto do ponto de vista contratual quando do ponto de vista fático.
(B) A pessoa presta serviços não relacionados ao curso normal dos negócios da parte contratante.
(C) A pessoa é habitualmente contratada em um comércio, ocupação ou negócio estabelecido de forma independente, da mesma natureza que a envolvida no trabalho ou serviços prestados.
Essa sistemática de verificação é conhecida nos EUA como teste ABC.
Conforme exposto em seu artigo 1º, a Assembly Bill No. 5 tem como objetivo expandir os direitos assegurados pela decisão proferida pela Suprema Corte da Califórnia no caso Dynamex Operations West, Inc. v. Superior Court of Los Angeles, 4 Cal. 5th 903 (2018) para garantir que trabalhadores classificados erroneamente como autônomos (independent contractors) – e não como empregados – tenham direitos e proteções básicos assegurados a empregados, como salário mínimo, auxílio em caso de acidente do trabalho (workers’ compensation), seguro-desemprego, licença médica remunerada (paid sick leave) e licença familiar remunerada (paid family leave).
Em razão disso, tem se discutido muito quais seriam os efeitos dessa lei sobre os negócios de empresas que visam conectar usuários a prestadores de serviços (plataformas digitais) e sobre o modelo de negócios no qual a economia compartilhada (conhecida como gig economy) se baseia.
Essa discussão tem gerado reflexos até mesmo no Brasil: estudiosos contrários ao modelo de negócios da gig economy consideram que, se fosse aplicada aqui, a lei californiana inviabilizaria os negócios das plataformas digitais, já que os prestadores de serviços que as utilizam para se conectar a clientes seriam automaticamente considerados empregados das plataformas.
Em nossa visão, entretanto, isso não é verdade, pois, se fosse introduzida ao ordenamento jurídico brasileiro, a lei sancionada pelo estado da Califórnia não acrescentaria nada de novo à realidade brasileira. Na verdade, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seus artigos 2º, 3º e 9º prevê, desde que foi editada na década de 1940, os conceitos introduzidos pela lei estadual norte-americana. É o que este artigo se propõe a abordar a seguir.
Presume-se empregado a pessoa que não está livre de controle e direção da parte contratante com relação à prestação dos serviços, tanto do ponto de vista contratual quando do ponto de vista fático. Em outras palavras, considera-se empregado toda pessoa que presta serviços à parte contratante sob subordinação jurídica, como já ocorre no Brasil.
A subordinação jurídica é essencial para a caracterização do vínculo de emprego. A nova lei da Califórnia faz referência até mesmo à importância das circunstâncias fáticas, como ocorre no Brasil com base no Princípio da Primazia da Realidade, pelo qual a realidade fática é essencial para a análise do caso concreto. Esses conceitos já são amplamente aplicados pela Justiça do Trabalho há décadas.
Em segundo lugar, presume-se empregado a pessoa que presta serviços relacionados ao curso normal dos negócios da parte contratante. Pode-se interpretar esse requisito do ponto de vista tanto da subordinação estrutural quanto pelo viés da proibição da terceirização de atividade-fim. Em outras palavras, presume-se empregado a pessoa que presta serviços inserida na estrutura organizacional da empresa contratante, como ocorre no Brasil com base na tese da subordinação estrutural, ou a pessoa que presta serviços relacionados à atividade-fim da empresa contratante.
Quanto à subordinação estrutural, muito embora essa tese seja minoritária, há decisões no Brasil que reconhecem a sua aplicabilidade em conjunto com a subordinação jurídica. Essa tese tem sido usada até mesmo pela Justiça do Trabalho na análise de casos ajuizados por prestadores de serviços contra plataformas digitais envolvendo pedidos de vínculo de emprego. Entretanto, ela não tem prevalecido quando a subordinação jurídica está ausente.
Já quanto ao viés da proibição de terceirização da atividade-fim, essa interpretação também teria sua aplicação mitigada no Brasil em razão da recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de reconhecer a legalidade da terceirização de qualquer tipo de atividade, inclusive da atividade-fim da empresa contratante.
Presume-se empregado a pessoa não habitualmente contratada em um comércio, ocupação ou negócio estabelecido de forma independente e da mesma natureza que a envolvida no trabalho ou serviço prestado. Quanto a esse ponto, embora a exclusividade não seja requisito de vínculo empregatício no Brasil, ela é considerada um importante fator na análise do caso concreto, em conjunto com a análise dos demais requisitos do vínculo empregatício, especialmente a subordinação.
Finalmente, a presunção de existência de vínculo empregatício conforme previsto pela lei californiana também já está consolidada pela jurisprudência brasileira, pois é ônus da empresa provar a inexistência dos requisitos do vínculo de emprego quando reconhecida a prestação dos serviços pela empresa. Como estabelecido pela Assembly Bill No. 5, o artigo 9º da CLT determina que quaisquer atos adotados para impedir a aplicação dos direitos previstos na CLT são considerados fraudulentos e nulos.
Independentemente disso, a jurisprudência brasileira tem se posicionado, de modo consistente, contra a ideia de que prestadores de serviços que fazem uso de plataformas digitais para se conectar com clientes sejam empregados das empresas responsáveis por tais plataformas. Esse entendimento se baseia no fato de que, regra geral, (i) não há subordinação jurídica entre os prestadores de serviços e as respectivas plataformas digitais; (ii) os prestadores de serviços não estão inseridos na estrutura organizacional das plataformas digitais; e (iii) os prestadores de serviços prestam serviços por meio de diversas plataformas digitais, muitas vezes concorrentes entre si, sem qualquer tipo de exclusividade.
Evidentemente, embora o modelo de negócios das plataformas digitais não seja isento de riscos trabalhistas, e as plataformas digitais devam tomar uma série de medidas para mitigar o risco de vínculo de emprego com os prestadores de serviços que a utilizam, a nosso ver, a recente lei californiana não mudaria o atual cenário jurisprudencial brasileiro se fosse aqui aplicada.

- Categoria: Contencioso
A Lei no 9.307/96 (Lei de Arbitragem), que regula a arbitragem no Brasil, prevê em seu art. 1º, §1º, desde as alterações promovidas pela Lei no 13.129/15, que a “administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis”.[1] .Já era possível, portanto, levar à arbitragem controvérsias entre entes privados e públicos sobre valores indenizatórios devidos por força de ato de desapropriação (que, claramente, cuidam de direito patrimonial disponível).
O desafio estava na operacionalização da escolha pela jurisdição privada, especialmente na negociação de um compromisso arbitral com a Administração Pública, instrumento por meio do qual, nos termos da Lei de Arbitragem, as partes podem, depois do surgimento do conflito, declarar sua opção por esse meio de solução de disputas nos casos em que não há uma cláusula arbitral que já as vincule.
Quanto à mediação, a Lei no 13.140/15 dispõe apenas sobre sua instituição entre particulares, regulando, com relação a controvérsias com a Administração Pública, um procedimento de autocomposição de litígios perante câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos criados e/ou existentes no âmbito dos órgãos da Advocacia Pública.
É nesse contexto que a Lei no 13.867/19, publicada em 27 de agosto deste ano, surge como uma boa nova para os particulares que venham a ter imóveis de sua propriedade desapropriados pelo poder público e que discordem da quantia oferecida a título de indenização.
Introduzindo modificações salutares ao Decreto-Lei no 3.365/41 (Decreto de Desapropriação), a Lei no 13.867/19 confere aos entes privados o direito de optar pela via arbitral ou pela mediação quando há divergência quanto aos valores indenizatórios devidos pelo poder público em razão de ato expropriatório, por meio de um procedimento que aparenta ser simples.
De acordo com a nova sistemática, prevista agora nos artigos 10-A e 10-B do decreto-lei, o poder público deverá, como primeiro passo na interlocução com o particular, notificar o proprietário com uma oferta de indenização, a qual deverá conter: (i) a cópia do ato de declaração de utilidade pública; (ii) a planta ou descrição dos bens e suas confrontações; (iii) o valor da oferta; e (iv) a previsão expressa de que o proprietário dispõe de 15 dias para aceitar ou rejeitar a oferta, entendido o silêncio como rejeição.
Recebida a notificação, o particular tem três opções. Poderá ele: (i) aceitar a oferta e firmar acordo com o poder público; (ii) rejeitar a oferta (ou mesmo silenciar quanto a seus termos) e aguardar que o ente público inicie medida judicial contra si (nos termos do art. 11 do Decreto de Desapropriação); ou (iii) iniciar uma ação judicial, uma arbitragem ou mediação caso discorde da indenização oferecida pela Administração Pública.
Ou seja, mais que dotar o particular do poder de escolha entre essas duas eficazes alternativas de solução de disputas, a Lei no 13.867/19 impôs um regime bem diverso daquele antes previsto no art. 10 do Decreto de Desapropriação.[2] Ela impõe ao poder público, antes da adoção de qualquer medida judicial, o dever de enviar ao proprietário uma oferta de pagamento de valores indenizatórios como forma de buscar um acordo, prestigiando a transação – ainda na seara administrativa – como medida a ser primordialmente intentada pelo ente público expropriante.
Ainda nos termos do art. 10-B do Decreto de Desapropriação, optando pela mediação ou pela via arbitral, o particular deverá indicar um dos órgãos ou instituições especializados nos referidos métodos alternativos de resolução de conflitos e que tenham sido previamente cadastrados pelo ente responsável pela desapropriação. Nada diz o comando legal sobre como se dará essa indicação, mas recomenda-se que, uma vez feita a escolha, o particular notifique o poder público indicando a instituição responsável pela administração do procedimento a ser instaurado.
Quanto aos custos da arbitragem ou da mediação, convém chamar a atenção ao veto presidencial ao § 5º do art. 10-B que constava do Projeto de Lei no 10.061/18. O dispositivo previa que os “honorários dos árbitros serão adiantados pelo poder público e, ao final do procedimento, serão pagos pela parte perdedora ou proporcionalmente, na forma estabelecida nos regulamentos do órgão ou instituição responsável”.
Com sua exclusão do texto legal, não há dúvidas de que os honorários de árbitro, assim como as demais despesas (custos administrativos, despesas com audiência, assistentes técnicos e peritos, por exemplo), deverão ser suportados pelas partes de acordo com o regulamento de arbitragem e/ou mediação da instituição indicada.
A Lei no 13.867/19 é aplicável a todas as s desapropriações ocorridas a partir de 27 de agosto (data de sua publicação). Desse modo, para que as alterações por ela promovidas tenham plena eficácia prática, é preciso que o processo de cadastramento das câmaras de mediação e arbitragem seja regulamentado e iniciado com brevidade pelos entes públicos, com a divulgação de uma lista das instituições que poderão ser indicadas pelo particular.
A necessidade de prévio cadastramento das instituições arbitrais pela Administração Pública não é novidade em nosso ordenamento jurídico. Adotaram também essa sistemática a União, no âmbito da Lei nº 13.448/17, que trata da prorrogação e relicitação dos contratos do programa de parceria de investimentos (PPI); e os estados de Minas Gerais (Lei nº 19.477/11), Rio de Janeiro (Decreto nº 46.245/18) e São Paulo (Decreto nº 64.356/19), que já regulamentaram o uso da arbitragem para a solução de conflitos com a Administração Pública Direta e suas autarquias e entidades.
A Procuradoria Geral do Estado do Rio disponibiliza em sua página na internet[3] a lista de instituições já devidamente cadastradas. Em Minas Gerais, as câmaras devem constar do Cadastro Geral de Fornecedores do Estado.[4] Em São Paulo, há notícia de que o cadastramento foi iniciado e de que a lista será em breve divulgada.[5] Em âmbito federal, não foram encontradas informações acerca do cadastramento. Com relação aos demais entes, é importante atentar à publicação de atos executivos que venham a reger o processo de cadastramento e de listas com a indicação das câmaras de mediação e arbitragem que poderão ser eleitas.
As alterações promovidas pela Lei no 13.867/19 ao Decreto de Desapropriação são de suma relevância pois, além de aprimorar a etapa administrativa do processo de desapropriação, permitem ao particular optar pelo procedimento que entender mais adequado ao caso para determinar a indenização, promovendo maior celeridade e segurança jurídica.
[1] Tal alteração no texto legal veio apenas refletir em lei posicionamento da jurisprudência já consolidado sobre a matéria.
[2] O art. 10 do Decreto de Desapropriação previa (e ainda prevê) que “[a] desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará”. Lido sozinho, na ausência dos atuais artigos 10-A e 10-B, o dispositivo concedia ao ente público uma opção entre buscar uma solução amigável e ajuizar de imediato uma medida judicial. Não havia uma preferência legal pela composição, sendo possível, nesse antigo regime, que a Administração Pública movesse a máquina do Poder Judiciária desnecessariamente, instaurando um litígio contra proprietário disposto aceitar o valor indenizatório ofertado.
[3] https://www.pge.rj.gov.br/entendimentos/arbitragem
[4] https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web
[5] Por ora, as câmaras arbitrais que administram procedimentos arbitrais em que é parte o estado de São Paulo podem ser consultadas aqui: http://www.pge.sp.gov.br/arbitragens/arquivos/arbitragens.pdf.

- Categoria: M&A e private equity
A Lei no 13.874/19, que institui a Declaração de Direitos da Liberdade Econômica,[1] foi promulgada com o intuito de atender a diversos anseios do setor empresarial em prol do ambiente de negócios no país. Entre os dispositivos de natureza principiológica e alterações legislativas, destacam-se as normas inseridas no Código Civil relativas aos fundos de investimento,[2] em especial a possibilidade de limitar a responsabilidade dos cotistas e dos prestadores de serviço do fundo de investimento.
Nesse sentido, o novo artigo 1368-D do Código Civil determina que o regulamento do fundo de investimento poderá, observada a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), limitar a responsabilidade dos cotistas ao valor de suas cotas e a responsabilidade dos prestadores de serviço do fundo,[3] perante o condomínio (o fundo) e entre si, ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade. Apesar de não gerar efeito imediato, por carecer de regulamentação pela CVM, esse dispositivo estabelece os fundamentos legais para que o regulador atualize as normas em vigor em linha com os modelos regulatórios mais avançados.
No ordenamento jurídico brasileiro, os fundos de investimento sempre tiveram natureza condominial, conforme referido originalmente no artigo 49, II da Lei nº 4.728/65 e nas normas legais e infralegais subsequentes, como a IN CVM nº 555/14,[4] relativa a fundos de investimento em geral, a Lei nº 8.668/93[5] e a IN CVM nº 472/08,[6] ambas aplicáveis aos fundos de investimento imobiliário (FIIs), e a IN CVM nº 578/16,[7] referente aos fundos de investimento em participações.
Quanto à responsabilidade dos cotistas do fundo de investimento, a lei civil estabelece que o condômino é obrigado, na proporção de seu quinhão, salvo se estipulada a solidariedade entre eles, a suportar os ônus e dívidas a que a coisa em condomínio estiver sujeita (artigos 1.315 e 1.317 do Código Civil). Em obediência a esses limites legais, a regulamentação da CVM aplicável aos fundos de investimento de maneira geral determina que os cotistas respondam por eventual patrimônio líquido negativo do fundo (artigo 15 da IN CVM nº 555/14). Já os cotistas dos fundos de investimento imobiliário fogem à regra, amparados por previsão legal expressa que limita sua responsabilidade à integralização das quotas subscritas (artigo 13, II da Lei nº 8.668/93), o que, por sua vez, foi reproduzido pela CVM na respectiva regulamentação dos FIIs (artigo 8º, II da IN CVM nº 472/08).
Portanto, a Lei da Liberdade Econômica estabeleceu os alicerces legais para que a CVM regule os fundos de investimento com maior liberdade, ao alterar o Código Civil (i) afirmando a natureza condominial dos fundos de investimento, porém excluindo expressamente a aplicabilidade das regras gerais de condomínio (novo artigo 1368-C) e (ii) franqueando ao regulamento do fundo dispor sobre a limitação da responsabilidade dos cotistas e dos seus prestadores de serviço, desde que observada a regulamentação da CVM (novo artigo 1368-D).
É razoável esperar que o regulador considere nas novas regras critérios como o tipo de fundo de investimento, os ativos e investimentos integrantes da carteira do fundo e o público investidor a que se destina, isto é, o perfil dos investidores e o grau de exposição a riscos que estão dispostos a assumir, ou deveriam assumir. De todo modo, especial atenção deverá ser dedicada aos fundos de investimento em participações (FIPs), seja pelo papel que desempenham na atividade empresarial, seja pela diversidade de investimentos que podem abranger.
No que se refere à atividade empresarial, os FIPs têm por essência o investimento em companhias abertas, fechadas ou sociedades limitadas, devendo exercer influência na estratégia e gestão das sociedades por ele investidas. Nesse aspecto, os FIPs se diferenciam de outros fundos, que podem deter participações societárias passivas em companhias listadas para fins meramente especulativos. Logo, os FIPs encarnam a vertente mais empreendedora da indústria de fundos de investimento, e, como tal, esses veículos de investimento, seus gestores, administradores e investidores devem ser tratados, a fim de assegurar a competitividade em suas atividades empresariais. Traçando um paralelo com uma sociedade holding de investimentos, cujos sócios têm responsabilidade limitada ao valor do capital subscrito na holding, salvo nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, não se justifica que os cotistas de um FIP estejam obrigados a cobrir ilimitadamente o patrimônio líquido negativo do fundo.
Quanto às diversas facetas que um FIP pode adotar, a IN CVM nº 578/16 estabelece diferentes categorias, como FIP-Capital Semente, Infraestrutura entre outras e, especialmente, o FIP-Multiestratégia, destinado ao FIP que não se classifica nas demais categorias. É plenamente possível que um FIP invista em sociedades de propósito específico destinadas exclusivamente ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, o que torna o seu portfólio potencialmente idêntico ao de um FII. Portanto, vale refletir se não caberia permitir a esse FIP um regime de responsabilidade dos cotistas semelhante ao aplicável aos FIIs. Seria o caso de, nessas hipóteses, a regulamentação privilegiar a essência do investimento à sua forma e atribuir aos cotistas do FIP o mesmo grau de responsabilidade dedicado aos cotistas do FII?
Especificamente em relação à possibilidade de segregar a responsabilidade dos prestadores de serviços fiduciários, eliminando a responsabilidade solidária entre eles, tal dispositivo busca solucionar um entrave cada vez mais frequente nas relações entre os agentes do setor. Com o passar dos anos, a indústria de fundos vem se sofisticando, com reflexos na forma mais segregada e especializada de atuação dos agentes. Nesse sentido, a responsabilidade solidária entre os prestadores de serviços dos fundos tem servido como desincentivo para que os agentes mais capacitados e competentes desempenhem essas funções, gerando um nivelamento negativo.
Com a Lei da Liberdade Econômica, as bases da mudança foram lançadas, e caberá ao regulador analisar e, em conjunto com os demais agentes do mercado, refletir sobre quais caminhos a regulação deverá seguir. Independentemente do rumo escolhido, é indiscutível que não se pode postergar ou desperdiçar a oportunidade de aprimorar regras ultrapassadas e aspectos tão relevantes para a indústria de fundos de investimento, promovendo a atividade econômica e incentivando o desenvolvimento do nosso mercado de capitais.
[1] Proveniente da Medida Provisória nº 881/19.
[2] Novos artigos 1368-C a 1368-F da Lei nº 10.406/02 (Código Civil).
[3] Entendem-se como prestadores de serviços fiduciários os administradores, gestores e custodiantes.
[4] Art. 3º O fundo de investimento é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio, destinado à aplicação em ativos financeiros.
[5] Art. 1º Ficam instituídos Fundos de Investimento Imobiliário, sem personalidade jurídica, caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, na forma da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, destinados a aplicação em empreendimentos imobiliários.
Art. 2º O Fundo será constituído sob a forma de condomínio fechado, proibido o resgate de quotas, com prazo de duração determinado ou indeterminado.
[6] Art. 2º O FII é uma comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários e destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários.
§ 1º O fundo será constituído sob a forma de condomínio fechado e poderá ter prazo de duração indeterminado.
[7] Art. 5º O FIP, constituído sob a forma de condomínio fechado, é uma comunhão de recursos destinada à aquisição de ações, bônus de subscrição, debêntures simples, outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, abertas ou fechadas, bem como títulos e valores mobiliários representativos de participação em sociedades limitadas, que deve participar do processo decisório da sociedade investida, com efetiva influência na definição de sua política estratégica e na sua gestão.