Publicações

- Categoria: Concorrencial e antitruste
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) analisou cerca de 40 atos de concentração envolvendo contratos associativos desde que a Resolução nº 17/2016 entrou em vigor, em 25 de novembro de 2016. Esses casos se referem a acordos entre empresas das mais diversas indústrias (como alimentos e bebidas, cimento, farmacêutica, transporte marítimo e telecomunicações) e com diferentes objetos (distribuição, fornecimento, exploração de infraestrutura, parceria comercial, codesenvolvimento e comercialização conjunta, entre outros). Apesar desses precedentes, na prática o tema ainda suscita muitas dúvidas.
Nos termos da resolução, devem ser considerados associativos contratos com duração igual ou superior a dois anos que estabeleçam empreendimento comum para exploração de atividade econômica, desde que o contrato estabeleça o compartilhamento dos riscos e resultados da atividade econômica que constitua seu objeto e, cumulativamente, as partes contratantes sejam concorrentes no mercado relevante objeto do contrato. Tais contratos devem ser notificados e aprovados previamente pelo Cade quando pelo menos um dos grupos econômicos das partes envolvidas tenha registrado faturamento bruto no Brasil igual ou superior a R$ 750 milhões, no ano anterior à operação, e outro grupo econômico envolvido tenha tido faturamento de, no mínimo, R$ 75 milhões.
O Cade tratou dos requisitos de empreendimento comum e compartilhamento dos riscos e resultados – que envolvem alto grau de subjetividade – em diversos atos de concentração apreciados até o momento.
Quanto ao primeiro requisito, o órgão entendeu que a configuração de empreendimento comum depende do grau e da forma como a cooperação é exercida entre empresas. Sob esse enfoque, o Cade considerou haver empreendimento comum, por exemplo, em contratos que estabeleciam coordenação das partes para comercialização de um produto em específico; influência de uma parte sobre as decisões comerciais de outra; coordenação sobre aspectos relevantes relacionados à oferta de produtos/serviços como qualidade, preços e outras condições comerciais envolvidas no negócio; interdependência na prestação de serviços; e alguns tipos de estruturas de governança para discutir assuntos relevantes e regulamentar as tomadas conjuntas de decisão. Além disso, o Cade ressaltou em alguns precedentes que o conceito de empreendimento comum está diretamente ligado à ideia de exploração de atividade econômica, uma vez que o contrato de empreendimento comum deve versar especificamente sobre aquisição ou oferta de bens ou serviços no mercado.
Com relação ao compartilhamento de riscos e resultados, a jurisprudência indica que esse requisito vai além da mera repartição de lucros ou de custos. O Cade já sinalizou que o mero compartilhamento de custos não é suficiente para configurá-lo. Compartilhamento de riscos e resultados não se confunde com a mera verificação de receitas, faturamentos e prejuízos do ponto de vista contábil. Tal situação restará caracterizada quando for possível identificar a participação de uma parte no resultado obtido pela outra, como no pagamento por desempenho ou com base na receita decorrente das vendas da parte que receberá os produtos fornecidos. O compartilhamento pode estar implícito no objeto do contrato, por exemplo, quando duas empresas se coordenam para expandir seus serviços, compartilhar capacidade ou minimizar custos, e acabam por diluir os riscos associados ao negócio.
O Cade entendeu ainda, em alguns casos, que o requisito aparentemente mais objetivo previsto na resolução – a relação de concorrência entre as partes no mercado relevante objeto do contrato – seria satisfeito mesmo na hipótese de concorrência potencial entre as partes. Tal posição foi adotada em pelo menos dois precedentes envolvendo o mercado de medicamentos em que os produtos objeto dos contratos ainda não eram comercializados no país ou ainda estavam em fase de desenvolvimento (pipeline), mas foram, conservadoramente, considerados concorrentes potenciais dos produtos já comercializados pela outra parte no Brasil.
O posicionamento do Cade nesse conjunto de casos estabelece algumas diretrizes que ajudam, em alguma medida, a avaliar a necessidade de notificar contratos associativos em situações concretas. No entanto, essa tarefa está longe de ser trivial, já que o entendimento do órgão está estreitamente ligado ao teor de determinadas cláusulas contratuais, que geralmente são tratadas como confidenciais. Isso impossibilita a compreensão integral das bases usadas pela autoridade antitruste para fundamentar suas decisões. Além disso, as relações contratuais entre agentes econômicos têm conteúdo cada vez mais diversificado e inovador, fato que torna ainda mais complexa a avaliação de necessidade de submetê-las ao crivo do Cade.
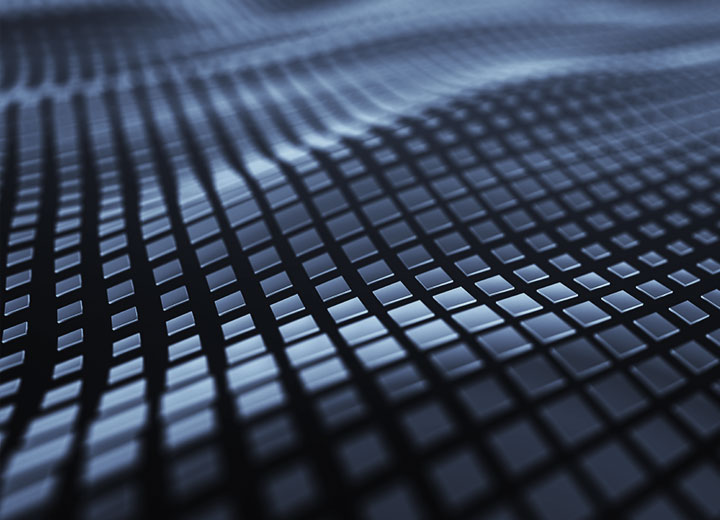
- Categoria: Tributário
A Medida Provisória nº 899/19, já conhecida como MP do Contribuinte Legal, foi publicada em 17 de outubro deste ano com o objetivo de reduzir o contencioso tributário e reaver créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Para isso, a MP prevê a possibilidade de realizar uma transação para pôr fim a litígios administrativos ou judiciais na esfera federal.
A possibilidade de transação entre poder público e contribuintes em matéria tributária é admitida desde 1966 pelo artigo 171 do Código Tributário Nacional (CTN),[1] que exige, contudo, previsão legal específica do ente competente.
As hipóteses e modalidades de transação que passam a ser admitidas, e suas peculiaridades, são analisadas a seguir. As condições ainda estão sujeitas à regulamentação e à disciplina a ser estabelecida, conforme o caso, pelas autoridades indicadas na MP.
- Transação em relação à dívida ativa da União
Pressupõe a existência de crédito já inscrito em dívida ativa, de natureza tributária ou não. Pode ser proposta pela procuradoria competente – em caráter individual ou por adesão – ou pelo devedor.
A transação poderá versar sobre: (i) concessão de descontos para créditos classificados pela autoridade fazendária como irrecuperáveis ou de difícil recuperação; (ii) prazo ou forma de pagamento, inclusive diferimento e moratória; e (iii) oferecimento, substituição ou alienação de garantias ou de constrições.
Essa hipótese de transação só permite, portanto, proposta de redução de valores para dívidas consideradas irrecuperáveis ou de difícil recuperação, conforme critérios que serão disciplinados em ato do procurador-geral da Fazenda Nacional (PGFN), e desde que inexistam indícios de esvaziamento patrimonial fraudulento.
O valor total da dívida poderá ser reduzido em até 50%, com possibilidade de pagamento em até 84 meses, para as empresas em geral. Para pessoas naturais, empresas de pequeno porte e microempresas a redução pode chegar a 70%, com prazo de pagamento de até 100 meses.
A MP veda redução no valor do principal, transações sobre multas aplicadas por fraude, sonegação, conluio ou qualquer multa de natureza penal, além de transações sobre débitos relativos ao Simples Nacional ou FGTS.
A transação individual deverá ser assinada pelo PGFN ou autoridade por ele delegada.
- Transação por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica
A transação por adesão é aquela proposta pelo poder público e sujeita à aceitação dos contribuintes que satisfizerem as condições e requisitos para tanto. Será realizada exclusivamente por adesão a ser formalizada eletronicamente, conforme proposta a ser feita pelo ministro da Economia para encerrar litígios tributários ou aduaneiros. A transação deverá versar sempre sobre litígios considerados relevantes e cuja tese jurídica em discussão envolva número considerável de contribuintes. A existência de processo administrativo ou judicial em curso é, portanto, condição para celebrar a transação nessa hipótese.
A proposta de transação deverá ser divulgada na imprensa oficial e no site dos respectivos órgãos na Internet, com edital especificando condições e requisitos, inclusive as reduções ou concessões oferecidas, prazos e formas de pagamento. É vedada a transação sobre dívidas relativas ao Simples Nacional ou ao FGTS, e o prazo máximo para quitação não poderá ser superior a 84 meses.
- Demais disposições e pontos de atenção
Em qualquer das hipóteses de transação, deve prevalecer a boa-fé do poder público e do contribuinte. Por isso, é vedada a transação em caso de dolo, fraude, simulação, prevaricação, concussão ou corrupção passiva e esvaziamento patrimonial fraudulento, entre outros.
Ao celebrar a transação para pôr fim ao litígio tributário, o devedor deve renunciar a todas as alegações de direito que fundamentam os processos judiciais ou administrativos.
Especificamente no caso de processos judiciais, a renúncia deve envolver também ações coletivas, e o devedor deve requerer ao juiz a extinção do processo com resolução do mérito, por homologação de renúncia à pretensão formulada.
Há aqui um ponto de atenção, que se espera seja corrigido na regulamentação da norma: a MP trata de autêntica hipótese de transação, com referência expressa ao artigo 171 do CTN. A transação é um mecanismo de autocomposição por meio do qual as partes promovem concessões mútuas com o objetivo de encerrar o litígio.[2] Sendo assim, o mais adequado seria que o requerimento formulado ao juízo tivesse por finalidade encerrar o processo com resolução do mérito para homologação da transação. A própria MP faz referência à homologação judicial do acordo para fins de formação de título executivo judicial.
Longe de qualquer preciosismo, o esclarecimento é necessário para evitar controvérsias paralelas entre poder público e contribuinte, já que o tratamento dado à responsabilidade por custas e honorários advocatícios é distinto em cada caso: tratando-se de renúncia pura e simples, as despesas processuais e honorários serão pagos por quem renunciou. Tratando-se de típica transação, com concessões mútuas de parte a parte para encerramento do litígio (redução da dívida com o encerramento do processo), não se pode cogitar a condenação em ônus de sucumbência.
Outro aspecto obscuro diz respeito ao tratamento da dívida tributária ainda não inscrita, mas cujo processo administrativo já tenha se encerrado. Aparentemente, pela disciplina da MP, essa dívida não seria passível de transação. O mesmo parece ocorrer em relação à obrigação tributária impugnada judicialmente pelo sujeito passivo em medida preventiva (mandado de segurança ou ação declaratória, por exemplo), mas cujo crédito tributário ainda não tenha sido constituído.
Não parece haver razoabilidade na exclusão dessas situações do campo transacional. Nem se poderia dizer que faltaria interesse à União em celebrar transação com o particular nessa hipótese por ausência de processo a ser encerrado, no primeiro caso, e de crédito constituído, no segundo.
A objeção não se sustenta porque a litigiosidade não termina pelo simples fato de a esfera judicial ainda não ter sido instaurada. Da mesma forma, ela existe quando se discute judicialmente a obrigação tributária não constituída. Se, ao fim e ao cabo, o objetivo buscado é reduzir a litigiosidade, tão importante quanto encerrar processos em curso é evitar sua instauração. E é irrelevante também, para tal finalidade, que os créditos estejam constituídos ou não.
Ainda na hipótese de transação por adesão, merece especial atenção, no que tange ao contencioso tributário de disseminada e relevante controvérsia jurídica, a necessidade de renúncia de direito em todos os processos que envolvam a mesma tese. Em princípio, não seria possível selecionar casos específicos.
Expostas as linhas mestras da MP, a disciplina que venha a ser estabelecida pelas autoridades competentes – conforme o caso, ministro de Estado da Economia, advogado-geral da União, procurador-geral da Fazenda Nacional e secretário especial da Receita Federal do Brasil – moldará o sucesso ou fracasso dos objetivos visados.
[1] Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário.
Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso.
[2] A única hipótese contemplada na MP que não representa típica hipótese de transação é a possibilidade de acordo sobre o oferecimento, substituição ou alienação de garantias e constrições, que constitui espécie de negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil.

- Categoria: Infraestrutura e Energia
A geração distribuída (GD) permite que o consumidor gere a sua própria energia elétrica por meio de fontes renováveis ou cogeração qualificada e, quando possível, forneça o excedente para a rede de distribuição da sua própria localidade. O sistema tem duas modalidades: a microgeração distribuída (com potência instalada menor ou igual a 75 kW) e a minigeração distribuída (com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW) de energia elétrica. Com a possibilidade de nova regulamentação para GD, as inovações esperadas poderão aliar economia financeira, consciência socioambiental e autossustentabilidade.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) regulamenta a geração de energia elétrica na modalidade GD por meio da Resolução Normativa n° 482/2012 (REN 482/2012). Em 2015, a REN 482/2012 foi revisada com o propósito de aumentar a potência limite de 1 MW para 5 MW e criar as modalidades de empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada. Desde então, a Aneel já demonstrava interesse em modificar, até o fim deste ano, os termos e as condições que regulam a GD. No último dia 15 de outubro, a agência anunciou a abertura da Consulta Pública nº 25/2019, a fim de receber contribuições à proposta de revisão da REN 482/2012 e abrir discussão com os agentes do setor sobre as regras a serem aplicáveis à micro e minigeração distribuída. Além disso, a Aneel também pretende abrir audiência pública (sessão presencial) para discutir o tema em sua sede em Brasília, com data prevista para o próximo dia 7 de novembro.
Conforme as informações públicas disponibilizadas pela agência, a maior parte (75%) da geração de energia elétrica em sede de GD é local, ou seja, em sistemas instalados em uma única residência, condomínio, comércio ou indústria. Os outros 25% estão alocados na GD remota, isto é, em duas ou mais unidades em locais distintos, pertencentes ao mesmo titular. Nessa última modalidade, destacam-se grandes consumidores que buscam redução de despesas e consciência socioambiental.
O ponto crucial da revisão da REN 482/2012 é o Sistema de Compensação de Energia em GD. Pela regra atual, o abatimento da energia injetada leva em conta não somente a Tarifa de Energia (TE), como também as componentes tarifárias TUSD Fio A e Fio B. Assim, as compensações a empreendimentos de GD que injetam energia no sistema incluem tarifas sobre o fio, e os custos de uso da rede são atualmente rateados pelos demais consumidores que não consomem a energia gerada em sede de GD. Embora os empreendimentos em sede de GD gerem sua própria energia elétrica, a rede de distribuição continua a ser utilizada por eles mesmo assim, ocasionando uma compensação tarifária indevida e onerando todos os outros consumidores que terão de ratear os custos de uso da rede.
Por esse motivo, após discussão pública, chegou-se à seguinte proposta: para a GD local, consumidores existentes e aqueles que protocolarem solicitação de acesso antes da publicação da norma continuam com as regras de compensação atualmente vigentes até o fim de 2030. A partir do ano seguinte, vigorará a compensação somente da componente de energia da TE. Consumidores que protocolarem solicitação de acesso após a publicação da norma não compensarão as componentes tarifárias TUSD Fio B e Fio A, mas somente a componente tarifária da TE quando atingida a potência instalada adicional de 4,7 GW (artigo 7-D da minuta com alterações à REN 482/2012).
Para a GD Remota, os consumidores existentes e os que protocolarem solicitação de acesso completa antes da publicação da norma também continuam submetidos às regras de compensação atualmente vigentes até o fim de 2030. Depois disso, vigora a compensação somente da componente tarifária da TE. Consumidores que protocolarem solicitação de acesso após a publicação da norma compensarão somente a componente tarifária TE Energia (artigo 7-D da minuta com alterações à REN 482/2012).
Quanto à minigeração distribuída, entendeu-se que o minigerador, ao fazer uso da rede para consumir e injetar energia através do mesmo ponto de conexão, deve celebrar Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), com inclusão dos valores de MUSD (Montante de Uso do Sistema de Distribuição) contratados para cada posto tarifário e referentes à unidade consumidora, conforme opção da modalidade tarifária e o valor de MUSD contratado referente à central geradora (art. 4º, §4º-B, da minuta com alterações à REN 482/2012).
Embora a medida não signifique o enquadramento regulatório da minigeração como unidade geradora, o resultado será a aplicação da tarifa de geração (TUSDg) ao respectivo MUSD de geração contratado. Nesse ponto é importante destacar que, apesar da aplicação da TUSDg, o consumidor com minigeração continua não fazendo jus aos descontos de fonte incentivadas, previstos na Lei n° 9.427/96.
Pela nova regulamentação, portanto, mesmo compensando toda a energia consumida (por meio da energia injetada ou de créditos de meses passados), o consumidor ainda terá de pagar pelas outras componentes da tarifa, o que, na grande maioria dos casos, pode superar o valor mínimo a ser faturado na unidade consumidora. Desse modo, a minuta com as alterações à REN 482/2012 sugere que a compensação seja limitada à integralidade do consumo no ciclo de faturamento (Artigo 7º-C da minuta com alterações à REN 482/2012).
A ANEEL tem afirmado que os estudos por ela realizados indicariam que, mesmo com a implementação das alterações na REN 482/2012, o retorno do investimento em GD continuaria bastante atrativo, com payback estimado entre quatro e cinco anos. Porém, os agentes do setor não parecem ter a mesma percepção. A expectativa é que as contribuições a serem feitas na Consulta Pública nº 25/2019 sejam levadas em consideração para que as possíveis alterações na minuta da resolução tornem os investimentos em GD atrativos para o mercado.

- Categoria: Contencioso
Quando os proprietários de imóveis decidem ajuizar uma ação de despejo em face dos locatários, em geral já foram esgotados todos os meios de reaver o bem de forma consensual. Isso indica a urgência que os locadores têm em obter decisão judicial em caráter liminar determinando que o imóvel seja devolvido.
Contudo, essa prestação jurisdicional pode, por vezes, demorar mais do que o esperado, frustrando as expectativas do proprietário do imóvel e expondo-o, eventualmente, a prejuízos irreparáveis, sobretudo nos casos em que o contrato de locação não conta com uma das garantias (caução, fiança, seguro-fiança, por exemplo) previstas no artigo 37 da Lei de Locações (Lei nº 8.245/91).
Atenta a essa situação, a Lei de Locações, alterada principalmente pelas leis 12.112/09 e 12.744/12, passou a permitir que os proprietários de imóveis possam obter liminares para desocupação dos imóveis em 15 dias, independentemente da manifestação do locatário no processo e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Tal prerrogativa se aplica às ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação, em contratos de locação desprovidos de quaisquer garantias, nos termos do artigo 59, inciso IX, da Lei de Locações.
Apesar de, em um primeiro momento, a jurisprudência não ter firmado uma posição incisiva quanto à aplicabilidade de tal disposição legal, o Poder Judiciário pareceu ter entendido o espírito da inovação pretendida pela Lei de Locações, tendo em visa a notória evolução do tema ao longo do tempo.
Ao analisar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), por exemplo, verifica-se que muitas decisões judiciais usam esse dispositivo legal como fundamento para conceder a liminar pleiteada pelo locador e determinar a desocupação do imóvel pelo locatário em 15 dias.[1] O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) vem seguindo o mesmo entendimento.[2]
Em apenas um dos diversos julgados sobre o assunto nos últimos anos, o TJ-SP reconheceu estarem presentes os requisitos previstos no artigo 59, inciso IX, da Lei de Locações, mas manteve a decisão de primeira instância que havia indeferido a liminar de despejo em 15 dias, argumentando que “diante da situação concreta, a concessão da liminar de despejo resultaria prematura, sem a viabilização da oitiva/defesa da parte contrária” (Agravo de Instrumento nº 2078843-81.2019.8.26.0000, 32ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/04/2019).
Ou seja, a posição jurisprudencial dominante é no sentido de que, presentes os requisitos legais autorizadores, a liminar prevista no artigo 59, inciso IX, da Lei de Locações deve ser concedida e o imóvel deve ser desocupado pelo locatário em 15 dias. Em outras palavras, a jurisprudência foi evoluindo ao longo do tempo para refletir a alteração promovida na Lei de Locações e assegurar sua aplicação e a efetividade de suas disposições. Nesse aspecto, ela protege menos os locatários e é mais direcionada a atender aos direitos e interesses dos locadores prejudicados pelo inadimplemento dos aluguéis que não contam com a pactuação de garantias em seu favor.
Assim, é possível afirmar que o avanço da jurisprudência sobre a efetiva aplicação do disposto no artigo 59, inciso IX, da Lei de Locações é positivo para os locadores e gera maior oferta de imóveis para locação, com impacto nos preços médios de mercado. Indiretamente, portanto, beneficia também os locatários, uma vez que os proprietários de imóveis têm mais segurança em alugá-los para quem não tenha condições de oferecer uma garantia no momento da celebração do contrato de locação, ou em manter o negócio já celebrado caso a garantia venha a ser extinta no decorrer da vigência do contrato.
[1] TJ-SP: Agravo de Instrumento nº 2273636-54.2018.8.26.0000, 25° Câmara de Direito Privado, julgado em 28/05/2019; Agravo de Instrumento nº 2064553-61.2019.8.26.0000, 32ª Câmara de Direito Privado, julgado em 10/05/2019; Agravo de Instrumento nº 2053445-35.2019.8.26.0000, 31ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/07/2017 e Agravo de Instrumento nº 2267446-75.2018.8.26.0000, 32ª Câmara de Direito Privado, julgado em 11/04/2019.
[2] TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0026990-62.2019.8.19.0000, 22° Câmara Cível, julgado em 10/09/2019; Agravo de Instrumento nº 0051387-88.2019.8.19.0000, 6ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2019; Agravo de Instrumento nº 0067138-52.2018.8.19.0000, 15ª Câmara Cível, julgado em 21/05/2019 e Agravo de Instrumento nº 0023138-30.2019.8.19.0000, 19ª Câmara Cível, julgado em 06/08/2019.

- Categoria: Contencioso
Com a extinção de tantas companhias aéreas no país ao longo dos últimos 20 anos, é essencial fazer uma análise dos fatores que levariam essas empresas a falir, uma atrás da outra, sem conseguir se recuperar financeiramente para continuar operando no mercado.
A TransBrasil, em 2002, a Viação Aérea de São Paulo (Vasp), em 2008, e a Viação Aérea Rio Grandense (Varig), em 2010, são exemplos de grandes companhias áreas que tiveram sua falência decretada. Todas solicitaram o processamento de pedido de recuperação judicial, que acabou sendo depois convolado em falência. Em 2007, a BRA Transportes Aéreos também requereu o processamento de sua recuperação judicial e depois suspendeu definitivamente todos os seus voos e alienou suas aeronaves.
O caso mais atual desse tipo é o da Oceanair Linhas Aéreas, conhecida como Avianca Brasil, que requereu o processamento de pedido de recuperação judicial em dezembro de 2018 e, desde então, enfrenta graves dificuldades financeiras que deixam dúvidas sobre a sua efetiva capacidade de continuar operando no mercado. São aspectos preocupantes o expressivo número de funcionários demitidos, o alto endividamento, a retomada, pelos arrendadores, da maioria das aeronaves da empresa e a existência incerta de ativos, ainda mais depois da redistribuição de seus slots (reservas de horários de voos e decolagens em aeroportos) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
É inegável que o alto custo operacional é um fator relevante para as dificuldades que as companhias aéreas enfrentam. Para compor sua frota, por exemplo, elas precisam adquirir ou arrendar aeronaves que, além de caras, estão sujeitas à variação cambial e têm custo alto de manutenção. Como agravante, ainda sofrem com a alta competitividade no mercado de aviação civil, traduzida em guerra de preços de passagens aéreas.
Esses fatores, no entanto, não são os únicos por trás das dificuldades financeiras enfrentadas pelas companhias aéreas. Para entender mais profundamente o problema, é preciso analisar de perto as questões jurídicas envolvendo o assunto.
Quando o processamento da recuperação judicial de uma empresa é deferido, todas as ações e execuções existentes em face do devedor são suspensas pelo prazo de 180 dias (artigo 6º, §4º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência - LRF). Durante esse período, é proibido retirar do estabelecimento do devedor os “bens de capital essenciais a sua atividade empresarial” (artigo 49, §3º, da LRF).
Na recuperação judicial de companhias aéreas, no entanto, a LRF estabelece uma exceção relevante: as aeronaves que forem objeto de arrendamento poderão ser reintegradas a qualquer momento pelos arrendadores, que são os seus efetivos proprietários, na hipótese de inadimplemento da contraprestação devida pelo uso das aeronaves. Ou seja, os arrendadores não têm seus direitos suspensos (artigo 199, §1º, da LRF), ainda que as aeronaves sejam notoriamente os bens mais essenciais às atividades das companhias aéreas.
Embora pareça contraditório, não existe qualquer antinomia ou conflito entre as normas. Na verdade, a LRF estabeleceu uma hipótese específica e peculiar em que a intenção do legislador foi afastar as companhias aéreas absolutamente inviáveis do instituto da recuperação judicial – aquelas que, além de não dispor de mínimas condições para adquirir aeronaves próprias para compor sua frota, nem sequer têm capacidade financeira para manter em dia os pagamentos devidos a título de contraprestação pelo arrendamento de aeronaves.
Tal discussão surgiu este ano no âmbito da recuperação judicial da Avianca Brasil. O juiz de primeira instância optou por mitigar a exceção expressamente prevista no artigo 199 da LRF, que confere ao arrendador o direito de retomada imediata das aeronaves na hipótese de inadimplemento do contrato de arrendamento, em razão do princípio da preservação da empresa e da função social dos contratos. Após vários meses de suspensão dos direitos dos arrendadores, porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) restabeleceu a aplicação da exceção prevista na LRF, permitindo a imediata reintegração de posse das aeronaves, independentemente do impacto que tal medida traria à Avianca Brasil. A decisão se baseou na premissa de que, se empresa não possui recursos para continuar cumprindo regularmente os contratos de arrendamento, a manutenção de suas atividades comerciais já não seria mais viável.
No caso em questão, além de não poderem reintegrar suas aeronaves por diversos meses, os arrendadores tiveram que permitir o uso de seus ativos pela Avianca Brasil sem qualquer contraprestação.
A situação preocupou os arrendadores e o mercado internacional de aviação, pois disseminou o receio de que, no Brasil, as companhias aéreas poderiam se valer do instituto da recuperação judicial como meio de transferir os riscos de suas atividades comerciais aos arrendadores de aeronaves. Isso encareceria os custos e encargos decorrentes dos contratos de arrendamento no Brasil e traria consequências negativas para as demais companhias aéreas brasileiras e para os consumidores, aos quais parte desses custos é repassada.
O caso da Avianca Brasil teve repercussão ainda na comunidade jurídica internacional, por representar também a violação da Convenção da Cidade do Cabo pelo Brasil. Ao formalizar sua adesão a esse tratado, o país promulgou o Decreto nº 8.008/13, nos termos do qual optou pela “Alternativa A” prevista na convenção. Segundo essa alternativa (artigo XI(2) do tratado), em um cenário de insolvência, a companhia aérea é obrigada a devolver as aeronaves objeto de contratos de arrendamento inadimplidos no prazo máximo de 30 dias. Como o caso da Avianca Brasil representou a primeira recuperação judicial de companhia aérea após a adesão do Brasil à Convenção da Cidade do Cabo, a repercussão foi negativa, e o Poder Judiciário brasileiro foi visto como descumpridor de tratados internacionais.
Após a devolução das aeronaves aos arrendadores e a redistribuição dos slots da Avianca Brasil pela Anac, as dificuldades financeiras da empresa se agravaram. Com a suspensão das atividades comerciais e a inexistência de bens relevantes que pudessem assegurar a continuidade das operações, o TJ-SP cogitou então convocar a recuperação judicial em falência, ainda que o plano de recuperação judicial tivesse sido aprovado pelos credores. Contudo, por maioria de votos, o TJ-SP entendeu que a convolação, de ofício, da recuperação judicial em falência era impossível, tendo em vista a ausência de requerimento expresso nesse sentido por parte dos arrendadores, que haviam apenas impugnado a legalidade do plano de recuperação judicial apresentado pela Avianca Brasil (Agravo de instrumento nº 2095938-27.2019.8.26.0000 interposto por Swissport Brasil Ltda. e Agravo de instrumento nº 2098259-35.2019.8.26.0000 interposto por Petrobras Distribuidora S/A).
O caso reforça a ideia de que, uma vez determinada a devolução das aeronaves para os arrendadores, dificilmente as companhias aéreas conseguem se reerguer. As alternativas disponíveis são apenas a convolação da recuperação judicial em falência ou o encerramento das atividades comerciais. Isso se deve, sobretudo, ao fato de que as companhias aéreas têm requerido tardiamente o processamento de recuperação judicial, somente quando já estão em situação financeira dramática e insustentável, na qual não há mais possibilidade de retomada das atividades comerciais e a insolvência é irreversível, em razão do alto grau de endividamento.

- Categoria: Direito público e regulatório
{youtube}https://youtu.be/PDjC62oMJCM{/youtube}