Publicações

- Categoria: Trabalhista
A necessidade de controle de jornada dos trabalhadores no Brasil é determinada pelo artigo 74, §2º, da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), segundo o qual a adoção do registro de entrada e saída, também conhecido como cartão de ponto, é obrigatória nos estabelecimentos com mais de dez empregados. O controle de jornada pode ser manual, mecânico ou eletrônico, conforme dispõem a CLT e instruções do Ministério do Trabalho.
Com a evolução da tecnologia, que alterou diferentes aspectos das relações pessoais e de trabalho, esse controle se tornou um procedimento muito mais simples, moderno e eficaz, com métodos de marcação de ponto por biometria, ponto eletrônico e até por aplicativos de celular. Mesmo assim, muito ainda se discute sobre a necessidade de obter a assinatura do funcionário nos cartões de ponto para validar o controle de jornada. Há vários fatores a serem considerados em relação a esse tema.
É inquestionável que não há no ordenamento jurídico brasileiro a obrigatoriedade de assinatura dos cartões de ponto, independentemente do sistema de controle de jornada utilizado pelo empregador. É possível afirmar que, nos termos do artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal (“Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”), a assinatura do empregado estaria dispensada para validar os cartões de ponto por ausência de previsão legal no artigo 74, §2º, da CLT.
Nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) tem entendido majoritariamente que a mera ausência de assinatura nos cartões de ponto não invalida os documentos como meio de prova. Esse entendimento é compartilhado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região – São Paulo, que até mesmo editou súmula regional nesse sentido, atribuindo ao empregado o ônus de desconstituir os cartões de ponto, mesmo sem assinatura, como meio de prova.
Contudo, ainda há decisões de tribunais brasileiros em sentindo contrário, comumente do TRT da 1ª Região – Rio de Janeiro, que se fundamentam em conjecturas sobre a não conferência do controle de jornada eletrônico pelo empregado. É certo, portanto, que a matéria não está pacificada entre os tribunais brasileiros.
É importante destacar que a apresentação dos controles de jornada é ônus do empregador, conforme estabelece a Súmula 338 do TST. Mas, uma vez apresentados os cartões de ponto ao Poder Judiciário, é ônus do empregado desconstituir esses documentos como meio de prova.
Para se proteger contra possíveis alegações de fraude nos cartões de ponto, o empregador deve utilizar o Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP), previsto na Portaria nº 1.510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego. Pode também usar os meios de registro de jornada autorizados em convenção coletiva de trabalho, conforme foi aprovado na Reforma Trabalhista.
Nesse contexto, é possível afirmar que a assinatura dos cartões de ponto tem caído em desuso, graças aos modernos meios de marcação de ponto hoje aceitos, e pode ser dispensada para validar os controles de jornada, situação que vem sendo majoritariamente acolhida pelos tribunais brasileiros.

- Categoria: Trabalhista
Muito se tem discutido se, com a Reforma Trabalhista, os bônus anuais pagos por empresas teriam deixado de integrar a remuneração de seus empregados para fins do cômputo de encargos trabalhistas e previdenciários. Isso se deve a alterações realizadas no artigo 457 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e no artigo 28 da Lei nº 8.212/1991, que dispõem sobre remuneração.
Atualmente, pode-se depreender do atual artigo 457 da CLT que a remuneração de empregados para fins trabalhistas é composta não só pelo salário mensal fixo, mas também pelas gratificações ajustadas pagas em contraprestação aos serviços prestados. De acordo com a jurisprudência, o conceito de gratificação ajustada compreende os valores contratualmente acordados e aqueles pagos habitualmente, como, por exemplo, os bônus anuais. Em paralelo, o atual artigo 28 da Lei nº 8.212/1991 estabelece que a remuneração de empregados para fins previdenciários é composta pela totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, destinados a retribuir o trabalho, quer pelos serviços prestados, quer pelo tempo à disposição.Com base na interpretação sistemática desses artigos, tanto a Justiça do Trabalho, na esfera trabalhista, quanto o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) e a Justiça Federal, no âmbito previdenciário, consolidaram o entendimento de que os bônus anuais compõem a remuneração de empregados e, portanto, devem integrar a base de cálculo de encargos trabalhistas e previdenciários. De acordo com o atual entendimento jurisprudencial e doutrinário, somente os bônus pagos em parcela única, de forma não habitual e que não tenham sido contratualmente ajustados não integrariam a remuneração, por não serem gratificações ajustadas, mas sim ganhos meramente eventuais.
A Reforma Trabalhista, entretanto, não só eliminou do texto legal o termo “gratificação ajustada”, como também estabeleceu que não integram a remuneração para fins trabalhistas e previdenciários as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de prêmios, assim entendidos como “as liberalidades concedidas pelo empregador em forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades”.
Em razão dessa alteração promovida pela Reforma Trabalhista, valores pagos pelo empregador, por mera liberalidade, de forma espontânea e inesperada, “em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado”, não integrariam a remuneração para fins trabalhistas e previdenciários.
Diante disso, muito se tem questionado se a abrangência do novo conceito de “prêmio” implementado pela Reforma Trabalhista também compreenderia os bônus anuais pagos pelas empresas e se tais pagamentos teriam deixado de integrar a remuneração dos empregados para fins do cômputo de encargos trabalhistas e previdenciários.
Esse debate decorre da falta de clareza na definição do termo “liberalidade” e da expressão “em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado”. O que seria uma liberalidade concedida pelo empregador? Qual seria o desempenho superior ao ordinariamente esperado que autorizaria o pagamento de valores a título de prêmio?
Com relação ao conceito de liberalidade, há duas interpretações possíveis.
A primeira interpretação é que liberalidade seria tudo o que é concedido pela empresa, mas não exigido pela legislação aplicável. Nesse caso, seria possível defender que o novo conceito de prêmio abrangeria toda e qualquer forma de remuneração variável, ainda que contratualmente acordada, pois, na maioria absoluta dos casos, a empresa não é obrigada a pagar remuneração variável além do salário fixo a seus empregados.
Uma segunda interpretação é que liberalidade seria tudo o que é concedido pela empresa, mas não exigido pela legislação aplicável, e que também não tenha sido contratualmente acordado. Nesse caso, o novo conceito de prêmio teria a sua abrangência limitada apenas aos pagamentos feitos a empregados a exclusivo critério da empresa, de forma espontânea e inesperada. Sendo assim, o prêmio pago por mera liberalidade não poderia ser equiparado ao prêmio ajustado contratualmente (em contratos, políticas, ofertas de trabalho etc.), na medida em que, uma vez contratualmente ajustado, o seu pagamento deixaria de ser mera liberalidade e passaria a ser uma obrigação contratual assumida pela empresa para com os empregados. Ou seja, a imprevisibilidade do pagamento constituiria um elemento a ser avaliado para enquadrar o pagamento no conceito de prêmio previsto pela Reforma Trabalhista.
Nesse contexto, o prêmio pago por mera liberalidade se aproximaria do atual conceito de gratificação eventual e não ajustada, que, mesmo antes da Reforma Trabalhista, já não integrava a remuneração para fins trabalhistas e previdenciários. Por sua vez, o prêmio contratualmente acordado se aproximaria do atual conceito de gratificação ajustada, que, de acordo com a jurisprudência consolidada da Justiça do Trabalho, integra a remuneração. Sendo assim, a Reforma Trabalharia inovaria apenas para esclarecer que os prêmios pagos por mera liberalidade, ainda que habituais, não passariam a integrar o salário, em sentido contrário ao atual entendimento jurisprudencial segundo o qual a habitualidade implica ajuste tácito.
Da mesma forma, há duas interpretações possíveis para a expressão “desempenho superior ao ordinariamente esperado”. A primeira é que o salário fixo remuneraria o desempenho ordinariamente esperado, e a remuneração variável retribuiria o desempenho superior ao ordinariamente esperado. A segunda é que somente a parcela da remuneração variável devida pela superação das metas remuneraria o desempenho superior ao ordinário.
Diante disso, considerando a tendência jurisprudencial observada nos últimos anos, nos parece que são altas as chances de prevalecer na esfera administrativa e judicial o entendimento de que somente será considerado prêmio o pagamento que não tenha sido previamente acordado, ainda que este remunere o empregado pela superação de metas previamente estabelecidas.
Em todo caso, seria possível sustentar que a qualificação de um pagamento como prêmio deveria ser feita levando-se em consideração as características de cada caso para determinar se o pagamento estaria ou não remunerando o desempenho superior ao ordinariamente esperado.
Tendo isso em vista, pelo menos neste estágio inicial das discussões sobre os impactos da Reforma Trabalhista, nos parece que os bônus anuais contratualmente acordados tendem a continuar sendo considerados parte da remuneração dos empregados e, portanto, da base de cálculo de encargos trabalhistas e previdenciários.
- Categoria: Trabalhista
A entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista) traz à tona um debate já bastante difundido nos EUA, mas muito pouco abordado aqui no Brasil: a aplicação e executoriedade da cláusula clawback nos contratos de trabalho dos executivos de sociedades anônimas de capital aberto.
Após as crises econômicas das últimas duas décadas, sobretudo após o colapso da gigante Enron em 2001, governos ao redor do mundo passaram a dedicar mais atenção às condutas de gestão de altos executivos com poder de impactar o mercado nacional e internacional.
Em resposta a esse cenário, os EUA editaram uma série de leis com o objetivo de coibir os desvios desses agentes: em 2002, foi aprovada a Lei Sarbanes-Oxley; em 2008 e 2009, respectivamente, o Emergency Economic Stabilization Act (EESA) e o American Recovery and Reinvestment Act (ARRA); e, por fim, em 2010, após a crise de 2008, o governo americano aprovou o Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (Lei Dodd-Frank). Entre outros aspectos, essas leis regulam a chamada cláusula clawback.
Essa cláusula demanda a restituição de bônus e/ou remunerações financeiras recebidos antecipadamente por executivos que compõem a administração da companhia, nos casos em que tenha havido ajustes contábeis (accounting restatements) decorrentes de equívocos ou fraudes, ainda que não seja evidenciada a má conduta/gestão por parte dos executivos.
Nos EUA, a previsão de clawback tornou-se bastante comum nos últimos anos, especialmente após a entrada em vigor da Lei Dodd-Frank. De acordo com o autor Sam Sharp, “um recente estudo da Equilar, empresa que realiza pesquisas estatísticas, mostrou que aproximadamente 73% das cem maiores empresas ranqueadas pela Fortune tinham cláusulas de clawback em 2009, contra 18% em 2006”.[1]
No Brasil, essa tendência ficou evidente com a entrada em vigor dos seguintes atos normativos: (i) Resolução nº 3.921/2010, editada pelo Banco Central do Brasil (Bacen); e (ii) Instrução Normativa nº 480/2009, editada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e com alterações posteriores.
As normas citadas demonstram claramente uma preocupação com a remuneração dos executivos atrelada à assunção de riscos. Contudo, ainda não há no cenário brasileiro um debate consistente acerca da implementação da cláusula clawback para companhias listadas em bolsa. Parece-nos, todavia, que a Resolução Bacen nº 3.921 abriu importante caminho para a introdução da cláusula clawback no Brasil, ainda que apenas sobre instituições financeiras. Agora, a Reforma Trabalhista veio sedimentar ainda mais a possibilidade de inclusão desse tipo de cláusula nos contratos dos executivos no país.
Isso porque o administrador empregado, por ter vínculo empregatício com a companhia, poderia ser considerado hipossuficiente e sem poder de negociação (autonomia da vontade). Sendo assim, a cláusula clawback celebrada com ele poderia ser tomada como abusiva e, portanto, nula.
Como forma de afastar esse entendimento, argumentava-se mais na linha principiológica, no sentido de flexibilizar o princípio da proteção ao hipossuficiente, além de aplicar o pacta sunt servanda e o princípio da autonomia da vontade.
O argumento no caso seria a impossibilidade de aceitar acriticamente que as regras adotadas em 1943, quando da edição da CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas), sejam hoje aplicadas da mesma forma, sem uma análise contextualizada. A realidade das relações de trabalho se tornou mais complexa e o mesmo aconteceu com o padrão e a qualificação da mão de obra brasileira.
Hoje os altos executivos têm extensos currículos, atuação nacional e internacional, vasta experiência profissional e rica formação acadêmica. Por óbvio, eles não podem ser equiparados aos empregados verdadeiramente hipossuficientes que, muitas vezes, sequer têm educação básica completa – justamente a categoria de empregados para a qual as regras da CLT foram projetadas, com algumas exceções.
Seguindo essa linha de raciocínio, a Reforma Trabalhista alterou o parágrafo único do art. 444 da CLT para incluir, expressamente, que é livre a estipulação das regras contratuais (desde que isso não contrarie as disposições de proteção ao trabalho, os contratos coletivos e as decisões das autoridades competentes) no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que hoje corresponde a R$ 11.062,62.
Portanto, a regra trabalhista que estará em vigor a partir de 11 de novembro de 2017 é a de que os empregados considerados “hipersuficientes” terão autonomia irrestrita para negociar e renegociar todas as cláusulas de seu contrato. Nesse sentido, não parece mais haver impedimento à inclusão da cláusula clawback nos contratos de trabalho dos executivos no Brasil.
Como efeito prático dessa mudança, as empresas poderão exigir a devolução de incentivos (bônus, PLR, stock options etc.) adiantados aos executivos para compensar expressivos e mensuráveis prejuízos à companhia em razão de conduta culposa na gestão dos negócios. Para a conduta dolosa comprovada, existe previsão expressa na CLT sobre a possibilidade de ressarcimento pelo empregado.
Esse procedimento é similar às regras previstas no artigo 462, §1º da CLT. Mais precisamente, a diferença entre o desconto previsto no artigo e os efeitos previstos na clawback é meramente prática, já que ambos os mecanismos apresentam a mesma natureza material. Em vez de se obter o ressarcimento de incentivos anteriormente adiantados aos administradores (clawback), o artigo da CLT prevê a realização de descontos nas futuras remunerações (incluindo bonificações, se elegíveis) em razão de prejuízos causados. A essência, porém, é a mesma: reaver pecuniariamente os prejuízos causados pelos empregados em razão de condutas dolosas ou culposas.
Dada a sutil diferença entre os dois institutos, com a inclusão da clawback nos contratos de trabalho seria possível obter o ressarcimento dos prejuízos mesmo daqueles administradores já demitidos, se for comprovado que eles não cumpriam seus deveres de diligência. Já no caso dos descontos do artigo 462, §1º, da CLT, eles seriam de trato sucessivo e, em tese, poderiam ocorrer até o ato da rescisão contratual, nos termos do artigo 477, § 5º da CLT.
Com a Reforma Trabalhista, verifica-se ainda que a eventual limitação de valores (atualmente pode-se argumentar que os descontos se limitam ao valor de uma remuneração do empregado, por interpretação do artigo 477, § 5º da CLT) e do momento de exigir o ressarcimento (até a rescisão contratual) sofrerá grande transformação, já que os empregados “hipersuficientes” poderão negociar individualmente os termos e as condições dos seus contratos de trabalho. Portanto, os descontos previstos no artigo 462, §1º da CLT ou a previsão da clawback em si poderão ser livremente negociados entre as sociedades empresárias e seus executivos.
Considerando os vultosos incentivos concedidos a esses empregados – valores esses vinculados ao suposto sucesso financeiro da companhia, mas restituídos apenas pelo cometimento de erro/fraude nos balanços financeiros – não há como admitir que eventuais compensações/descontos fiquem restritos ao período que perdurar o vínculo empregatício e adstritos às limitações impostas pela CLT.
Assim, confere-se ao empregador o direito de reaver dos administradores que atuaram em desfavor da companhia, de forma culposa ou dolosa, os exatos valores por ela adiantados e, posteriormente, associados a erros ou fraudes cometidos por eles. Isso é aplicável tanto durante o contrato de trabalho quanto após seu término, situação mais comum, já que a conduta pode ensejar demissão por justa causa imediata.

- Categoria: Reestruturação e insolvência
De janeiro a junho deste ano, foram feitos 829 pedidos de falência e 685 de recuperação judicial de empresas brasileiras, segundo a Serasa Experian. Os números elevados refletem a situação econômica instável do país e sobrecarregam o Poder Judiciário com procedimentos de insolvência complexos, em razão da quantidade enorme de participantes e da diversidade de assuntos jurídicos envolvidos. Para agravar a situação, são raras as comarcas onde há justiça especializada no tema, o que prejudica ainda mais a celeridade e a efetividade de trâmites que, em regra, já são morosos.
Para acelerar a solução de conflitos entre credores e devedores ou outras questões relacionadas aos procedimentos de insolvência, os tribunais têm autorizado ou determinado a utilização de métodos alternativos, como a conciliação, a mediação e a arbitragem. Essa tendência segue o enunciado nº 45 aprovado na I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, em 2016, e que autoriza o uso dos meios mencionados de solução de conflitos em processos de falência e recuperação judicial.
Muito recentemente, a conciliação foi autorizada pelo Poder Judiciário do Estado de São Paulo para resolver divergências sobre créditos em recuperações judiciais. Em vez de abrir um incidente para discutir o valor da dívida, as empresas poderão se valer das sessões de conciliação para tentar um acordo diretamente com os credores. Estima-se que isso represente uma economia de tempo de 6 meses a 1 ano.
A Inepar, empresa em processo de recuperação judicial desde 2015, aderiu ao método de forma pioneira para negociar diretamente com os credores que apresentaram divergência de crédito. No total, foram realizados 28 acordos com credores quirografários no primeiro mutirão organizado pela empresa, conforme notícia veiculada pelo jornal “Valor Econômico” em 31 de julho deste ano.
Além de contribuir para a celeridade do processo, a medida poupa recursos financeiros da empresa recuperanda, que pode destiná-los para melhorar sua saúde financeira e pagar credores.
Disciplinada pela Lei nº 13.140/15, a mediação também tem sido explorada nos processos de falência e recuperação judicial, como no caso Oi. Mesmo que se critique o desrespeito à cláusula arbitral existente na documentação societária da empresa, o STJ já reconheceu que esse meio alternativo pode ser utilizado para tratar do conflito entre os sócios (Conflito de Competência nº 148.728/RJ). Esse procedimento também foi eleito para discutir a divergência entre as partes sobre a concursalidade do crédito da Anatel e o crédito de credores quirografários menores (até R$ 50 mil), cujo número é elevadíssimo e pode dificultar – até mesmo em termos operacionais - o desenrolar da futura assembleia de credores que deliberará o plano de recuperação. A mediação está sendo usada ainda para solucionar conflito envolvendo serviço essencial (cabos submarinos) prestado por um fornecedor relevante, cujo contrato tem cláusula de take or pay.
Sobre a questão dos credores quirografários com crédito de até R$ 50 mil, a mediação está suspensa por decisão liminar da 8ª Câmara Cível do TJ-RJ, proferida no agravo de instrumento nº 0033161-06.2017.8.19.0000, sob o argumento de que poderia implicar em pagamentos antes da votação do plano de recuperação.
O método da mediação consiste na “atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia” (art. 1º, parágrafo único da Lei nº 13.140/15). Ele é compatível com os processos de falência e recuperação judicial, pois o objeto da mediação pode versar sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação, nos termos do art. 3º da Lei nº 13.140/15.
Da mesma forma, a arbitragem é perfeitamente aplicável aos processos de falência e recuperação judicial. A despeito do interesse coletivo que envolve tais procedimentos, as situações discutidas nas ações são contratuais e versam sobre direitos disponíveis e passíveis de submissão à arbitragem, por livre consentimento das partes.
Nesse sentido, há quem defenda, como José Emílio Nunes Pinto,[1] que a instituição de compromisso arbitral poderá ser proposta até mesmo em plano de recuperação judicial para a solução de determinados litígios de natureza patrimonial e disponível. Pelo que se sabe, essa prática ainda não foi adotada, mas o Poder Judiciário tem reconhecido a validade de cláusula compromissória e permitido que empresas em recuperação judicial ou em falência utilizem esse método extrajudicial de solução de controvérsias.
Esse é o entendimento do STJ – na medida cautelar nº 14.295/SP, tirada do processo de falência da Interclínicas Planos de Saúde – e também o posicionamento do TJ-SP – na falência da Diagrama Construtora, no agravo de instrumento nº 531.020.4/3-00. A situação é abordada no enunciado nº 6 da I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios: “O processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência não autoriza o administrador judicial a recusar a eficácia da convenção de arbitragem, não impede a instauração do procedimento arbitral, nem o suspende.”
Espera-se, portanto, que os métodos de conciliação, mediação e arbitragem para a resolução de conflitos afeitos aos processos de falência e recuperação judicial sejam usados cada vez mais para substituir os inúmeros incidentes instaurados no curso de uma ação dessa natureza e ajudem a resolver entraves relacionados aos direitos patrimoniais disponíveis.
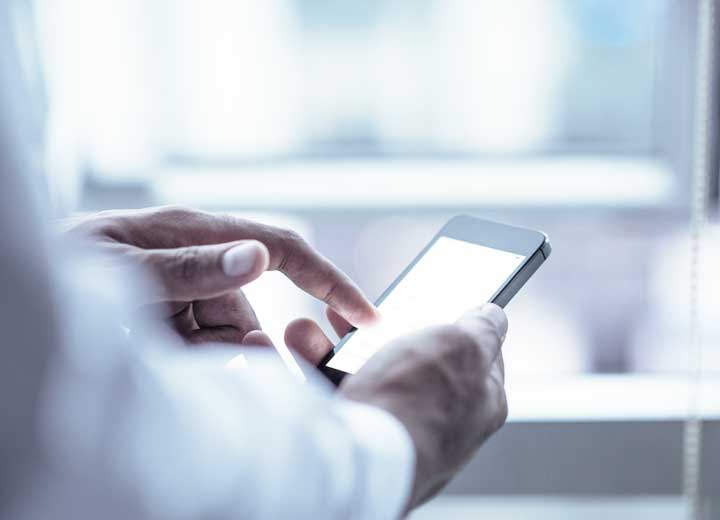
- Categoria: Trabalhista
Ao considerar válida a utilização do aplicativo WhatsApp para intimações processuais, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) abriu um precedente importante para uso dessa ferramenta de comunicação em todos os tribunais do país. A decisão foi tomada no julgamento do Procedimento de Controle Administrativo[1] ajuizado contra a Portaria nº 01/2015, adotada pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Piracanjuba (GO).
De acordo com a portaria, o WhatsApp pode ser usado para intimações e comunicações processuais de forma facultativa pelo Juízo, quando as partes aderirem voluntariamente aos termos estabelecidos. Além disso, para que a citação seja válida, também é preciso que o recebimento da mensagem seja confirmado no mesmo dia do envio. Caso isso não ocorra, a intimação deverá ser feita pela via convencional (correios ou oficial de justiça).
Em sua decisão, o CNJ entendeu que a comunicação processual via WhatsApp estaria em consonância com o artigo 19 da Lei nº 9.099/1995, segundo a qual as intimações serão realizadas na forma prevista para citação, ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação.
O CNJ se baseou também na Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e que, no entender do conselho, tornou a inovação tecnológica uma aliada importante do Poder Judiciário.
Fundamentada na garantia da celeridade e da eficiência dos processos, a decisão representa um incentivo para que a comunicação processual via aplicativo seja adotada por todos os tribunais do país. Considerando os princípios que regem o processo trabalhista, em especial os da celeridade, simplicidade das formas e economia processual, a aplicação dessa medida pelos tribunais regionais de trabalho certamente será bem recebida. Vale lembrar que o rito processual trabalhista em muito se assemelha ao rito dos juizados especiais, principalmente pelo foco na simplicidade e na informalidade.
Acompanhando esse avanço tecnológico, a 5ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo (SP) realizou, em maio deste ano, tratativas de conciliação via WhatsApp. A audiência física ocorreu apenas para homologar o acordo celebrado no aplicativo.
Antes dele, o juiz do trabalho da Vara de Plácido de Castro, no Acre, já havia optado por usar o WhatsApp na notificação das partes, alegando a diminuição de prazos e custos na resolução dos processos.
O mesmo foi feito por um juiz da Vara do Trabalho de Tucuruí, no Pará, que após diversas tentativas de citação, contatos por e-mail e até mesmo telefone, utilizou o WhatsApp para notificar a reclamada e finalmente conseguiu que a empresa respondesse ao processo.
Os exemplos demonstram como a tecnologia pode contribuir para o aperfeiçoamento do Judiciário brasileiro. É certo que o uso do WhatsApp nas comunicações entre as partes e o Juízo no curso do processo judicial tende a se tornar prática constante, legal e efetiva em um futuro próximo.

- Categoria: Infraestrutura e Energia
A recuperação da economia brasileira passa, necessariamente, pela retomada das atividades industriais e por investimentos em grandes projetos de infraestrutura. Não é difícil concluir que uma condição essencial para isso seja o acesso ágil e direto a recursos financeiros – tanto nos tradicionais mercados de dívida, liderados, em grande parte, pela atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), quanto nos mercados de capitais, caracterizados, até recentemente, pela emissão de debêntures de infraestrutura (Lei nº 12.431/2011).
Pois é justamente neste momento, em que a oferta de crédito deveria encontrar pleno respaldo jurídico para dar segurança aos credores, que uma antiga discussão volta a ganhar a atenção dos mercados e causar preocupação: em que medida as garantias fiduciárias (mais especificamente, as cessões fiduciárias de créditos) estão de fato protegidas e excluídas do regime da recuperação judicial? O pressuposto dessas garantias não era viabilizar ao credor um meio rápido e seguro de recuperação do seu crédito, evitando as disputas e a competição com os demais credores do devedor? Então por que o regime dessas garantias está sendo relativizado, o que traz incertezas para os credores que delas deveriam se beneficiar?
Esses questionamentos decorrem de decisões judiciais recentes nas quais, em vez de reconhecer ao credor fiduciário o direito de executar plenamente os bens recebidos em garantia, mesmo que um processo de recuperação judicial do devedor esteja em curso (conforme § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/05), alguns tribunais (inclusive de instâncias superiores) vêm impondo limites a essa pretensão.
No caso das cessões fiduciárias de crédito, que se tornaram uma das mais importantes formas de garantia em projetos de infraestrutura no Brasil, é cada vez mais frequente a tese de que os créditos cedidos fiduciariamente não devem, ao menos em sua integralidade, ser destinados à satisfação plena do credor fiduciário se, ao tempo da execução, o devedor estiver em recuperação judicial. A preocupação contida nessa visão é que o sucesso da recuperação judicial do devedor apenas será assegurado – para dar continuidade aos negócios e favorecer os interesses dos demais beneficiários – se o devedor puder realizar a gestão de seus bens e receitas. Garantir a plena execução dos créditos cedidos fiduciariamente seria, portanto, dificultar a possibilidade real de recuperação da empresa.
Essa disputa entre os interesses dos credores fiduciários, de um lado, e dos empresários e respectivos projetos, de outro, é mais evidente nos casos da cessão fiduciária de créditos (no jargão do mercado, “trava bancária”), mas ela gera preocupações similares em qualquer tipo de garantia fiduciária. Afinal, na maioria das vezes, os projetos de infraestrutura desenvolvidos no Brasil têm a integralidade de seus ativos e direitos cedidos em garantia fiduciária aos credores. Não sem motivo, portanto, os primeiros estudos realizados pelo Ministério da Fazenda para propor reformas à Lei nº 11.101/05 caminham no sentido de ampliar as restrições para as garantias fiduciárias no caso de recuperação judicial do devedor, embora sem afastar as prerrogativas essenciais (especialmente, os processos de execução e a ordem de prioridade em relação aos demais credores) que lhes dão fundamento em caso de efetiva liquidação do acervo patrimonial do devedor.
O tema ganha especial relevância quando consideradas as atuais alterações nas políticas de crédito de instituições financeiras, como o BNDES e o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FI-FGTS), que participaram de forma ativa no financiamento e na expansão de projetos de infraestrutura nos últimos anos, seja via concessão de crédito incentivado de longo prazo, no caso do primeiro, ou por meio de investimentos via participação acionária ou debêntures, no caso do segundo.
Especialmente em relação ao BNDES, dois pontos merecem destaque. O primeiro diz respeito às novas regras operacionais do banco, que reduziram os limites de participação subsidiada (TJLP – Taxa de Juros de Longo Prazo) e instituíram atributos e qualificadores para a concessão de crédito não mais apoiados em uma lógica de desenvolvimento setorial, mas sim nos benefícios que os projetos financiados trarão à sociedade.
O segundo ponto está relacionado à substituição da TJLP (historicamente adotada pela BNDES) pela TLP (Taxa de Longo Prazo), recentemente instituída pela Medida Provisória nº 777/2017 e que tende a se aproximar das taxas de juros praticadas pelo mercado.
Essas medidas não apenas reforçam o papel institucional do BNDES como indutor do desenvolvimento sustentável e reduzem seu elevado nível de endividamento, como também tendem a propiciar uma maior abertura para a atuação de bancos comerciais e outros instrumentos financeiros como fontes alternativas de financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil.
No entanto, as reformas nas políticas de crédito do BNDES talvez deixem de gerar os resultados pretendidos se as demais instituições financeiras estiverem desconfortáveis com os rumos legislativos e judiciais do regime das garantias fiduciárias. A falta de certeza quanto à forma de execução e, principalmente, ao momento da satisfação do crédito (se antes ou depois da recuperação judicial) pode aumentar os riscos de que os financiamentos tão necessários à estruturação dos projetos de infraestrutura acabem não sendo viabilizados em todo seu potencial.
Por outro lado, é impossível deixar de reconhecer que os projetos de infraestrutura de relevância para a economia nacional também precisam dispor de mecanismos capazes de protegê-los das volatilidades financeiras para assegurar a continuidade de suas operações quando as dificuldades forem meramente passageiras e não estruturais. Nesse contexto, em matéria de serviços públicos, há previsão legal de que a execução das garantias não pode comprometer a continuidade do serviço. Alguns tribunais, inclusive, têm interpretado que tal dispositivo limita a cessão fiduciária ou o penhor de recebíveis a 30% do faturamento, sob a presunção de que o devedor necessita de ao menos 70% de suas receitas para fazer frente às despesas de operação e manutenção.
Nesse contexto, as iniciativas de reforma legislativa (e, por consequência, as intepretações judiciais delas decorrentes) deverão buscar o equilíbrio entre a plena satisfação do crédito e a preservação da empresa em cenário de dificuldade. O favorecimento demasiado de apenas um dos lados certamente não será benéfico para nenhum deles no longo prazo, além de enfraquecer o ambiente jurídico mais adequado ao desenvolvimento econômico nacional.
As perguntas que ficam neste momento não deveriam ser, portanto, se devemos ou não regular de forma mais equilibrada o regime das garantias fiduciárias, mas sim de que modo podemos fazê-lo.