
- Categoria: Infraestrutura e Energia
Após mais de seis anos em discussão, o Projeto de Lei nº 6.407/13 (PL do Gás) foi aprovado pela Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados no dia 23 de outubro. O texto altera dispositivos da Lei nº 11.909/09, que estabelece o marco legal do setor de gás natural no país.
Com a aprovação, o PL do Gás segue agora para análise de outras três comissões da Câmara: as de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; Finanças e Tributação; e Constituição e Justiça (a não ser que o processo seja posto no regime de urgência, e o PL siga diretamente para votação pelo plenário). Após a aprovação em definitivo pelas comissões, o projeto será submetido à análise do Senado.
O texto aprovado pela Comissão de Minas e Energia preservou a maior parte do último substitutivo ao projeto, apresentado no mesmo dia da aprovação. Entre as modificações, ressalta-se a exclusão do artigo 45 do substitutivo. O dispositivo previa que a participação da energia de fonte termoelétrica a gás natural nos leilões da Aneel deveria levar em conta o custo e a disponibilidade do combustível comercializado pelas distribuidoras de gás natural. No texto final, a definição dos preços-teto para energia termoelétrica ficaria a cargo da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). De acordo com os deputados, a redação anterior do artigo era contrária à principal motivação do PL do Gás, que é a abertura do mercado.
Entre as principais modificações trazidas pelo PL do Gás, destacam-se:
- A implementação de um modelo tarifário por entradas e saídas. No marco legal vigente, o transporte de gás natural tem modelos conhecidos como modelo postal ou ponto-a-ponto, nos quais o percurso da molécula desde o ponto de entrada no sistema até o ponto de saída é relevante para fins do contrato de transporte de gás natural. No novo modelo proposto pelo PL do Gás (modelo de entradas e saídas), o fluxo físico da molécula de gás é desvencilhado do seu fluxo contratual. Com esse novo modelo, comum no mercado europeu, a facilidade de comercialização em pontos distantes da rede deve gerar maior liquidez no mercado de gás natural.
- A aplicação do regime de autorização para o transporte e a estocagem de gás natural. Atualmente, a atividade de transporte de gás natural pode ser exercida por concessão (para novos gasodutos) ou por autorização (para gasodutos existentes ou sendo implementados na época de promulgação da lei). No entanto, pelas dificuldades burocráticas do modelo de concessão, nenhum gasoduto foi construído nem operado por concessão desde a promulgação da lei vigente. No novo marco pretendido, a atividade de transporte de gás não mais será realizada por meio de concessão, apenas por autorizações. Do mesmo modo, a estocagem subterrânea de gás natural passaria a ser exercida no regime de autorizações com uma futura promulgação do PL do Gás.
- A desverticalização da atividade de transporte de gás natural com outras atividades do setor. A fim de coibir o self dealing e preservar a concorrência no setor, o PL do Gás contém dispositivo que proíbe o transportador de gás natural de praticar diretamente atividades concorrenciais do setor (comercialização, produção, liquefação e importação) ou de ter participação societária direta ou indireta em sociedades que pratiquem essas atividades. A desverticalização de agentes já é realidade no Brasil na regulação do setor elétrico.
- A criação de áreas de mercado e o reforço do aspecto de organização em rede do transporte de gás. Apesar de não contar mais com a criação de um agente específico para coordenar o transporte de gás em todo o território nacional (similar ao ONS no setor elétrico), como havia sido discutido no âmbito da iniciativa Gás para Crescer, o PL do Gás conta com dispositivos para as áreas de mercado, coordenadas por um gestor da área de mercado. O PL do Gás também conta com mecanismos de autorregulação para operacionalizar a interação entre os agentes do setor e o controle da rede de transportes (como códigos comuns de rede, criados pelos gestores da área de mercado).
- A ampliação do rol de infraestruturas consideradas essenciais.No marco legal atual, apenas os gasodutos de transporte recebem o tratamento de estruturas essenciais. Isso faz com que seus operadores/proprietários devam conceder acesso a essas instalações para terceiros interessados, por meio do acesso regulado. Apesar de não ter proposto o acesso regulado a outras infraestruturas, o PL do Gás, com base na doutrina das essential facilities (já presente no Brasil em setores como energia elétrica, ferrovias e telecomunicações), prevê o acesso negociado e não discriminatório a outras estruturas do setor (ou seja, gasodutos de escoamento, unidades de processamento, terminais GNL e seus gasodutos integrantes). Essa alteração também busca ampliar a competitividade do setor para impedir a reserva de mercado pelos detentores dessas infraestruturas.
Apesar das mudanças trazidas pelo PL do Gás para a implementação do novo modelo de contratação de capacidade de transporte por entradas e saídas, o artigo 44 do próprio PL garante a preservação do equilíbrio econômico dos contratos vigentes na época de promulgação da nova lei.
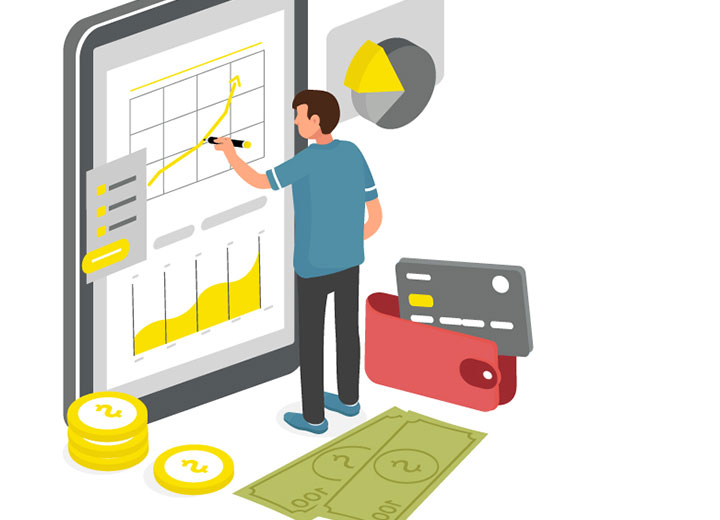
- Categoria: Bancário, seguros e financeiro
A Lei nº 13.874/19, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, promoveu alterações nas regras aplicáveis a fundos de investimento, com a introdução de um novo capítulo sobre o tema no Código Civil brasileiro (artigos 1.368-C a 1.368-F).
Os fundos de investimento foram definidos como condomínios de natureza especial, destinados à aplicação em ativos financeiros, bens e direitos de qualquer natureza. A lei afastou expressamente a aplicação das regras relacionadas a condomínios em geral (previstas nos artigos 1.314 a 1.358-A do Código Civil) aos fundos de investimento.
Esse afastamento está em consonância com as alterações trazidas pela lei no que diz respeito à possibilidade de limitação de responsabilidade dos cotistas do fundo de investimento. De acordo com a interpretação das regras sobre condomínios em geral até então aplicadas aos fundos de investimento, os cotistas respondiam de forma ilimitada pelas obrigações assumidas pelo fundo de investimento (que não é dotado de personalidade jurídica própria), tanto que o artigo 15 da Instrução CVM nº 555/14 prevê que os cotistas poderiam ser responsabilizados por eventual patrimônio líquido negativo do fundo.
Além disso, a Lei nº 13.874/19 confirmou a competência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para regular os fundos de investimento definidos pela lei e regulamentar as alterações por ela trazidas.
Os principais aspectos da Lei nº 13.874/19 que tratam de fundos de investimento são destacados a seguir.
Registro
De acordo com o parágrafo terceiro do novo artigo 1.368-C do Código Civil, o registro dos regulamentos dos fundos de investimentos na CVM é condição suficiente para garantir sua publicidade e a oponibilidade de efeitos em relação a terceiros.
Com essa alteração, torna-se desnecessário registrar o regulamento do fundo em cartório de títulos e documentos, como previa a regulamentação da CVM.
Esse foi o primeiro tema a ser regulamentado pela CVM desde a promulgação da Lei nº 13.874/19. Em 2 de outubro deste ano, a CVM editou a Instrução CVM nº 615, que altera diversas instruções editadas pela autarquia, a fim de revogar a exigência de certidão comprobatória de registro do regulamento de fundos de investimento em cartório de títulos e documentos.
A alteração atende a demandas da indústria por redução de burocracia e custos.
Limitação de responsabilidade de cotistas e classes de cotas
Buscando proteger o investidor e limitar sua responsabilidade quanto às obrigações do fundo de investimento, a Lei nº 13.874/19 inovou ao prever que o regulamento do fundo pode determinar a limitação da responsabilidade de cada investidor ao valor de suas cotas, protegendo-o de responder por obrigações do fundo que excedam a sua participação.
O regulamento pode estabelecer ainda classes de cotas com direitos e obrigações distintos, com possibilidade de constituição de patrimônio segregado para cada classe, que responderá por obrigações a elas vinculadas, nos termos do regulamento.
Para fundos de investimento constituídos sem a limitação de responsabilidade, a adoção da responsabilidade limitada somente abrangerá fatos ocorridos após a mudança no regulamento. Ou seja, até que o tema seja regulamentado pela CVM e o regulamento do fundo seja alterado para incluir a limitação de responsabilidade, o cotista será responsável, na proporção de sua participação, pelas obrigações do fundo referentes a fatos ocorridos antes da alteração do regulamento. Não está claro, contudo, se essa limitação prevalecerá em situações mais específicas, como aquelas envolvendo demandas fiscais ou trabalhistas.
Atualmente, a regulamentação da CVM aplicável a fundos de investimento em participações (Instrução CVM nº 578/16) permite que, em determinadas situações, o regulamento do fundo atribua a uma ou mais classes de cotas direitos econômico-financeiros distintos. Pela regra geral, os direitos econômicos distintos das classes de cotas são limitados à fixação das taxas de administração e de gestão e à ordem de preferência no pagamento dos rendimentos, amortizações ou do saldo de liquidação do fundo. Para os fundos destinados exclusivamente a investidores profissionais[1] ou aqueles que obtenham apoio financeiro direto de organismos de fomento, é permitido atribuir a uma ou mais classes de cotas direitos econômicos distintos além dos previstos acima.
Até o advento da Lei nº 13.874/19, não havia, no entanto, previsão específica sobre a possibilidade de constituir patrimônio segregado para cada classe de cota e limitação de responsabilidade do cotista pelas obrigações vinculadas à classe respectiva. Essa possibilidade é um dos grandes avanços trazidos pela nova lei à indústria de fundos. Ele não só permite a redução de custos (muitas vezes pela opção de estruturas com constituição de um novo fundo para cada estratégia de investimento), mas também maior segurança jurídica aos investidores.
A limitação da responsabilidade dos cotistas e a segregação do patrimônio do fundo por classes de cotas distintas ainda estão sujeitas à regulamentação da CVM para sua efetiva aplicação.
Regime de insolvência
Ainda no contexto da limitação de responsabilidade do cotista, a Lei nº 13.874/19 dispõe que os fundos de investimento respondem diretamente pelas obrigações legais e contratuais por eles assumidas, sendo que, se o fundo com limitação de responsabilidade não possuir patrimônio suficiente para responder por suas dívidas, aplicam-se as regras de insolvência previstas nos artigos 955 a 965 do Código Civil.
A insolvência pode ser requerida judicialmente por credores, por deliberação própria dos cotistas do fundo de investimento, nos termos de seu regulamento, ou pela própria CVM.
O novo artigo 1.368-E do Código Civil também prevê que os prestadores de serviço do fundo de investimento não respondem pelas obrigações do fundo (exceto pelos prejuízos que causarem quando procederem com dolo ou má-fé).
Assim, eventual passivo do fundo não poderia atingir diretamente o patrimônio dos cotistas, tampouco dos prestadores de serviços do fundo, sendo obrigatório seguir o rito do processo de insolvência do fundo, caso este não tenha patrimônio suficiente para sanar suas dívidas.
O quadro abaixo resume os principais aspectos do regime de insolvência previsto no Código Civil:
Regras do regime de insolvência
| Declaração de insolvência | Procede-se à declaração de insolvência toda vez que as dívidas excedam à importância dos bens do devedor. |
| Preferências |
• Não havendo título legal à preferência, os credores terão igual direito sobre os bens do devedor comum. • Os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais. • O crédito real prefere ao pessoal de qualquer espécie; o crédito pessoal privilegiado, ao simples; e o privilégio especial, ao geral. • Quando dois ou mais credores da mesma classe especialmente privilegiados concorrerem aos mesmos bens, e por título igual, haverá entre eles rateio proporcional ao valor dos respectivos créditos, se o produto não bastar para o pagamento integral de todos. • O privilégio especial só compreende os bens sujeitos, por expressa disposição legal, ao pagamento do crédito que ele favorece; e o geral, todos os bens não sujeitos a crédito real nem a privilégio especial. |
Responsabilidade dos prestadores de serviços
Além da limitação da responsabilidade dos cotistas, a Lei nº 13.874/19 prevê a possibilidade de limitação da responsabilidade dos prestadores de serviços do fundo de investimento ao cumprimento dos deveres particulares de cada um, sem solidariedade.
Atualmente, as instruções CVM nº 555 e nº 578 determinam a responsabilidade solidária entre o administrador do fundo e os terceiros contratados pelo fundo por eventuais prejuízos causados aos cotistas em virtude de condutas contrárias à lei, ao regulamento ou aos atos normativos expedidos pela CVM. A regulamentação aplicável aos fundos de investimento de direito creditório (FIDC) e fundos de investimento imobiliário (FII) não têm tal previsão, de modo que, para FIDCs e FIIs, já seria possível aplicar a limitação de responsabilidade prevista na Lei nº 13.874/19.
Conclusões
As alterações trazidas pela Lei nº 13.874/19 são um marco importante para a evolução da indústria de fundos no Brasil, com vistas à redução de burocracia e custos e ao aumento da segurança para os investidores, aproximando a indústria de práticas adotadas em outras jurisdições.
A CVM deverá submeter à audiência pública minuta de instrução para alterar a regulamentação vigente de acordo com as disposições da nova lei. Ainda não há previsão de quando a consulta pública ocorrerá.

[1] Nos termos do artigo 9º-A da Instrução CVM nº 539, de 13 de novembro de 2013, são considerados investidores profissionais:
I – instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
II – companhias seguradoras e sociedades de capitalização;
III – entidades abertas e fechadas de previdência complementar;
IV – pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidores profissionais mediante termo próprio, de acordo com o Anexo 9-A;
V – fundos de investimento;
VI – clubes de investimento, desde que tenham a carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM;
VII – agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios;
VIII – investidores não residentes.

- Categoria: Concorrencial e antitruste
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) analisou cerca de 40 atos de concentração envolvendo contratos associativos desde que a Resolução nº 17/2016 entrou em vigor, em 25 de novembro de 2016. Esses casos se referem a acordos entre empresas das mais diversas indústrias (como alimentos e bebidas, cimento, farmacêutica, transporte marítimo e telecomunicações) e com diferentes objetos (distribuição, fornecimento, exploração de infraestrutura, parceria comercial, codesenvolvimento e comercialização conjunta, entre outros). Apesar desses precedentes, na prática o tema ainda suscita muitas dúvidas.
Nos termos da resolução, devem ser considerados associativos contratos com duração igual ou superior a dois anos que estabeleçam empreendimento comum para exploração de atividade econômica, desde que o contrato estabeleça o compartilhamento dos riscos e resultados da atividade econômica que constitua seu objeto e, cumulativamente, as partes contratantes sejam concorrentes no mercado relevante objeto do contrato. Tais contratos devem ser notificados e aprovados previamente pelo Cade quando pelo menos um dos grupos econômicos das partes envolvidas tenha registrado faturamento bruto no Brasil igual ou superior a R$ 750 milhões, no ano anterior à operação, e outro grupo econômico envolvido tenha tido faturamento de, no mínimo, R$ 75 milhões.
O Cade tratou dos requisitos de empreendimento comum e compartilhamento dos riscos e resultados – que envolvem alto grau de subjetividade – em diversos atos de concentração apreciados até o momento.
Quanto ao primeiro requisito, o órgão entendeu que a configuração de empreendimento comum depende do grau e da forma como a cooperação é exercida entre empresas. Sob esse enfoque, o Cade considerou haver empreendimento comum, por exemplo, em contratos que estabeleciam coordenação das partes para comercialização de um produto em específico; influência de uma parte sobre as decisões comerciais de outra; coordenação sobre aspectos relevantes relacionados à oferta de produtos/serviços como qualidade, preços e outras condições comerciais envolvidas no negócio; interdependência na prestação de serviços; e alguns tipos de estruturas de governança para discutir assuntos relevantes e regulamentar as tomadas conjuntas de decisão. Além disso, o Cade ressaltou em alguns precedentes que o conceito de empreendimento comum está diretamente ligado à ideia de exploração de atividade econômica, uma vez que o contrato de empreendimento comum deve versar especificamente sobre aquisição ou oferta de bens ou serviços no mercado.
Com relação ao compartilhamento de riscos e resultados, a jurisprudência indica que esse requisito vai além da mera repartição de lucros ou de custos. O Cade já sinalizou que o mero compartilhamento de custos não é suficiente para configurá-lo. Compartilhamento de riscos e resultados não se confunde com a mera verificação de receitas, faturamentos e prejuízos do ponto de vista contábil. Tal situação restará caracterizada quando for possível identificar a participação de uma parte no resultado obtido pela outra, como no pagamento por desempenho ou com base na receita decorrente das vendas da parte que receberá os produtos fornecidos. O compartilhamento pode estar implícito no objeto do contrato, por exemplo, quando duas empresas se coordenam para expandir seus serviços, compartilhar capacidade ou minimizar custos, e acabam por diluir os riscos associados ao negócio.
O Cade entendeu ainda, em alguns casos, que o requisito aparentemente mais objetivo previsto na resolução – a relação de concorrência entre as partes no mercado relevante objeto do contrato – seria satisfeito mesmo na hipótese de concorrência potencial entre as partes. Tal posição foi adotada em pelo menos dois precedentes envolvendo o mercado de medicamentos em que os produtos objeto dos contratos ainda não eram comercializados no país ou ainda estavam em fase de desenvolvimento (pipeline), mas foram, conservadoramente, considerados concorrentes potenciais dos produtos já comercializados pela outra parte no Brasil.
O posicionamento do Cade nesse conjunto de casos estabelece algumas diretrizes que ajudam, em alguma medida, a avaliar a necessidade de notificar contratos associativos em situações concretas. No entanto, essa tarefa está longe de ser trivial, já que o entendimento do órgão está estreitamente ligado ao teor de determinadas cláusulas contratuais, que geralmente são tratadas como confidenciais. Isso impossibilita a compreensão integral das bases usadas pela autoridade antitruste para fundamentar suas decisões. Além disso, as relações contratuais entre agentes econômicos têm conteúdo cada vez mais diversificado e inovador, fato que torna ainda mais complexa a avaliação de necessidade de submetê-las ao crivo do Cade.
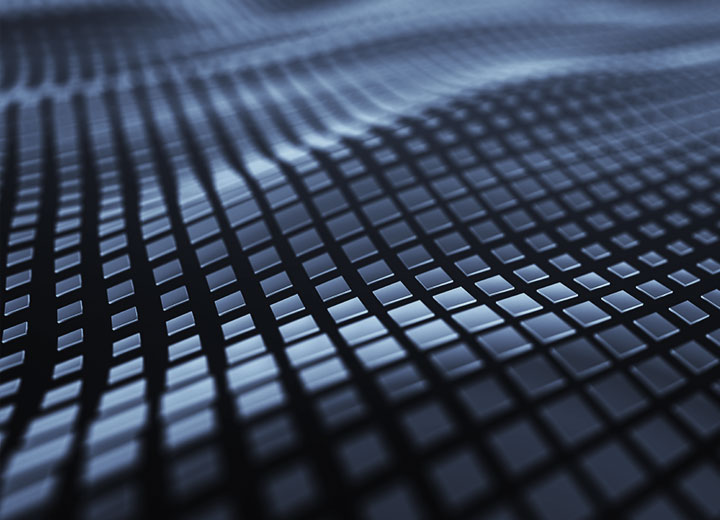
- Categoria: Tributário
A Medida Provisória nº 899/19, já conhecida como MP do Contribuinte Legal, foi publicada em 17 de outubro deste ano com o objetivo de reduzir o contencioso tributário e reaver créditos classificados como irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Para isso, a MP prevê a possibilidade de realizar uma transação para pôr fim a litígios administrativos ou judiciais na esfera federal.
A possibilidade de transação entre poder público e contribuintes em matéria tributária é admitida desde 1966 pelo artigo 171 do Código Tributário Nacional (CTN),[1] que exige, contudo, previsão legal específica do ente competente.
As hipóteses e modalidades de transação que passam a ser admitidas, e suas peculiaridades, são analisadas a seguir. As condições ainda estão sujeitas à regulamentação e à disciplina a ser estabelecida, conforme o caso, pelas autoridades indicadas na MP.
- Transação em relação à dívida ativa da União
Pressupõe a existência de crédito já inscrito em dívida ativa, de natureza tributária ou não. Pode ser proposta pela procuradoria competente – em caráter individual ou por adesão – ou pelo devedor.
A transação poderá versar sobre: (i) concessão de descontos para créditos classificados pela autoridade fazendária como irrecuperáveis ou de difícil recuperação; (ii) prazo ou forma de pagamento, inclusive diferimento e moratória; e (iii) oferecimento, substituição ou alienação de garantias ou de constrições.
Essa hipótese de transação só permite, portanto, proposta de redução de valores para dívidas consideradas irrecuperáveis ou de difícil recuperação, conforme critérios que serão disciplinados em ato do procurador-geral da Fazenda Nacional (PGFN), e desde que inexistam indícios de esvaziamento patrimonial fraudulento.
O valor total da dívida poderá ser reduzido em até 50%, com possibilidade de pagamento em até 84 meses, para as empresas em geral. Para pessoas naturais, empresas de pequeno porte e microempresas a redução pode chegar a 70%, com prazo de pagamento de até 100 meses.
A MP veda redução no valor do principal, transações sobre multas aplicadas por fraude, sonegação, conluio ou qualquer multa de natureza penal, além de transações sobre débitos relativos ao Simples Nacional ou FGTS.
A transação individual deverá ser assinada pelo PGFN ou autoridade por ele delegada.
- Transação por adesão no contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica
A transação por adesão é aquela proposta pelo poder público e sujeita à aceitação dos contribuintes que satisfizerem as condições e requisitos para tanto. Será realizada exclusivamente por adesão a ser formalizada eletronicamente, conforme proposta a ser feita pelo ministro da Economia para encerrar litígios tributários ou aduaneiros. A transação deverá versar sempre sobre litígios considerados relevantes e cuja tese jurídica em discussão envolva número considerável de contribuintes. A existência de processo administrativo ou judicial em curso é, portanto, condição para celebrar a transação nessa hipótese.
A proposta de transação deverá ser divulgada na imprensa oficial e no site dos respectivos órgãos na Internet, com edital especificando condições e requisitos, inclusive as reduções ou concessões oferecidas, prazos e formas de pagamento. É vedada a transação sobre dívidas relativas ao Simples Nacional ou ao FGTS, e o prazo máximo para quitação não poderá ser superior a 84 meses.
- Demais disposições e pontos de atenção
Em qualquer das hipóteses de transação, deve prevalecer a boa-fé do poder público e do contribuinte. Por isso, é vedada a transação em caso de dolo, fraude, simulação, prevaricação, concussão ou corrupção passiva e esvaziamento patrimonial fraudulento, entre outros.
Ao celebrar a transação para pôr fim ao litígio tributário, o devedor deve renunciar a todas as alegações de direito que fundamentam os processos judiciais ou administrativos.
Especificamente no caso de processos judiciais, a renúncia deve envolver também ações coletivas, e o devedor deve requerer ao juiz a extinção do processo com resolução do mérito, por homologação de renúncia à pretensão formulada.
Há aqui um ponto de atenção, que se espera seja corrigido na regulamentação da norma: a MP trata de autêntica hipótese de transação, com referência expressa ao artigo 171 do CTN. A transação é um mecanismo de autocomposição por meio do qual as partes promovem concessões mútuas com o objetivo de encerrar o litígio.[2] Sendo assim, o mais adequado seria que o requerimento formulado ao juízo tivesse por finalidade encerrar o processo com resolução do mérito para homologação da transação. A própria MP faz referência à homologação judicial do acordo para fins de formação de título executivo judicial.
Longe de qualquer preciosismo, o esclarecimento é necessário para evitar controvérsias paralelas entre poder público e contribuinte, já que o tratamento dado à responsabilidade por custas e honorários advocatícios é distinto em cada caso: tratando-se de renúncia pura e simples, as despesas processuais e honorários serão pagos por quem renunciou. Tratando-se de típica transação, com concessões mútuas de parte a parte para encerramento do litígio (redução da dívida com o encerramento do processo), não se pode cogitar a condenação em ônus de sucumbência.
Outro aspecto obscuro diz respeito ao tratamento da dívida tributária ainda não inscrita, mas cujo processo administrativo já tenha se encerrado. Aparentemente, pela disciplina da MP, essa dívida não seria passível de transação. O mesmo parece ocorrer em relação à obrigação tributária impugnada judicialmente pelo sujeito passivo em medida preventiva (mandado de segurança ou ação declaratória, por exemplo), mas cujo crédito tributário ainda não tenha sido constituído.
Não parece haver razoabilidade na exclusão dessas situações do campo transacional. Nem se poderia dizer que faltaria interesse à União em celebrar transação com o particular nessa hipótese por ausência de processo a ser encerrado, no primeiro caso, e de crédito constituído, no segundo.
A objeção não se sustenta porque a litigiosidade não termina pelo simples fato de a esfera judicial ainda não ter sido instaurada. Da mesma forma, ela existe quando se discute judicialmente a obrigação tributária não constituída. Se, ao fim e ao cabo, o objetivo buscado é reduzir a litigiosidade, tão importante quanto encerrar processos em curso é evitar sua instauração. E é irrelevante também, para tal finalidade, que os créditos estejam constituídos ou não.
Ainda na hipótese de transação por adesão, merece especial atenção, no que tange ao contencioso tributário de disseminada e relevante controvérsia jurídica, a necessidade de renúncia de direito em todos os processos que envolvam a mesma tese. Em princípio, não seria possível selecionar casos específicos.
Expostas as linhas mestras da MP, a disciplina que venha a ser estabelecida pelas autoridades competentes – conforme o caso, ministro de Estado da Economia, advogado-geral da União, procurador-geral da Fazenda Nacional e secretário especial da Receita Federal do Brasil – moldará o sucesso ou fracasso dos objetivos visados.
[1] Art. 171. A lei pode facultar, nas condições que estabeleça, aos sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária celebrar transação que, mediante concessões mútuas, importe em determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário.
Parágrafo único. A lei indicará a autoridade competente para autorizar a transação em cada caso.
[2] A única hipótese contemplada na MP que não representa típica hipótese de transação é a possibilidade de acordo sobre o oferecimento, substituição ou alienação de garantias e constrições, que constitui espécie de negócio jurídico processual, nos termos do art. 190 do Código de Processo Civil.

- Categoria: Infraestrutura e Energia
A geração distribuída (GD) permite que o consumidor gere a sua própria energia elétrica por meio de fontes renováveis ou cogeração qualificada e, quando possível, forneça o excedente para a rede de distribuição da sua própria localidade. O sistema tem duas modalidades: a microgeração distribuída (com potência instalada menor ou igual a 75 kW) e a minigeração distribuída (com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5 MW) de energia elétrica. Com a possibilidade de nova regulamentação para GD, as inovações esperadas poderão aliar economia financeira, consciência socioambiental e autossustentabilidade.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) regulamenta a geração de energia elétrica na modalidade GD por meio da Resolução Normativa n° 482/2012 (REN 482/2012). Em 2015, a REN 482/2012 foi revisada com o propósito de aumentar a potência limite de 1 MW para 5 MW e criar as modalidades de empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada. Desde então, a Aneel já demonstrava interesse em modificar, até o fim deste ano, os termos e as condições que regulam a GD. No último dia 15 de outubro, a agência anunciou a abertura da Consulta Pública nº 25/2019, a fim de receber contribuições à proposta de revisão da REN 482/2012 e abrir discussão com os agentes do setor sobre as regras a serem aplicáveis à micro e minigeração distribuída. Além disso, a Aneel também pretende abrir audiência pública (sessão presencial) para discutir o tema em sua sede em Brasília, com data prevista para o próximo dia 7 de novembro.
Conforme as informações públicas disponibilizadas pela agência, a maior parte (75%) da geração de energia elétrica em sede de GD é local, ou seja, em sistemas instalados em uma única residência, condomínio, comércio ou indústria. Os outros 25% estão alocados na GD remota, isto é, em duas ou mais unidades em locais distintos, pertencentes ao mesmo titular. Nessa última modalidade, destacam-se grandes consumidores que buscam redução de despesas e consciência socioambiental.
O ponto crucial da revisão da REN 482/2012 é o Sistema de Compensação de Energia em GD. Pela regra atual, o abatimento da energia injetada leva em conta não somente a Tarifa de Energia (TE), como também as componentes tarifárias TUSD Fio A e Fio B. Assim, as compensações a empreendimentos de GD que injetam energia no sistema incluem tarifas sobre o fio, e os custos de uso da rede são atualmente rateados pelos demais consumidores que não consomem a energia gerada em sede de GD. Embora os empreendimentos em sede de GD gerem sua própria energia elétrica, a rede de distribuição continua a ser utilizada por eles mesmo assim, ocasionando uma compensação tarifária indevida e onerando todos os outros consumidores que terão de ratear os custos de uso da rede.
Por esse motivo, após discussão pública, chegou-se à seguinte proposta: para a GD local, consumidores existentes e aqueles que protocolarem solicitação de acesso antes da publicação da norma continuam com as regras de compensação atualmente vigentes até o fim de 2030. A partir do ano seguinte, vigorará a compensação somente da componente de energia da TE. Consumidores que protocolarem solicitação de acesso após a publicação da norma não compensarão as componentes tarifárias TUSD Fio B e Fio A, mas somente a componente tarifária da TE quando atingida a potência instalada adicional de 4,7 GW (artigo 7-D da minuta com alterações à REN 482/2012).
Para a GD Remota, os consumidores existentes e os que protocolarem solicitação de acesso completa antes da publicação da norma também continuam submetidos às regras de compensação atualmente vigentes até o fim de 2030. Depois disso, vigora a compensação somente da componente tarifária da TE. Consumidores que protocolarem solicitação de acesso após a publicação da norma compensarão somente a componente tarifária TE Energia (artigo 7-D da minuta com alterações à REN 482/2012).
Quanto à minigeração distribuída, entendeu-se que o minigerador, ao fazer uso da rede para consumir e injetar energia através do mesmo ponto de conexão, deve celebrar Contrato de Uso do Sistema de Distribuição (CUSD), com inclusão dos valores de MUSD (Montante de Uso do Sistema de Distribuição) contratados para cada posto tarifário e referentes à unidade consumidora, conforme opção da modalidade tarifária e o valor de MUSD contratado referente à central geradora (art. 4º, §4º-B, da minuta com alterações à REN 482/2012).
Embora a medida não signifique o enquadramento regulatório da minigeração como unidade geradora, o resultado será a aplicação da tarifa de geração (TUSDg) ao respectivo MUSD de geração contratado. Nesse ponto é importante destacar que, apesar da aplicação da TUSDg, o consumidor com minigeração continua não fazendo jus aos descontos de fonte incentivadas, previstos na Lei n° 9.427/96.
Pela nova regulamentação, portanto, mesmo compensando toda a energia consumida (por meio da energia injetada ou de créditos de meses passados), o consumidor ainda terá de pagar pelas outras componentes da tarifa, o que, na grande maioria dos casos, pode superar o valor mínimo a ser faturado na unidade consumidora. Desse modo, a minuta com as alterações à REN 482/2012 sugere que a compensação seja limitada à integralidade do consumo no ciclo de faturamento (Artigo 7º-C da minuta com alterações à REN 482/2012).
A ANEEL tem afirmado que os estudos por ela realizados indicariam que, mesmo com a implementação das alterações na REN 482/2012, o retorno do investimento em GD continuaria bastante atrativo, com payback estimado entre quatro e cinco anos. Porém, os agentes do setor não parecem ter a mesma percepção. A expectativa é que as contribuições a serem feitas na Consulta Pública nº 25/2019 sejam levadas em consideração para que as possíveis alterações na minuta da resolução tornem os investimentos em GD atrativos para o mercado.

- Categoria: Contencioso
Quando os proprietários de imóveis decidem ajuizar uma ação de despejo em face dos locatários, em geral já foram esgotados todos os meios de reaver o bem de forma consensual. Isso indica a urgência que os locadores têm em obter decisão judicial em caráter liminar determinando que o imóvel seja devolvido.
Contudo, essa prestação jurisdicional pode, por vezes, demorar mais do que o esperado, frustrando as expectativas do proprietário do imóvel e expondo-o, eventualmente, a prejuízos irreparáveis, sobretudo nos casos em que o contrato de locação não conta com uma das garantias (caução, fiança, seguro-fiança, por exemplo) previstas no artigo 37 da Lei de Locações (Lei nº 8.245/91).
Atenta a essa situação, a Lei de Locações, alterada principalmente pelas leis 12.112/09 e 12.744/12, passou a permitir que os proprietários de imóveis possam obter liminares para desocupação dos imóveis em 15 dias, independentemente da manifestação do locatário no processo e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Tal prerrogativa se aplica às ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação, em contratos de locação desprovidos de quaisquer garantias, nos termos do artigo 59, inciso IX, da Lei de Locações.
Apesar de, em um primeiro momento, a jurisprudência não ter firmado uma posição incisiva quanto à aplicabilidade de tal disposição legal, o Poder Judiciário pareceu ter entendido o espírito da inovação pretendida pela Lei de Locações, tendo em visa a notória evolução do tema ao longo do tempo.
Ao analisar a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), por exemplo, verifica-se que muitas decisões judiciais usam esse dispositivo legal como fundamento para conceder a liminar pleiteada pelo locador e determinar a desocupação do imóvel pelo locatário em 15 dias.[1] O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ) vem seguindo o mesmo entendimento.[2]
Em apenas um dos diversos julgados sobre o assunto nos últimos anos, o TJ-SP reconheceu estarem presentes os requisitos previstos no artigo 59, inciso IX, da Lei de Locações, mas manteve a decisão de primeira instância que havia indeferido a liminar de despejo em 15 dias, argumentando que “diante da situação concreta, a concessão da liminar de despejo resultaria prematura, sem a viabilização da oitiva/defesa da parte contrária” (Agravo de Instrumento nº 2078843-81.2019.8.26.0000, 32ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/04/2019).
Ou seja, a posição jurisprudencial dominante é no sentido de que, presentes os requisitos legais autorizadores, a liminar prevista no artigo 59, inciso IX, da Lei de Locações deve ser concedida e o imóvel deve ser desocupado pelo locatário em 15 dias. Em outras palavras, a jurisprudência foi evoluindo ao longo do tempo para refletir a alteração promovida na Lei de Locações e assegurar sua aplicação e a efetividade de suas disposições. Nesse aspecto, ela protege menos os locatários e é mais direcionada a atender aos direitos e interesses dos locadores prejudicados pelo inadimplemento dos aluguéis que não contam com a pactuação de garantias em seu favor.
Assim, é possível afirmar que o avanço da jurisprudência sobre a efetiva aplicação do disposto no artigo 59, inciso IX, da Lei de Locações é positivo para os locadores e gera maior oferta de imóveis para locação, com impacto nos preços médios de mercado. Indiretamente, portanto, beneficia também os locatários, uma vez que os proprietários de imóveis têm mais segurança em alugá-los para quem não tenha condições de oferecer uma garantia no momento da celebração do contrato de locação, ou em manter o negócio já celebrado caso a garantia venha a ser extinta no decorrer da vigência do contrato.
[1] TJ-SP: Agravo de Instrumento nº 2273636-54.2018.8.26.0000, 25° Câmara de Direito Privado, julgado em 28/05/2019; Agravo de Instrumento nº 2064553-61.2019.8.26.0000, 32ª Câmara de Direito Privado, julgado em 10/05/2019; Agravo de Instrumento nº 2053445-35.2019.8.26.0000, 31ª Câmara de Direito Privado, julgado em 25/07/2017 e Agravo de Instrumento nº 2267446-75.2018.8.26.0000, 32ª Câmara de Direito Privado, julgado em 11/04/2019.
[2] TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0026990-62.2019.8.19.0000, 22° Câmara Cível, julgado em 10/09/2019; Agravo de Instrumento nº 0051387-88.2019.8.19.0000, 6ª Câmara Cível, julgado em 28/06/2019; Agravo de Instrumento nº 0067138-52.2018.8.19.0000, 15ª Câmara Cível, julgado em 21/05/2019 e Agravo de Instrumento nº 0023138-30.2019.8.19.0000, 19ª Câmara Cível, julgado em 06/08/2019.

- Categoria: Contencioso
Com a extinção de tantas companhias aéreas no país ao longo dos últimos 20 anos, é essencial fazer uma análise dos fatores que levariam essas empresas a falir, uma atrás da outra, sem conseguir se recuperar financeiramente para continuar operando no mercado.
A TransBrasil, em 2002, a Viação Aérea de São Paulo (Vasp), em 2008, e a Viação Aérea Rio Grandense (Varig), em 2010, são exemplos de grandes companhias áreas que tiveram sua falência decretada. Todas solicitaram o processamento de pedido de recuperação judicial, que acabou sendo depois convolado em falência. Em 2007, a BRA Transportes Aéreos também requereu o processamento de sua recuperação judicial e depois suspendeu definitivamente todos os seus voos e alienou suas aeronaves.
O caso mais atual desse tipo é o da Oceanair Linhas Aéreas, conhecida como Avianca Brasil, que requereu o processamento de pedido de recuperação judicial em dezembro de 2018 e, desde então, enfrenta graves dificuldades financeiras que deixam dúvidas sobre a sua efetiva capacidade de continuar operando no mercado. São aspectos preocupantes o expressivo número de funcionários demitidos, o alto endividamento, a retomada, pelos arrendadores, da maioria das aeronaves da empresa e a existência incerta de ativos, ainda mais depois da redistribuição de seus slots (reservas de horários de voos e decolagens em aeroportos) pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
É inegável que o alto custo operacional é um fator relevante para as dificuldades que as companhias aéreas enfrentam. Para compor sua frota, por exemplo, elas precisam adquirir ou arrendar aeronaves que, além de caras, estão sujeitas à variação cambial e têm custo alto de manutenção. Como agravante, ainda sofrem com a alta competitividade no mercado de aviação civil, traduzida em guerra de preços de passagens aéreas.
Esses fatores, no entanto, não são os únicos por trás das dificuldades financeiras enfrentadas pelas companhias aéreas. Para entender mais profundamente o problema, é preciso analisar de perto as questões jurídicas envolvendo o assunto.
Quando o processamento da recuperação judicial de uma empresa é deferido, todas as ações e execuções existentes em face do devedor são suspensas pelo prazo de 180 dias (artigo 6º, §4º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência - LRF). Durante esse período, é proibido retirar do estabelecimento do devedor os “bens de capital essenciais a sua atividade empresarial” (artigo 49, §3º, da LRF).
Na recuperação judicial de companhias aéreas, no entanto, a LRF estabelece uma exceção relevante: as aeronaves que forem objeto de arrendamento poderão ser reintegradas a qualquer momento pelos arrendadores, que são os seus efetivos proprietários, na hipótese de inadimplemento da contraprestação devida pelo uso das aeronaves. Ou seja, os arrendadores não têm seus direitos suspensos (artigo 199, §1º, da LRF), ainda que as aeronaves sejam notoriamente os bens mais essenciais às atividades das companhias aéreas.
Embora pareça contraditório, não existe qualquer antinomia ou conflito entre as normas. Na verdade, a LRF estabeleceu uma hipótese específica e peculiar em que a intenção do legislador foi afastar as companhias aéreas absolutamente inviáveis do instituto da recuperação judicial – aquelas que, além de não dispor de mínimas condições para adquirir aeronaves próprias para compor sua frota, nem sequer têm capacidade financeira para manter em dia os pagamentos devidos a título de contraprestação pelo arrendamento de aeronaves.
Tal discussão surgiu este ano no âmbito da recuperação judicial da Avianca Brasil. O juiz de primeira instância optou por mitigar a exceção expressamente prevista no artigo 199 da LRF, que confere ao arrendador o direito de retomada imediata das aeronaves na hipótese de inadimplemento do contrato de arrendamento, em razão do princípio da preservação da empresa e da função social dos contratos. Após vários meses de suspensão dos direitos dos arrendadores, porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) restabeleceu a aplicação da exceção prevista na LRF, permitindo a imediata reintegração de posse das aeronaves, independentemente do impacto que tal medida traria à Avianca Brasil. A decisão se baseou na premissa de que, se empresa não possui recursos para continuar cumprindo regularmente os contratos de arrendamento, a manutenção de suas atividades comerciais já não seria mais viável.
No caso em questão, além de não poderem reintegrar suas aeronaves por diversos meses, os arrendadores tiveram que permitir o uso de seus ativos pela Avianca Brasil sem qualquer contraprestação.
A situação preocupou os arrendadores e o mercado internacional de aviação, pois disseminou o receio de que, no Brasil, as companhias aéreas poderiam se valer do instituto da recuperação judicial como meio de transferir os riscos de suas atividades comerciais aos arrendadores de aeronaves. Isso encareceria os custos e encargos decorrentes dos contratos de arrendamento no Brasil e traria consequências negativas para as demais companhias aéreas brasileiras e para os consumidores, aos quais parte desses custos é repassada.
O caso da Avianca Brasil teve repercussão ainda na comunidade jurídica internacional, por representar também a violação da Convenção da Cidade do Cabo pelo Brasil. Ao formalizar sua adesão a esse tratado, o país promulgou o Decreto nº 8.008/13, nos termos do qual optou pela “Alternativa A” prevista na convenção. Segundo essa alternativa (artigo XI(2) do tratado), em um cenário de insolvência, a companhia aérea é obrigada a devolver as aeronaves objeto de contratos de arrendamento inadimplidos no prazo máximo de 30 dias. Como o caso da Avianca Brasil representou a primeira recuperação judicial de companhia aérea após a adesão do Brasil à Convenção da Cidade do Cabo, a repercussão foi negativa, e o Poder Judiciário brasileiro foi visto como descumpridor de tratados internacionais.
Após a devolução das aeronaves aos arrendadores e a redistribuição dos slots da Avianca Brasil pela Anac, as dificuldades financeiras da empresa se agravaram. Com a suspensão das atividades comerciais e a inexistência de bens relevantes que pudessem assegurar a continuidade das operações, o TJ-SP cogitou então convocar a recuperação judicial em falência, ainda que o plano de recuperação judicial tivesse sido aprovado pelos credores. Contudo, por maioria de votos, o TJ-SP entendeu que a convolação, de ofício, da recuperação judicial em falência era impossível, tendo em vista a ausência de requerimento expresso nesse sentido por parte dos arrendadores, que haviam apenas impugnado a legalidade do plano de recuperação judicial apresentado pela Avianca Brasil (Agravo de instrumento nº 2095938-27.2019.8.26.0000 interposto por Swissport Brasil Ltda. e Agravo de instrumento nº 2098259-35.2019.8.26.0000 interposto por Petrobras Distribuidora S/A).
O caso reforça a ideia de que, uma vez determinada a devolução das aeronaves para os arrendadores, dificilmente as companhias aéreas conseguem se reerguer. As alternativas disponíveis são apenas a convolação da recuperação judicial em falência ou o encerramento das atividades comerciais. Isso se deve, sobretudo, ao fato de que as companhias aéreas têm requerido tardiamente o processamento de recuperação judicial, somente quando já estão em situação financeira dramática e insustentável, na qual não há mais possibilidade de retomada das atividades comerciais e a insolvência é irreversível, em razão do alto grau de endividamento.

- Categoria: Direito público e regulatório
{youtube}https://youtu.be/PDjC62oMJCM{/youtube}

- Categoria: Ambiental
Se fosse encarado como um país, o setor de aviação civil internacional registraria o 20º PIB do mundo, mas estaria entre os dez principais poluidores, com mais de 2% das emissões globais dos gases do efeito estufa. É um impacto ambiental significativo e que vem crescendo de forma rápida, com consequências não só para a aceleração das mudanças climáticas, como também para a imagem do setor perante a opinião pública.
Preocupadas em mudar esse cenário, as empresas de aviação civil vêm se movimentando para propor medidas que contribuam para o atingimento das metas estabelecidas no Acordo de Paris, tratado global sobre o clima firmado durante a 21ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre as Mudanças do Clima (COP 21), em 2015.
Aprovado pelas 195 nações que fazem parte da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (na sigla em inglês, UNFCCC), o acordo contém medidas para “manter o aumento da temperatura média global bem abaixo dos 2 °C acima dos níveis pré-industriais”, limite apontado como seguro pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (na sigla em inglês, IPCC) para evitar boa parte das consequências mais indesejadas do aquecimento global.
O acordo só entrou em vigor em novembro de 2016, depois de ratificado por pelo menos 55 países responsáveis por 55% das emissões mundiais de gases de efeito estufa (GEE). O Brasil conclui seu processo de ratificação em 12 de setembro do mesmo ano.
Além de estabelecer compromissos nacionais, o Acordo de Paris provocou uma série de movimentos também entre as empresas privadas. No setor de aviação civil, a Icao (sigla em inglês para Organização da Aviação Civil Internacional), representada por 191 países, lançou o primeiro acordo global buscando reduzir as emissões nesse segmento. Em outubro de 2016, a entidade aprovou o “Esquema de Redução e Compensação de Emissões da Aviação Internacional” (na sigla em inglês, Corsia), por meio da Resolução A 39-3.
A resolução esclarece que, para viabilizar o atingimento das metas de redução de emissão de gases de efeito estufa, foi adotada uma “cesta de medidas de mitigação”, a qual inclui:
- desenvolvimento de tecnologias e de novos padrões para as aeronaves;
- melhoria no controle do tráfego aéreo e das operações em solo para economia de combustível; e
- uso de biocombustíveis.
Dado o crescimento do tráfego aéreo internacional, no entanto, a Icao reconhece que as medidas detalhadas acima não são suficientes para conseguir a redução desejada na emissão de CO2. Para tanto, é necessário implementar mecanismos de mercado e compensação de emissões, exatamente o que o Corsia também proporciona, por meio da compra de créditos de carbono gerados por outros setores e iniciativas.
O esquema foi estruturado em três fases, tendo como referência (ou linha de base) a projeção de emissões para o ano de 2020. A partir desse valor, qualquer aumento verificado de emissões deverá ser compensado.
As duas primeiras fases serão por adesão voluntária dos países e das companhias: uma fase “piloto” entre 2021 e 2023, seguida de uma fase “inicial” entre 2024 e 2026. De 2027 até 2035, “as medidas e metas de redução de emissões valerão para todos os países, com exceção dos menos desenvolvidos, pequenas ilhas em desenvolvimento e países que não atinjam um percentual mínimo de contribuição para as emissões totais do setor”.
Estudo do Instituto de Conservação e Desenvolvimento da Amazônia (Idesam) afirma que “até julho de 2018, 72 países haviam se comprometido a participar voluntariamente do Corsia desde sua fase piloto, o que representa 70% das atividades relacionadas à aviação internacional. O Brasil ainda não aderiu ao acordo e se comprometeu a participar apenas na fase mandatória, a partir de 2027”.
Segundo as regras do mecanismo, os países de origem e de destino do voo precisam aderir ao acordo para que a obrigação de redução e compensação de emissões de voos entre os dois países seja aplicável em qualquer uma das fases do esquema. Caso o Brasil não participe das fases voluntárias entre 2021 e 2026, as companhias aéreas dos outros países ficam desobrigadas de compensar suas emissões nas viagens para o Brasil nesse período – o que tende a atrair a concorrência estrangeira para o país.
A compensação é um instrumento antigo, que começou a ser usado com a aprovação do Protocolo de Quioto, em 1997, e tem agora, portanto, um novo incentivo para ser empregado em larga escala por meio do Corsia.
Esse mecanismo se dá basicamente por meio de compra de créditos de carbono certificados, que podem ser emitidos por diferentes tipos de projeto, como:
- florestais, que envolvem o replantio de florestas ou medidas para evitar o desmatamento;
- energéticos, que podem ser relacionados a fontes renováveis de energia ou eficiência energética; e
- troca de combustíveis não renováveis e com alta emissão de gases de efeito estufa por combustíveis renováveis.
A adesão voluntária do Brasil e das companhias brasileiras ao Corsia produzirá, sem dúvida, benefícios ambientais, por meio do patrocínio a projetos que geram créditos de carbono, além de contribuir para o objetivo central do Acordo de Paris, que é frear o aquecimento global.
É um movimento que pode ter impacto positivo para a imagem das empresas, considerando que a maioria dos passageiros de voos internacionais se preocupa com o aquecimento global e estaria até mesmo disposta a pagar mais por um bilhete aéreo para compensar as emissões do voo.
Um dos incentivos mais atraentes da adesão voluntária das empresas brasileiras ao Corsia, porém, seria o ganho de competitividade que a medida pode proporcionar, uma vez que ela obriga as companhias estrangeiras a fazer o mesmo, incorrendo em custos muitas vezes maiores que as nacionais.

- Categoria: Societário
Com a promulgação da Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/19), que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica e cujo propósito é estabelecer garantias de livre mercado, já estão em vigor, desde 20 de setembro, novas regras que deverão simplificar o dia a dia do empresário brasileiro e desburocratizar o ambiente de negócios nacional.
Para viabilizar tais medidas, também foram alteradas normas e leis específicas (entre elas o Código Civil) cuja natureza e finalidade impactam diretamente o direito societário e, consequentemente, a forma e a condução dos negócios por empreendedores no país.
A Lei da Liberdade Econômica criou a figura da “sociedade unipessoal”, isto é, uma sociedade de responsabilidade limitada com um único sócio. Antigamente, para se abrir uma empresa de responsabilidade limitada, em que o patrimônio dos sócios para solução de passivos da sociedade se restringe ao valor da sua contribuição ao capital social, era necessário recorrer a uma sociedade limitada (Ltda.) ou a uma empresa individual de responsabilidade limitada (Eireli).
No entanto, nenhum desses dois tipos societários realmente atendia às necessidades dos empresários no país. A sociedade limitada, por natureza, exigia pelo menos dois sócios em seu quadro social. Segundo dados de 2014,[1] 85,7% das sociedades limitadas no Brasil tinham somente dois sócios. A pesquisa não informa, mas uma simples observação do mercado permite verificar que, na grande maioria das sociedades limitadas, o segundo sócio detém uma participação meramente simbólica, como 0,1% do capital social, apenas para satisfazer a regra da pluralidade dos sócios.
As Eirelis, por sua vez, como o próprio o nome indica, são formadas por apenas uma pessoa, mas representam um veículo pouco usado no Brasil, pois estão obrigadas por lei a integralizar capital social de, no mínimo, cem salários mínimos (atualmente, R$ 99.800) no ato de sua constituição. Ou seja, ao tentar solucionar o problema da pluralidade dos sócios com a Eireli, o legislador acabou criando um entrave financeiro para a grande maioria dos pequenos negócios no Brasil, que, segundo dados divulgados pelo Sebrae em 2018,[2] representam quase 99% dos empreendimentos, divididos entre micro e pequenas empresas – uma parcela relevante, portanto.
Com a criação da sociedade unipessoal, passa a ser admitida a constituição de uma sociedade de responsabilidade limitada por uma única pessoa, sem exigência de capital mínimo ou máximo, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil.
Outra medida há muito tempo desejada diz respeito à desconsideração da personalidade jurídica. Em sociedades em que há divisão patrimonial dos bens dos sócios e da empresa, com a limitação da responsabilidade daqueles perante terceiros (como ocorre nas sociedades limitadas por exemplo), a lei prevê que a personalidade jurídica da empresa seja desconsiderada quando submetida a abuso por administradores e/ou sócios, de modo que estes sejam responsabilizados pelas obrigações da sociedade.
Tal desconsideração seria devida “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”. Como o Código Civil não especifica o que caracteriza desvio de finalidade ou confusão patrimonial, coube à doutrina e à jurisprudência definir tais conceitos ao longo dos anos. Além disso, ao dispor que a desconsideração seria devida para que “os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações da sociedade fossem estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”, o legislador acabou deixando margem suficiente para que sócios e administradores que nada tinham a ver com o ato abusivo também fossem responsabilizados, como sócios minoritários sem poder de gestão, por exemplo.
É louvável, portanto, a inovação trazida pela Lei da Liberdade Econômica, que alterou o artigo 50 do Código Civil para restringir sua interpretação. Com a nova redação, ficou especificado que a desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer para alcançar os bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica “beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”. Também foram definidos os conceitos de “desvio de finalidade” e “confusão patrimonial”, a fim de garantir tratamento equânime sobre o tema perante os diversos tribunais do país e maior segurança jurídica ao ambiente de negócios brasileiro.
Além de fixar parâmetros mais claros para a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, a Lei da Liberdade Econômica buscou esclarecer que seu caráter é de cunho excepcional e que a mera existência de grupo econômico não autoriza a sua aplicação. A nova lei também enalteceu o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas como um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos. Em artigo anterior neste portal, as novas regras para a desconsideração da personalidade jurídica são abordadas em mais profundidade.
Com a Lei da Liberdade Econômica, a interpretação dos contratos empresariais deverá observar novas normas, as quais valorizam mais o que foi combinado entre as partes (pacta sunt servanda). Isso confere maior autonomia para as partes pactuarem livremente regras de interpretação em detrimento das estipulações legais, a fim de impor certos limites para a intervenção judicial na interpretação de tais contratos.
De acordo com alguns princípios estipulados pela nova lei, a interpretação do contrato deve considerar o sentido que:
- for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio;
- corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;
- corresponder à boa-fé;
- for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e
- corresponder àquilo que seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida.
Fica definido também que, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado e a excepcionalidade da revisão contratual, presumindo-se a simetria e o equilíbrio dos contratos civis e empresariais até que se prove o contrário. Fica garantido também que a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada.
Com essas alterações, dúvidas de interpretação de contratos civis e comerciais à luz das leis aplicáveis, que antes poderiam ter o efeito de restringir a liberdade contratual do empreendedor, agora se nortearão por critérios mais objetivos, dada a maior autonomia das partes no momento da elaboração do documento. A mudança evitará interpretações muitas vezes desfavoráveis de situações de duplo sentido ou não previstas por lei.
Seguindo a recente onda de modernização do Estado e digitalização de dados e informações, a Lei da Liberdade Econômica também estabelece que documentos públicos ou particulares poderão ser guardados em meios eletrônicos, hipótese em que terão o mesmo valor probatório que documentos físicos para todos os efeitos legais e para a comprovação de qualquer ato de direito público. Os originais de tais documentos poderão ainda ser destruídos após sua digitalização, desde que constatada a integridade do documento digital, nos termos que serão estabelecidos em regulamento a ser editado pelo governo federal.
Foi alterada ainda a Lei de Registro Público de Empresas Mercantis (Lei nº 8.934/94), com o objetivo de garantir maior celeridade e eficiência na constituição e extinção de empresas e no registro e arquivamento de atos societários. Agora, as juntas comerciais devem analisar e registrar tais atos em prazos específicos, sob pena de que eles sejam considerados arquivados.
| Registro automático |
|
| Registro em até 2 dias úteis |
|
| Registro em até 5 dias úteis |
|
Ao estabelecer que atos, documentos e declarações que contenham informações meramente cadastrais sejam levados automaticamente a registro se puderem ser obtidos de outras bases de dados disponíveis em órgãos públicos, a lei criou a figura do registro automático de informações, transferindo do indivíduo para o Estado parte do ônus de manter dados cadastrais atualizados.
Outra alteração há tempos aguardada era a permissão para que sociedades limitadas emitam debêntures (títulos de crédito) em oferta privada, direito hoje exclusivo das sociedades anônimas. Ela havia sido incluída no texto da Medida Provisória nº 881/19 na comissão mista do Congresso, porém foi removida do texto legal pela Câmara dos Deputados. Espera-se que o tema volte a ser discutido no Legislativo, dado o impacto positivo que pode gerar no mercado de capitais brasileiro.
Os principais beneficiados pelas simplificações e pela desburocratização trazidas pela Lei da Liberdade Econômica deverão ser as pequenos empresas (incluindo startups), o que possivelmente repercutirá em geração de empregos ao longo dos anos. As medidas criam também um ambiente mais propício à inovação e à realização de negócios, o que pode dinamizar a economia e contribuir para tornar o país mais competitivo no cenário internacional.

[1] Fonte: Radiografia das Sociedades Limitadas, realizada pelo Núcleo de Estudos em Mercados e Investimentos - FGV Direito SP, publicado em outubro de 2014: https://direitosp.fgv.br/sites/direitosp.fgv.br/files/arquivos/anexos/radiografia_das_ltdas_v5.pdf
[2] Fonte: Estudo de mercado: pequenos negócios em números, http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sp/sebraeaz/pequenos-negocios-em-numeros,12e8794363447510VgnVCM1000004c00210aRCRD

- Categoria: Ambiental
Em edição extra do Diário Oficial da União do dia 20 de setembro, foi publicada a Lei nº 13.874/19, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, proveniente da Medida Provisória nº 881. Embora a lei não mencione expressamente sua aplicação no direito ambiental, devemos entender que esse é um ramo transdisciplinar que permeia a discussão de diversas outras áreas. Por isso, a Lei da Liberdade Econômica será aplicada também em aspectos ambientais.
Suas alterações nessa área tratam, resumidamente, de autorizações em geral e do processo de licenciamento. Em primeiro lugar, a lei dispõe como direito de toda pessoa, seja ela natural ou jurídica, o desenvolvimento de atividade econômica de baixo risco sem a necessidade de quaisquer atos públicos de liberação da atividade econômica, inclusive, a licença ambiental e qualquer outra autorização por parte da Administração Pública. Quando não prevista em lei, a classificação de tais atividades será feita por ato do Poder Executivo federal. Como resultado, haverá menor participação dos órgãos ambientais e seu corpo técnico na determinação de quais atividades serão isentas de licenciamento, o que pode vir a ser questionado perante o Judiciário.
Outro ponto é que a fiscalização do exercício dessas atividades será realizada posteriormente, o que pode ser considerado contrário ao princípio da prevenção. Por outro lado, essa medida reduz a discricionariedade e as interpretações diversas. Se a classificação das atividades for bem elaborada, facilitará a fiscalização dos órgãos ambientais e o planejamento e prevenção por parte do empreendedor, aumentando a segurança jurídica.
Já para atividades que não sejam de baixo risco, merece destaque a previsão de um prazo expresso para análise das solicitações de atos públicos de liberação como direito essencial para o desenvolvimento e crescimento econômico do país, ressalvadas vedações expressas em lei. Transcorrido o prazo fixado, se a autoridade competente não se pronunciar sobre o pedido, ele será considerado aprovado de forma tácita para todos os efeitos.
O texto-base enviado à sanção presidencial fazia uma ressalva a essa previsão, ao dispor que o prazo específico não se confundia com aqueles da Lei Complementar nº 140/11, que define os prazos para tramitação do processo de licenciamento ambiental. Contudo, essa ressalva foi objeto de veto presidencial, sob a justificativa de que a previsão era inconstitucional por violar o dever do poder público de prevenção ambiental.
A Lei Complementar nº 140/11 também estabelece de forma expressa que o decurso dos prazos de licenciamento, sem a emissão da licença ambiental, não implica sua emissão tácita, representando, assim, uma vedação expressa em lei. Por isso, acreditamos que o disposto na Lei nº 13.874/19 sobre prazos para atos públicos de liberação, embora possa suscitar dúvidas, não se aplica ao licenciamento ambiental.
Esse assunto já foi amplamente discutido em diversos projetos de lei e deve ser motivo de um dos próximos grandes debates ambientais no Congresso com o PL nº 3.729/04 (Lei Geral do Licenciamento Ambiental). A aprovação tácita de licenças ambientais sofre críticas de forma recorrente, devido ao entendimento de que o licenciamento ambiental é instrumento de prevenção e perde seu sentido e essência – e, portanto, sua função – se utilizado como instrumento a posteriori, uma vez que pode ser impossível reverter eventuais danos ambientais.
O mesmo raciocínio não se aplica, no entanto, a outras autorizações ambientais, como as de supressão de vegetação ou as emitidas por órgãos auxiliares, como Iphan, Funai, ICMBio e Fundação Cultural Palmares, que poderão ser aprovadas tacitamente, nos termos da nova legislação. Embora em suas razões de veto, a Presidência da República tenha justificado a inconstitucionalidade da aprovação tácita também com base na impossibilidade de regulação de apenas um tipo de licença ambiental, dando a entender que as outras autorizações também deveriam respeitar o dever de prevenção, isso não foi positivado no texto legal.
A Lei da Liberdade Econômica prevê ainda que não poderá ser exigida do empreendedor medida ou prestação compensatória ou mitigatória abusiva, em sede de estudos de impacto ou outras liberações de atividade econômica. É classificada como abusiva a execução ou prestação de qualquer tipo para áreas ou situações além daquelas diretamente impactadas pela atividade econômica, bem como medidas irrazoáveis ou desproporcionais.
Com essa previsão, a lei impede que medidas compensatórias possam ser determinadas aos afetados indiretos, situação muito comum em casos de grandes empreendimentos. Entretanto, ela assegura que os investimentos em medidas compensatórias serão realizados em impactos efetivamente causados, dificultando a transferência de obrigações estatais para o empreendedor.
Os autores abordaram o tema também em O licenciamento ambiental na MP da Liberdade Econômica, no blog de Fausto Macedo, no jornal O Estado de S. Paulo.

- Categoria: Imobiliário
A oportunidade de regularização de edificações concedida pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Lei nº 17.202/19, deve beneficiar mais de 750 mil imóveis em situação irregular na capital do estado. A Lei de Anistia, como é popularmente conhecida, atende às disposições do Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e estabelece a subordinação da regularização de construções, quando necessário, à realização de obras.
Promulgada pelo prefeito Bruno Covas no último dia 16 de outubro, a nova lei visa regularizar edificações construídas antes da promulgação do Plano Diretor Estratégico de 2014 e, para tanto, estabelece três procedimentos distintos.
Um deles é o automático, no qual o proprietário não precisa realizar nenhum ato nem tomar qualquer tipo de providência para garantir a regularização. Enquadram-se nesse procedimento apenas imóveis de baixo e médio padrão, que eram isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2014 (ocupados por aposentados e pensionistas com rendimento inferior a três salários mínimos, nos termos da Lei Municipal n° 15.889/13).
O segundo procedimento é o de regularização por declaração do proprietário. Estão enquadrados nessa categoria imóveis com até 1.500m² e altura de até 10 metros, de uso residencial, multifamiliar (até 20 unidades), de Habitação de Interesse Social (HIS) e de Habitação de Mercado Popular (HMP), mas eles ainda devem cumprir outros requisitos da lei. O interessado poderá protocolar o requerimento de regularização por meio de site criado pela Prefeitura e apresentar documentos técnicos simplificados, assinados pelo responsável pela edificação, bem como documentos relativos ao próprio imóvel e à construção.
Para realizar esse procedimento, é preciso pagar taxa de R$ 10,00 por metro quadrado regularizado. Ficam isentos desse recolhimento os empreendimentos de HIS e HMP.
Para as edificações que não se enquadrem em nenhuma das hipóteses acima, a Lei de Anistia cria a possibilidade da regularização pelo rito comum, mediante a apresentação do mesmo rol de documentos exigido para o requerimento de rito declaratório. A taxa cobrada para esse procedimento também será de R$ 10,00 por metro quadrado regularizado. Na prática, portanto, a legislação não diferencia muito os ritos declaratório e comum.
No mais, a depender do potencial construtivo estipulado pelo zoneamento municipal (relação entre o tamanho da área construída e o da área do terreno), talvez seja necessário pagar outorga onerosa para garantir a regularização. Ou seja, a prefeitura estipula o potencial construtivo máximo para as edificações de cada zoneamento, possibilitando o pagamento de remuneração para a construção acima desse limite, a chamada outorga onerosa. Existe, porém, limite para a aquisição de potencial construtivo adicional. Caso a edificação fique acima do limite máximo (já considerando a outorga onerosa), ela não poderá ser regularizada. O cálculo da outorga onerosa se dará nos termos da Lei de Anistia, e o seu pagamento poderá ser realizado em até 12 parcelas fixas mensais.
Outros casos não abrangidos pela nova lei: (i) obras concluídas após 31 de julho de 2014; (ii) obras construídas em áreas de represas, lagos, córregos e linhas de transmissão elétricas; (iii) obras realizadas em terrenos públicos municipais, incluindo logradouros, estaduais ou federais; (iv) construções que tenham sido objeto de Operação Integrada ou Operação Urbana Consorciada; (v) áreas atingidas por melhoramento viário previsto em leis municipais; e (vi) áreas que não se enquadrem nas restrições de loteamentos da prefeitura.
Merece destaque a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) na regularização das edificações. O pagamento do tributo é uma das exigências da lei.
A Lei de Anistia prevê ainda a edição de decreto regulamentar para esclarecer questões específicas. O decreto deverá ser promulgado pelo Poder Executivo em até 60 dias, contados da publicação da legislação, ou seja, até 17 de dezembro deste ano.
Apenas após a promulgação do decreto regulamentar e a entrada em vigor da lei, prevista para 1º de janeiro de 2020, será aberta aos interessados a possibilidade de aderir ao programa de anistia e de enviar seus requerimentos, quando cabível, à prefeitura. O prazo inicialmente previsto para a a solicitação de regularização é de 90 dias, podendo ser prorrogado por três vezes pelo mesmo período de 90 dias.
Com a regularização da edificação, será possível emitir auto de conclusão de obra, requisito para que a construção seja averbada na matrícula do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis competente. Essa também é uma exigência para a obtenção do alvará de funcionamento e do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros para imóveis funcionais.
Mais informações, no site da prefeitura de São Paulo: https://meuimovelregular.prefeitura.sp.gov.br/

- Categoria: Bancário, seguros e financeiro
O Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional, no dia 7 de outubro, o Projeto de Lei (PL) nº 5.387/19, que permite concretizar um dos objetivos da atual gestão do Banco Central do Brasil (BCB) mencionados pelo presidente da autarquia em sua cerimônia de posse, em março deste ano: o de “tornar o mercado mais aberto para os estrangeiros, com uma eventual moeda conversível[1] que sirva de referência para a região”.
Submetido pelo presidente do BCB e pelo Ministro da Economia à Presidência da República em 12 de setembro, o PL representa um importante passo rumo à liberalização do regime cambial brasileiro das amarras históricas da herança varguista,[2] já bastante mitigadas, mas em parcial vigência desde 1933.
Dando sequência à Agenda BC+ de modernização do sistema financeiro nacional e em atenção ao diagnóstico feito pelo diretor de Regulação do BCB de que “muitas inovações praticadas nos mercados internacionais não tinham respaldo legal para implementação no Brasil”, o PL propõe alterações de cinco ordens ao regime cambial brasileiro.
Em primeiro lugar e do ponto de vista formal, há uma proposta de reorganização normativa que inclui a consolidação legal de 39 dispositivos que, de alguma forma, versam sobre o regime cambial. Embora permaneçam existindo ao menos outros seis diplomas legais com considerações de relevância sobre a matéria e subsistam também diversas normas infralegais, o Conselho Monetário Nacional (CMN) e o BCB ficam com a missão de adaptar e sanear o que for necessário, razão pela qual o PL prevê a vacatio legis de um ano.
Percebe-se que houve uma alteração na estratégia normativa, a qual apostou em um tom mais principiológico, deixando alto grau de discricionariedade para o CMN e do BCB. Isso demonstra um reconhecimento de que essas entidades têm maior capacidade de adaptação a mudanças de conjuntura, como as registradas atualmente por influência crescente da tecnologia – e de suas tendências – no setor financeiro.
A tabela abaixo sintetiza os normativos legais que poderão ser alterados e revogados, total ou parcialmente, pelo PL 5.387/2019
Normativos afetados pelo PL 5.387/19
|
Alterados |
Parcialmente revogados |
Integralmente revogados |
|
Decreto 23.258/1933 |
Lei 4.182/1920 |
Decreto-Lei 1.201/1939 |
|
Lei 4.131/1962 |
Decreto 23.258/1933* |
Decreto-Lei 9.025/1946 |
|
Lei 4.728/1965 |
Decreto-Lei 2.440/1940 |
Decreto-Lei 9.602/1946 |
|
Lei 8.383/1991 |
Lei 1.521/1951[3] |
Decreto-Lei 9.863/1946 |
|
Lei 10.912/2001 |
Lei 3.244/1957 |
Lei 156/1947 |
|
Lei 11.371/2006 |
Lei 4.131/1962* |
Lei 1.383/1951 |
|
Lei 4.595/1964 |
Lei 1.807/1953 |
|
|
Lei 4.728/1965* |
Lei 2.145/1953 |
|
|
Lei 5.409/1968 |
Lei 2.698/1955 |
|
|
Decreto-Lei 1.060/1969 |
Lei 4.390/1964 |
|
|
Lei 6.099/1974 |
Decreto-Lei 857/1969 |
|
|
Decreto-Lei 1.986/1982 |
Lei 9.813/1999 |
|
|
Decreto-Lei 2.285/1986 |
Medida Provisória 2.224/2001 |
|
|
Lei 7.738/1989 |
Lei 13.292/2016 |
|
|
Lei 8.021/1990 |
||
|
Lei 8.383/1991* |
||
|
Lei 8.880/1994 |
||
|
Lei 9.069/1995 |
||
|
Lei 9.529/1997 |
||
|
Lei 11.371/2006* |
||
|
Lei 11.803/2008 |
||
|
Lei 12.865/2013 |
||
|
Lei 13.292/2016 |
||
|
Lei 13.506/2017 |
||
|
6 |
24 (*5) |
14 |
*Também constam dos alterados
Do ponto de vista material, o PL 5.387/19 altera a disciplina, sobretudo, de quatro temas. Desses, três guardam correlação direta com a já mencionada herança da Era Vargas, enquanto o quarto e último se refere às recentes exigências de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Terrorismo (PLD) e proteção de dados, que tanto impactaram a agenda regulatória do sistema financeiro nos últimos anos.
Tais alterações são tratadas em mais detalhes no quadro abaixo.
Principais alterações materiais constantes do PL 5.387/19
|
Tema |
Como é |
Mudança proposta |
|
Curso forçado |
As hipóteses de estipulação de pagamento em moeda estrangeira de obrigações exequíveis no território nacional estão restritas aos cinco incisos do art. 2º do Decreto-Lei nº 857/69 |
As hipóteses de estipulação de pagamento em moeda estrangeira de obrigações exequíveis no território nacional foram ampliadas para os oito incisos do art. 13 do PL 5.387/19. Foram incluídos nessas hipóteses os contratos de arrendamento mercantil celebrados entre residentes com base em captação de recursos no exterior. Além disso, o PL deixa claro que as operações de exportação indireta também estão excetuadas da restrição. O CMN poderá regular outras situações |
|
Repressão financeira[4] |
O art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/1951 classifica como crime a cobrança de ágio superior à taxa oficial de câmbio sobre quantia permutada por moeda estrangeira |
O disposto no art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/1951 não mais se aplica às operações de câmbio efetuadas de acordo com o PL 5.387/19 (art. 16) |
|
Controles de capitais |
Atualmente, a Circular BCB nº 24/1966 veda às instituições financeiras, por qualquer forma, aplicar ou promover a colocação, no exterior, de recursos coletados no país Apenas as pessoas elencadas no art. 187 da Circular BCB nº 3.691/2013 podem ter conta em moeda estrangeira no Brasil. O art. 50 da Lei nº 4.182/1920 veda as operações de “jogo sobre câmbio” (ainda que, em algumas oportunidades, o CRSFN – Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional – tenha entendido que tal dispositivo não vigora por falta de tipificação adequada)[5] A manutenção de recursos no exterior, em moeda estrangeira, relativos ao recebimento de exportação brasileira de mercadorias e serviços, precisa observar limites regulamentares. |
Autoriza instituições bancárias a investir ou realizar operações de crédito e financiamento no exterior com recursos captados no Brasil, observada a regulamentação pertinente (art. 15) Apesar de a matéria já ser regulada pelo BCB, o PL deixa claro que compete a essa autarquia regulamentar quem pode deter conta em moeda estrangeira no Brasil e segundo quais requisitos e procedimentos isso é possível (art. 5º). Revoga a vedação a operações de “jogo sobre o câmbio” (art. 26). A manutenção de recursos no exterior, em moeda estrangeira, relativos ao recebimento de exportação brasileira de mercadorias e serviços não mais precisa observar limites regulamentares (art. 25). Favorece o uso do real em negócios internacionais, uma vez que permite, em nível legal, o recebimento de ordens de pagamento de terceiros do exterior a partir de contas em reais mantidas no Brasil e tituladas por bancos estrangeiros. A matéria já foi regulada pelo BCB por meio da Circular nº3.691, mas a medida favorece o desenvolvimento do mercado de correspondência bancária internacional (art. 6º). O conceito de capital estrangeiro no país se torna mais amplo, sendo estendida a garantia de não discriminação (art. 9º). O BCB pode prever situações em que a compensação privada de créditos ou valores entre residentes e não residentes seja autorizada (art. 12). O CMN e o BCB podem autorizar outros tipos de instituições a efetuar remessas internacionais de moeda nacional ou estrangeira (art. 14). As exigências e vedações ao comércio de moeda estrangeira não mais se aplicam a operações de compra e venda realizadas entre pessoas físicas, de forma eventual e não profissional, até US$ 1 mil. Tal previsão pode impulsionar o desenvolvimento de plataformas peer-to-peer para negociação de câmbio, como visto em outros países (art. 18). Revoga a caracterização de determinadas operações como ilegítimas (art. 26). |
|
Deveres informacionais |
As instituições sujeitas à regulação do BCB devem observar uma série de requisitos de cadastro, registro e monitoramento, com foco em PLD, mas há poucas considerações de proporcionalidade na norma e há empresas de tecnologia cuja sujeição à regulação do BCB é ainda incerta. A Lei Complementar nº 105/2001 e a Lei nº 13.709/2018 impõem uma série de restrições e obrigações ao tratamento e compartilhamento de dados de usuários do sistema financeiro, não havendo previsões específicas de regime diferenciado para extração de dados macroeconômicos e de pesquisa. |
Explicita em diversas oportunidades a obrigatoriedade de cautelas de cadastro, registro e monitoramento, com foco em PLD. Essas previsões constam de passagens nas quais o PL altera o regime vigente no sentido de conferir maior liberdade de atuação aos agentes privados, pelo que enfatiza a proporcionalidade entre direitos e deveres. O BCB pode requerer de residentes as informações necessárias para compilar estatísticas macroeconômicas oficiais. Essas informações poderão ser disponibilizadas pelo BCB para subsidiar pesquisas, desde que resguardado o sigilo do titular (art. 11). Ao regulamentar a obrigatoriedade de fornecimento de informações, o BCB deverá levar em conta a razoabilidade do custo de observância. |
Como se pode observar na tabela acima, há uma preocupação maior com a proporcionalidade das exigências regulatórias, o que também é fruto dos seguidos questionamentos feitos por novos entrantes no sistema financeiro não só a respeito das barreiras de entrada historicamente elevadas, como também sobre a racionalidade e razoabilidade das exigências regulatórias, que por vezes se mostram anacrônicas.
Já objetivos mais ousados, como a conversibilidade do real e a possibilidade de pessoas físicas deterem contas em moeda estrangeira no Brasil, seguem distantes do regime proposto pelo PL, como reconheceu o próprio presidente do BCB.
Dessa forma, mais do que ser revolucionário em seu conteúdo, o PL 5.387/19 se concentra em conferir à autoridade monetária condições de levar a cabo a missão de liberalizar o mercado cambial brasileiro quando – e se – as condições políticas e macroeconômicas necessárias o permitirem.
[1] Até o fim do padrão-ouro, em 1914, o conceito de moeda conversível guardava relação com aquelas que podiam ser trocadas por ouro, de acordo om uma taxa oficial fixa. Posteriormente, a ideia de conversibilidade deixou de ser relacionada à possibilidade de troca de uma determinada moeda por ouro, passando à troca de uma moeda por outra, a uma taxa de câmbio de paridade. De 1946 a 1978, o Fundo Monetário Internacional (FMI) consubstanciou, no artigo VIII de seu Convênio Constitutivo, o conceito de conversibilidade, importando na: (i) ausência de restrições a pagamentos por transações correntes; (ii) não aplicação de práticas monetárias discriminatórias; e (iii) na possibilidade de conversão de saldos de suas moedas em poder de autoridades monetárias de outros países. Em 1978, contudo, sob o sistema de taxas de câmbio flutuantes, o conceito de conversibilidade ficou mais fluído e foi substituído, no Convênio Constitutivo do FMI, pelo de moeda livremente utilizável (freely usable currency). Nos termos do art. XXX, “f” do Convênio Constitutivo, moeda livremente utilizável é aquela amplamente utilizada para fazer pagamentos de transações internacionais e amplamente negociada nos principais mercados organizados. De forma mais corriqueira, contudo, o conceito de moeda conversível é atualmente utilizado para definir aquela moeda sobre a qual não pairam restrições de movimentação, comercialização e uso pelos países emissores.
[2] Em especial, destacam-se: (i) o Decreto nº 22.626/1933, que limitou as taxas de juros e contribuiu para o estabelecimento de um regime de repressão financeira (vide nota de rodapé 4) no Brasil; (ii) o Decreto nº 23.258/1933, que classifica diversas modalidades de operações cambiais como ilegítimas, consagrando os controles cambiais rígidos; e (iii) o Decreto nº 23.501/1933 (revogado e parcialmente substituído pelo Decreto-Lei nº 857/1969), que vedou a indexação de contratos à moeda estrangeira ou ao ouro, impondo o curso forçado da moeda nacional.
[3] Parcialmente revogado de forma tácita, com a remoção da efetividade parcial.
[4] De acordo com o conceito idealizado por Edward Shaw, repressão financeira é o fenômeno verificado quando o governo limita o livre fluxo financeiro para reduzir a remuneração obtida pelos poupadores e favorecer certos tomadores de recursos. Para tanto, o governo limita a possibilidade de investimentos em outras jurisdições, pelo que a repressão financeira normalmente é acompanhada por contas de capital fechadas e limites rígidos a aplicações financeiras no exterior.
[5] Vide os acórdãos referentes aos recursos 4.298, 4.339, 4.341, 4.380 e 4.400.

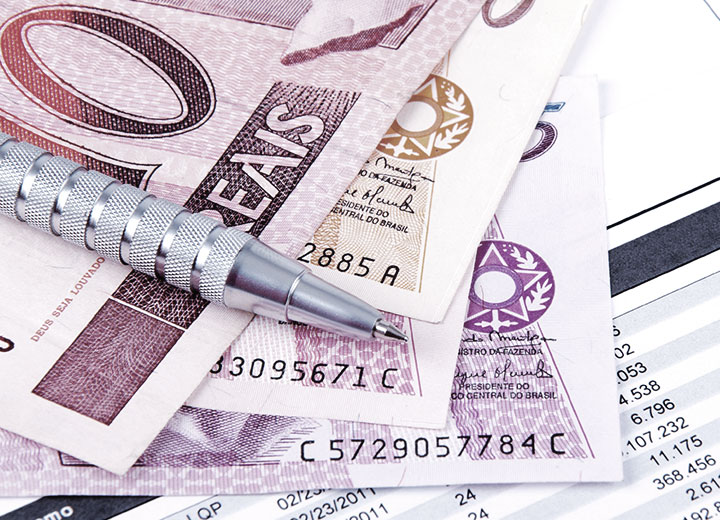
- Categoria: Tributário
Desde que o STF firmou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da Cofins, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) nº 574.706, muitos contribuintes tiveram desfecho definitivo em seus processos individuais sobre o tema, o que deu margem a novas questões controvertidas. Uma das polêmicas mais relevantes, em razão dos efeitos de caixa verificados, diz respeito a quando tributar pelo IRPJ e pela CSLL o montante dos créditos reconhecidos judicialmente e que serão objeto de compensação administrativa.
A matéria é controvertida por sofrer impacto de diferentes eventos relevantes: (a) o trânsito em julgado da ação judicial individual ajuizada pelo contribuinte; (b) a efetiva mensuração dos créditos pelo contribuinte e o reconhecimento contábil dos valores a recuperar como ativo, em contrapartida à receita; (c) a habilitação dos créditos perante a Receita Federal do Brasil (RFB) como condição para realizar a compensação; (d) a efetiva compensação dos créditos com outros tributos federais, nos termos regulados pela Receita Federal; e (e) a homologação da compensação pela Receita Federal.
Em termos práticos, a incidência do IRPJ e da CSLL pressupõe o direito do contribuinte de dispor livremente do valor dos créditos, sem depender de ato de terceiro. Para muitos, o mero reconhecimento do direito de crédito ora tratado parece não assegurar essa disponibilidade, já que representa apenas o direito de exigir do devedor a disponibilização desse rendimento.
O trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito de crédito do contribuinte é o primeiro passo para a aquisição da disponibilidade jurídica da renda, um dos eventos passíveis de configurar o fato gerador do IRPJ e CSLL. A concepção de “primeiro passo” é relevante, pois, embora o contribuinte tenha, com a sentença transitada em julgado, direito absoluto e incondicional ao crédito, na maioria dos casos não há, naquele momento, a quantificação do direito que foi reconhecido.
Em geral, as decisões transitadas em julgado nos mandados de segurança impetrados pelos contribuintes visando à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins são ilíquidas (não fixam o valor a recuperar). Por essa razão, para fins de registro contábil do valor dos créditos, sua liquidez deve ser apurada, o que normalmente é feito de forma unilateral pelo contribuinte com base nas melhores estimativas, conforme dispõem as normas contábeis.
A Receita Federal já manifestou o entendimento de que é no momento do trânsito em julgado da sentença judicial que os créditos passam a ser receitas tributáveis de IRPJ e CSLL (soluções de consulta nº 106/10, 232/07 e 233/07). No entanto, não há clara indicação nos termos dessas normas se as sentenças transitadas em julgado já quantificavam o montante dos créditos, isto é, se as decisões eram líquidas ou ilíquidas.
Sob outra perspectiva, é possível defender que o trânsito em julgado de sentença ilíquida não é o momento adequado para a incidência de IRPJ e CSLL, pois a parte sequer definiu se vai seguir com a restituição via compensação ou por precatório. Sobre esse tema, a jurisprudência é pacífica no sentido de que é direito do contribuinte optar por uma ou outra forma (Súmula 461 do STJ).
Caso a opção pela compensação administrativa se confirme, é necessário habilitar os créditos na Receita Federal, conforme os procedimentos regulados pela Instrução Normativa nº 1.717/17. Nesse momento, o crédito foi mensurado pelo contribuinte, mas o fisco ainda não se manifestou. Aliás, mesmo com o deferimento do pedido pelo fisco, não há qualquer anuência sobre o valor do crédito (art. 101, parágrafo único da IN 1.717). Nessa linha, é possível argumentar que esse ato unilateral em relação ao quantum devido não deveria ter o condão de tornar líquida a sentença transitada em julgado. De fato, da forma como está prevista na norma, a habilitação mais se aproxima de um procedimento formal prévio de checagem, equivalente à verificação das condições da ação, sem nenhum exame de mérito.
Especificamente com relação aos créditos decorrentes do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins, a Receita Federal tem apresentado vários óbices para restituí-los aos contribuintes, como a limitação do valor do ICMS a ser excluído ao efetivamente pago (e não o destacado nas notas fiscais) e a pretensão de limitar o entendimento firmado pelo STF aos períodos anteriores à Lei nº 12.973/14. Dessa forma, há fundamentos para se afirmar que não são líquidos e representativos de acréscimos patrimoniais os valores ainda sujeitos a questionamento pelo fisco.
Uma outra linha interpretativa é a de que o IRPJ e a CSLL só incidiriam quando o contribuinte efetivamente realiza as compensações (transmissão do PER/DCOMP), momento em que ele faz uso dos créditos a que entende ter direito. Essa argumentação teria fundamento na (i) opção feita pelo contribuinte quanto à utilização do crédito pela via da compensação e nas (ii) características inerentes ao crédito tributário, cujo poder liberatório é limitado por lei (tais créditos só podem ser utilizados para compensação com débitos relativos a tributos federais).
O direito à compensação somente existe quando o contribuinte é, ao mesmo tempo, credor e devedor de obrigações perante um mesmo ente, no caso, a Fazenda Nacional. Nos autos da Solução de Consulta nº 206/03, a Receita Federal até mesmo já expôs o entendimento de que a disponibilidade jurídica e econômica ocorre quando o contribuinte efetivamente recebe o crédito tributário e, no caso de compensação, quando ela é efetivamente realizada.
Ainda que a própria Lei nº 9.430/96 determine que a Declaração de Compensação equivale ao pagamento, há também quem siga o entendimento de que a liquidez do crédito tributário, para fins de caracterização da disponibilidade jurídica ou econômica da renda como fato gerador do IRPJ e da CSLL, ocorre somente no momento da homologação da compensação pela RFB.
Essa é a hipótese que implica no recolhimento do tributo de forma mais distante do trânsito em julgado e, portanto, mais desejada pelos contribuintes e menos desejada pelo fisco. E é exatamente o que o Juízo da 6ª Vara do Rio de Janeiro acolheu como o evento relevante para fins tributários na sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5035622-22. 2019.4.02.5101. Segundo prevaleceu nesse caso, “apenas com a homologação do pedido de compensação pela autoridade fiscal é que se pode falar em crédito líquido recuperado pela impetrante, a partir de quando efetivamente o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorrerá”.
Essa decisão tem dois efeitos positivos: ao mesmo tempo que (i) evita o desembolso prematuro para pagamento dos tributos sobre o valor do crédito, ela (ii) estimula o fisco a apreciar com brevidade as compensações em questão, deixando de fazer uso do prazo de cinco anos para tanto. Porém, sabemos que a matéria é controvertida e que essa decisão, ainda sujeita a recurso, é uma das poucas que versam sobre a matéria.
Ao que tudo indica, após muitos anos de discussões no Judiciário para reconhecimento da exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da Cofins, os contribuintes ainda enfrentarão extensas discussões sobre o momento da tributação desses créditos pelo IRPJ e CSLL.

- Categoria: Tributário
Um aspecto que é objeto de debate frequente nos tribunais administrativos com competência para apreciar questionamentos apresentados em face de cobrança de créditos tributários é a possibilidade de a autoridade administrativa, após a lavratura do auto de infração, modificar os fundamentos invocados na acusação ou mesmo introduzir novos elementos para fortalecer sua motivação.
O ato administrativo de lançamento tributário formaliza a constituição do crédito tributário. Ao praticar o ato, a autoridade administrativa externa a sua interpretação dos dispositivos legais que entende serem aplicáveis à espécie e veicula a cobrança do tributo acrescido da penalidade. O exercício da garantia da ampla defesa e do contraditório pelo contribuinte é direcionado ao confronto dos fundamentos expostos pela acusação, a qual tem o condão de fixar os critérios que serão submetidos ao controle de legalidade.
O Código Tributário Nacional (CTN) dispõe no artigo 146[1] que a modificação do critério jurídico adotado em um lançamento, seja decorrente de um ato de ofício da autoridade ou em virtude de decisão de um órgão administrativo de julgamento ou judicial, somente poderá ser alterado em relação aos fatos subsequentes à sua introdução.
Em outras palavras, depois de efetuado um lançamento, o critério jurídico nele refletido não poderá ser modificado no que toca aos fatos compreendidos naquele ato. Desse modo, mesmo que a própria Administração Pública constate que foi adotado um entendimento equivocado, a alteração dele é vedada com o fim de justificar o ato já praticado.
O controle de legalidade do lançamento é exercido tendo como base tão somente o ato administrativo praticado e, por conseguinte, não tem a função de impor que a Administração siga aquele entendimento para períodos subsequentes. Veda-se a modificação do critério jurídico adotado para a exigência do tributo constituído. No que concerne aos fatos posteriores, o critério novo poderá ser empregado e não há vinculação necessária a lançamento anterior.
De acordo com as prescrições do CTN nos artigos 145 e 149, há hipóteses específicas e delimitadas nas quais o lançamento efetuado poderá ser alterado. Não existe entre elas, porém, situação que autorize uma alteração da interpretação dos dispositivos legais invocados pelo agente que praticou o ato nem a possibilidade de acréscimo de elementos em caso de constatação de equívoco na fundamentação inicial.
Esse aspecto é de grande relevância porque, ao contestar um auto de infração, o contribuinte apresenta as razões que justificam a conduta por ele adotada e os documentos que respaldam suas alegações. Assim, após a contestação do contribuinte, a autoridade administrativa não poderá rever espontaneamente o ato e implementar ajustes.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) tem diversos julgados a respeito do tema, e não há uniformidade entre eles. Um exemplo da aplicação acertada do óbice imposto pelo artigo 146 do CTN no tocante à retificação do auto de infração após a notificação do contribuinte é verificado no acórdão 3401-005.943, ocasião em que o relator, Conselheiro Lázaro Soares, corretamente sustentou não ser possível modificar a fundamentação do lançamento. Todavia, o conselheiro esclareceu que a vedação diz respeito apenas ao passado, não cerceando a atividade da Administração no que concerne a lançamentos futuros. Veja-se trecho esclarecedor do acórdão:
(...) 34. O que não se permite é que a Autoridade Tributária, identificando um lançamento com fundamentação legal equivocada, tendo ocorrido um erro de direito, venha a alterar tal fundamento, substituindo-o por outro e acarretando, assim, um agravamento da situação do contribuinte naquela mesma autuação, referente ao mesmo fato gerador, sobre o pretexto de adequar o ato administrativo à legislação vigente. No entanto, nada impede que, em futuros lançamentos, faça tal correção, mesmo para fatos geradores passados. (...)
O acórdão 1401-002.822 também enfrentou situação semelhante, na qual o lançamento foi cancelado porque a decisão de primeira instância invocou um fundamento que não tinha sido suscitado pelo auto de infração originário. Tal circunstância, segundo exposto pela decisão, implica no cerceamento do direito de defesa do contribuinte, uma vez que, necessariamente, a defesa se dirige ao confronto dos argumentos da acusação.
Entretanto, a despeito da identificação dos julgados acima, que bem aplicaram o comando emergente do artigo 146 do CTN, há julgados recentes em que se podem constatar equívocos de duas ordens: i) a avaliação que toma como referência um lançamento anterior; e, ii) a conclusão de que novos argumentos invocados, desde que chancelem a infração descrita na acusação, não configuram alteração de critério jurídico. O entendimento refletido no acórdão 9303-008.195,[2] a um só tempo, contraria o objetivo colimado pelo artigo 146, visto que invoca como critério de comparação lançamento anterior e, igualmente, afirma que a modificação do fundamento legal, desde que mantida a descrição fática, não caracteriza alteração de critério jurídico.
Embora a jurisprudência do CARF demonstre que o tema não está pacificado, entendemos que há sinais positivos e exemplos de aplicação acertada da vedação à modificação do critério jurídico adotado pelo lançamento. Quanto à preservação da garantia do devido processo legal e da ampla defesa, a conexão com o artigo 146 do CTN diz respeito à identificação precisa da acusação, que permitirá ao contribuinte exercitar seu direito plenamente.
Não é coerente com a garantia da ampla defesa a autorização para que a Administração, no desempenho da função de constituir crédito tributário, possa alterar os fundamentos da acusação sempre que o contribuinte se defender e apresentar argumentos e documentos que demonstrem o acerto da sua conduta. Não se admite que o órgão acusador, escorado no objetivo final de manter a acusação, invoque novos fundamentos em diversas oportunidades. A acusação deve ser precisa e conter todos os elementos ao ser efetivada e, em matéria tributária, o limite está previsto no artigo 146 do CTN, com regra expressa que veda modificação dos fundamentos do lançamento.
[1] “Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.”
[2] “A alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração diz respeito à alteração da legislação aplicável a um mesmo fato para um mesmo sujeito passivo. Mantendo-se a descrição do fato e a infração a ele imputada, argumentos adicionais, que levam à mesma infração, não caracterizam alteração de critério jurídico.”