
- Categoria: Imobiliário
A Lei Federal nºº13.838/2019, publicada no dia 5 de junho, objetivou facilitar o georreferenciamento de imóveis rurais. Com a inclusão de um novo parágrafo 13 ao art. 176 da Lei de Registros Públicos, dispensou-se a anuência dos confrontantes no georreferenciamento exigido nos casos de desmembramento, parcelamento, remembramento e transferência de imóveis rurais. A anuência será substituída por uma declaração do requerente de que respeitou os limites e as confrontações de seu imóvel.
O georreferenciamento é uma técnica moderna de agrimensura utilizada para medição e descrição de imóveis rurais. Ela utiliza as coordenadas dos vértices, medidos com o auxílio de GPS e coordenadas magnéticas, via satélite (UTM), para precisar a área, o formato e a localização de um imóvel.
Do ponto de vista jurídico, para que um imóvel rural seja considerado georreferenciado não basta cumprir os requisitos técnicos de levantamento de pontos e medidas, quais sejam: (i) o levantamento técnico em campo feito por profissional habilitado com o auxílio de GPS, (ii) a elaboração de memorial descritivo e (iii) o pagamento da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). O imóvel rural apenas será considerado georreferenciado após a certificação do respectivo memorial descritivo pelo Incra, comprovando a inexistência de sobreposição de área, e sua averbação na matrícula do imóvel no Ofício de Registro de Imóveis competente.
No momento da averbação do memorial descritivo certificado pelo Incra no Registro de Imóveis, exigia-se a apresentação da anuência dos confrontantes do imóvel que estava sendo georreferenciado. Isso acontecia porque os registradores entendiam que o georreferenciamento de imóveis rurais é uma espécie de retificação de área, seguindo o rito previsto no art. 213 da Lei de Registros Públicos. Ocorre que essa exigência acabava por atrasar a conclusão do georreferenciamento, que muitas vezes passava a depender da conclusão de ações judiciais para se efetivar.
Sem dúvida, a mudança na lei representa um avanço no sentido de agilizar a conclusão do georreferenciamento e de lançar no Registro de Imóveis a descrição completa e correta do imóvel. Porém, dispensar a manifestação de concordância expressa e prévia dos confrontantes reduz a segurança jurídica do procedimento, pois abre a possibilidade de questionamentos futuros de vizinhos que se sintam prejudicados.
Além disso, considerando que a mudança ocorreu no art. 176 da Lei de Registros Públicos e que o art. 213, que trata do rito procedimental da retificação de área, não foi alterado, restam dúvidas sobre se essa dispensa da anuência será aplicada em todos os casos ou se os Oficiais de Registro de Imóveis continuarão fazendo essa exigência nas situações em que o georreferenciamento resultar na inserção ou alteração de medida perimetral e, consequentemente, na alteração de área do imóvel em processo de georreferenciamento.
Considerando o objetivo da Lei nº 13.838/2019, a melhor interpretação da mudança, em nossa opinião, é que a dispensa da anuência dos confrontantes, por ser objeto de norma mais específica, deve ser regra geral para o georreferenciamento de imóveis rurais, ainda que resulte em aumento ou diminuição da área do imóvel. No entanto, essa regra comportará exceções e deverá ser analisada caso a caso e segundo critérios de razoabilidade.
É importante frisar que o georreferenciamento objetiva atualizar a descrição do imóvel com base no sistema geodésico brasileiro e aumentar a segurança jurídica, evitando sobreposições de áreas, e não criar um meio de legitimar a aquisição de áreas de forma irregular. Sempre que o Oficial de Imóveis, por alguma razão, acreditar que está havendo aquisição irregular de áreas, ele poderá exigir que o memorial descritivo do imóvel georreferenciado contenha informações sobre a descrição e a área dos imóveis confrontantes, bem como a observância do rito do art. 213 da Lei de Registros Públicos e, consequentemente, a anuência dos confrontantes para se resguardar de questionamentos futuros.

- Categoria: Contencioso
A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou, no dia 14 de maio, seu entendimento de que a presença das mesmas partes não é necessária para configurar litispendência nas ações coletivas em que há substituição processual por legitimado extraordinário.
A manifestação foi feita no julgamento do Recurso Especial nº 1.726.147/SP, que teve origem na ação civil pública ajuizada pelo Instituto de Defesa da Cidadania (Prodec) contra o Banco Nossa Caixa S/A (atualmente, Banco do Brasil), tendo por objeto os expurgos inflacionários referentes aos planos Bresser e Verão.
O Prodec interpôs apelação em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que não teria legitimidade ativa para litigar no processo, “uma vez que a defesa dos interesses de grupos determinados de pessoas só se pode fazer por associações de defesa do consumidor quando isso for de interesse da coletividade como um todo”. Em síntese, o Prodec sustentou que a ação civil pública também se presta a defender direitos individuais e homogêneos, destacando que “milhões de pessoas consumidoras da ré foram lesadas, sendo que centenas de habilitações serão realizadas oportunamente na fase de execução”.
Em sede de contrarrazões, a instituição financeira apontou a existência de duas outras ações idênticas em curso, tutelando os mesmos interesses (os direitos dos consumidores afetados pelos planos econômicos à época), em afronta aos artigos 485, V, e 337, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil.[1] A alegação não foi acolhida. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) afastou a litispendência por entender que as ações foram interpostas por pessoas jurídicas diversas e que, portanto, não haveria risco de execução dúplice.
O leading case sobre o tema no STJ foi o recurso ordinário em mandado de segurança (RMS) nº 24.196/ES[2], de relatoria do ministro Felix Fischer e julgado pela Quinta Turma do STJ em 18/02/2008. Naquela oportunidade, entendeu-se que “o aspecto subjetivo da litispendência nas ações coletivas deve ser visto sob a ótica dos beneficiários atingidos pelos efeitos da decisão, e não pelo simples exame das partes que figuram no polo ativo das demandas”. O entendimento foi reiterado pela ministra Eliana Calmon, relatora do REsp 1.168.391/SC e outros julgados que lhe sucederam.[3]
Para os ministros da Quarta Turma, nas ações coletivas que tratam de substituição processual por legitimado extraordinário, no caso, o Prodec, não é necessária a presença das mesmas partes para configurar a litispendência. Em linha com o entendimento do STJ em outros julgados, o julgador deve observar eminentemente a identidade dos possíveis beneficiários do resultado das decisões.
Assim, a questão relativa à configuração de litispendência, mesmo quando não há identidade de partes, está pacificada no STJ. O entendimento consolidado pela Corte nos parece acertado, uma vez que a legitimidade ativa nas ações coletivas deve ser analisada sob a ótica dos beneficiários da decisão, e não pelo simples exame da forma de identificação das partes (típico do instituto nas ações de natureza privada). Isso é especialmente relevante tendo em vista a natureza das ações coletivas – a proteção dos direitos difusos e coletivos, de natureza indivisível – e individuais homogêneos, com vistas a resguardar o interesse de toda uma coletividade.
A decisão do STJ se aplica tanto às ações ajuizadas pelas associações civis quanto às intentadas pelo Ministério Público, por entidades e órgãos da Administração Pública e pelos demais legitimados previstos no artigo 5º da Lei Federal nº 7.347/1985 (Lei das Ações Civis Públicas). É um avanço que contribui em muito para promover a discussão no âmbito processual e para evitar, em nome da economia e da celeridade processual, o ajuizamento descoordenado de ações coletivas com vistas a tutelar o mesmo bem jurídico e a movimentação desnecessária da máquina judiciária – já tão obstruída – de forma ineficiente e ineficaz.
[1] “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;”
“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...) § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.
[2] RMS 24.196/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2007, DJ 18/02/2008, p. 46
[3] REsp 1168391/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010 . No mesmo sentido: REsp 427.140/RO, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 20/05/2003, DJ 25/08/2003, p. 263; REsp 1168391/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010; REsp 925.278/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/06/2008, DJe 08/09/2008

- Categoria: Fundos de pensão
A evolução da economia brasileira nos últimos anos trouxe novos desafios aos responsáveis pela administração das entidades fechadas de previdência complementar (EFPCs), regidas pela Lei Complementar nºº109/2001 (LC 109) e pela Lei nº 6.404/1976 (Lei das S.A.).Diferentemente das companhias que têm como propósito a obtenção de lucro para seus acionistas e demais stakeholders envolvidos, porém, as EFPCs objetivam a gestão de recursos para o pagamento de benefícios previdenciários aos seus assistidos.
A adoção de más práticas de administração e o cometimento de atos ilegais têm sido vigiados de perto pelos stakeholders desde a onda de procedimentos investigatórios inaugurados com a Operação Lava Jato e correlatas. No âmbito da responsabilização desses administradores pelos atos praticados na gestão das entidades e companhias, observamos o aumento do número de ações de responsabilização civil contra esses agentes a fim de obter reparação por danos causados a essa organizações.
Esse aumento de vigilância, aliado a uma evolução positiva da governança das entidades e companhias, com a adoção de boas práticas de compliance, ética e gestão, inaugurou uma nova era em relação à responsabilidade dos gestores profissionais na condução dos negócios, investimentos e relações com a sociedade civil em geral.
Cabe, portanto, analisar quais são os aspectos principais e os limites aplicáveis a tais gestores quando do cometimento de atos que tragam danos às entidades ou companhias geridas. Neste artigo, abordaremos brevemente as diferenças e similaridades das regras de responsabilização civil aplicáveis às EFPCs e às companhias, por meio da comparação dos dispositivos da LC 109 e da Lei das S.A.
A LC 109, que deve ser lida em conjunto com a Resolução nº 4.661/2018, delimita o âmbito da responsabilização civil dos administradores das EFPCs em seu art. 63. O dispositivo estabelece que os administradores[1] responderão civilmente pelos danos ou prejuízos que causarem, seja por ação ou omissão. Além disso, os arts. 35 e 39 estabelecem o dever de informar aos órgãos reguladores sobre o diretor executivo responsável pela aplicação dos recursos da entidade e determinam que os demais membros da diretoria executiva responderão solidariamente com tal diretor pelos danos e prejuízos para os quais tenham concorrido.
Na Lei das S.A., a responsabilização civil é delimitada pelo art. 158. Ela estabelece que o administrador deverá reparar os prejuízos que causar quando proceder com culpa ou dolo e/ou violar a lei ou o estatuto da companhia. O §1º do artigo estabelece a responsabilidade solidária dos demais administradores apenas no caso de conivência, negligência ou concorrência com o ato gerador do prejuízo, outorgando–lhes a possibilidade de afastamento da solidariedade quando inequivocamente expressarem opinião contrária a decisão ou ato prejudicial levado à frente.
Além disso, a configuração de solidariedade, segundo o §2º do artigo, independe dos deveres atribuídos a cada um dos administradores, devendo todos contribuir para o cumprimento dos deveres impostos pela lei.
Essa configuração de solidariedade independentemente das funções estatutárias é afastada no caso dos administradores das companhias abertas, conforme previsão do §3º do dispositivo. Os administradores também responderão solidariamente com seus predecessores caso constatem o cometimento de atos ilícitos e/ou danosos da antiga gestão e falhem em comunicar isso à assembleia geral da companhia.
A responsabilização civil dos administradores das EFPCs e companhias dependerá sempre da comprovação da existência do ato ilícito, da existência de dolo ou culpa e da comprovação do nexo causal entre tal ato e o prejuízo efetivamente suportado pela entidade ou companhia. Tal análise deve ser feita caso a caso, pois é necessária a adaptação fática a cada um dos requisitos supracitados.
Com esse exercício de comparação, é possível observar que existem diversos elementos similares na LC 109 e na Lei das S.A. para a responsabilização civil dos administradores. A grande diferença está na caracterização da solidariedade entre eles: enquanto na LC 109 ela é imputada sem a exemplificação dos elementos que poderiam afastá-la, na Lei das S.A. essa possibilidade é claramente exposta, seja no caso de voto em contrário, seja nas obrigações de comunicação aos órgãos competentes quando algum ilícito é constatado.
Apesar dessa diferença, os mesmos elementos mitigadores da solidariedade constantes da Lei das S.A. são aplicáveis mutatis mutandi aos administradores sujeitos à LC 109. O cerne dos deveres fiduciários de administração (diligência, lealdade, boa-fé, informação, entre outros) é aplicável a todos os administradores atuantes no Brasil. Portanto, é necessário adotar os mesmos critérios de boas práticas, compliance e ética tanto nas EFPCs quanto nas companhias.
A diferença conceitual na responsabilização civil no âmbito das EFPCs e das companhias está no fato de que os administradores das entidades, por gerirem recursos de terceiros a fim de garantir direitos previdenciários, devem ter ainda mais cuidado na condução de suas atividades. Já os administradores de companhias, cujo objetivo é o lucro, sempre agem com a intenção de aferir vantagens pecuniárias para seus acionistas, embora também devam se cercar de diversos cuidados. Por óbvio, isso influencia diretamente a atuação desses dois tipos de gestores, bem como os elementos de configuração de sua responsabilização civil.
[1] Também são responsáveis civilmente pelos danos ou prejuízos que causarem os procuradores com poder de gestão, os membros de conselhos estatutários, administradores dos patrocinadores ou instituidores, os atuários, os auditores independentes, os avaliadores de gestão e outros profissionais que prestem serviços técnicos à entidade.

- Categoria: Contencioso
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) avançou para pôr fim à controvérsia sobre o prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em responsabilidade civil contratual. Em julgamento no último dia 14 de maio, os ministros decidiram, por maioria (7x5), que o prazo prescricional de dez anos é o que cabe nesses casos.
A decisão é a de maior relevância hierárquica sobre o tema já proferida no país e configura um precedente vinculante, que deverá ser observado tanto pelas turmas e seções do próprio STJ quanto pelos tribunais inferiores – artigo 927, inciso V do Código de Processo Civil (CPC).
O prazo prescricional para ajuizamento de ações judiciais é tema de relevância inquestionável, uma vez que a ocorrência da prescrição remove a possibilidade de obter em juízo o exercício de direito ou a responsabilização por sua violação. É desejável, portanto, que tais prazos sejam definidos de maneira clara e estável, sem sofrer grandes modificações ao longo do tempo.
Essa questão é especialmente importante quando eventuais modificações possam representar insegurança jurídica, caso advenha um súbito entendimento pelo encurtamento de determinado prazo prescricional. Isso certamente frustraria a expectativa dos jurisdicionados em relação ao ajuizamento de ações judiciais ou instituição de arbitragens e restringiria o período que pode ser tutelado nesses procedimentos.
O tema ganha relevância ainda maior em contratos de longa duração, nos quais muitas vezes as partes optam por aguardar o fim da avença para iniciar uma disputa. Afinal, tal escolha não impacta o início do prazo prescricional, que coincide com o momento da violação do direito (artigo 189 do Código Civil), ainda que a relação contratual continue vigente.
Desde a entrada em vigor do Código Civil de 2002, contudo, a doutrina diverge quanto ao prazo prescricional aplicável às pretensões fundadas em responsabilidade civil contratual: alguns juristas defendem ser de três anos, em razão do previsto no artigo 206, parágrafo 3º, inciso V, do Código Civil, ao passo que outros argumentam que tal prazo se aplicaria somente às pretensões fundadas em responsabilidade civil extracontratual. Sendo assim, para a responsabilidade civil contratual, seria aplicável o prazo geral de dez anos disposto no artigo 205 do Código Civil para as hipóteses em que a lei não tenha fixado prazo prescricional menor.
A discussão se restringe exclusivamente à responsabilidade civil contratual, pois é pacífico que a responsabilidade civil extracontratual está abarcada no dispositivo do Código Civil citado acima e, consequentemente, seu prazo prescricional é de três anos.
Até se tentou pacificar a questão também em relação à responsabilidade civil contratual, por meio do Enunciado nº 419 da V Jornada de Direito Civil, do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, aprovado em novembro de 2011. A ideia, na ocasião, era disciplinar que as pretensões fundadas tanto em responsabilidade civil contratual como em responsabilidade civil extracontratual deveriam ser uniformemente regidas pelo prazo prescricional de três anos. Entretanto, a divergência persistiu.
Contrariamente ao enunciado em questão, por exemplo, o próprio STJ aderiu majoritariamente, durante anos, ao prazo geral de dez anos para a responsabilidade civil contratual, embora, por vezes, tenha decidido por uma contraditória aplicação do prazo de três anos somente para algumas modalidades contratuais.
Em novembro de 2016, a divergência quanto ao tema se instalou definitivamente na Corte Superior: ao julgar o Recurso Especial (REsp) nº 1.281.594 – SP, a Terceira Turma do STJ modificou seu entendimento e decidiu que o prazo prescricional na responsabilidade civil contratual seria de três anos.
A decisão gerou reação imediata dos defensores do prazo geral de dez anos, tendo dois civilistas de relevância nacional publicado artigo sustentando tal posicionamento.[1]
Aparentemente influenciada pelos argumentos apresentados nessa publicação, em junho de 2018, a Segunda Seção do STJ – composta pela Terceira e pela Quarta Turma – decidiu, nos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.280.825/SP, que o prazo aplicável é de dez anos.
Desde que esses dois julgamentos ocorreram, os litigantes em relações contratuais passaram a conviver com intensa insegurança jurídica quanto à possibilidade de exercício de seus direitos.
Felizmente, contudo, a parte vencida no REsp nº 1.281.594 – SP opôs embargos de divergência contra a decisão (exatamente para pacificar a jurisprudência nos tribunais superiores). O recurso foi, então, remetido à Corte Especial do STJ, que decidiu pelo prazo prescricional de dez anos.
A despeito da divergência quanto à vinculação também dos tribunais arbitrais a essa decisão, espera-se que ela seja igualmente observada nos procedimentos arbitrais, por uma questão de tratamento isonômico dos contratantes litigantes e de segurança jurídica.
Ainda é preciso aguardar o trânsito em julgado da decisão para que a divergência seja definitivamente considerada superada, mas a expectativa é de que ela seja mantida e pacifique o tema por longo período.
Além disso, a decisão prestigia a segurança jurídica, pois remove a possibilidade de que, repentinamente, pretensões veiculadas em disputas iniciadas – ou que viriam a ser iniciadas – após três anos do início do prazo prescricional, respaldadas pelo posicionamento majoritário até então vigente, passassem a ser consideradas prescritas.
Também em reforço à segurança jurídica, a decisão assinalou que “prescrição constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador” (pág. 33 do acórdão), o que deve servir de parâmetro para que decisões futuras sobre o tema da prescrição, inclusive em contextos distintos, privilegiem interpretações restritivas.
[1] MARTINS-COSTA, Judith; ZANETTI, Cristiano de Sousa; Responsabilidade contratual: prazo prescricional de dez anos. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 797, p. 215-241, mai. 2017.

- Categoria: Concorrencial e antitruste
Há 25 anos, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) era um grande desconhecido da população. Isso se devia, em grande parte, ao ambiente de mercado no Brasil, caracterizado pelo histórico de intervenção estatal e pelo fato de que praticamente todas as (poucas) decisões do órgão eram reformuladas ou anuladas pelo Poder Judiciário.
Esse cenário mudou quando a Lei nº 8.884/1994 entrou em vigor: o Cade ganhou relevância institucional e intensificou sua atuação, passando a analisar operações de M&A importantes e a investigar mais condutas anticompetitivas, notadamente cartéis. Deu-se assim o primeiro passo para estruturar efetivamente a política de defesa da concorrência no Brasil. Na sequência, grandes julgamentos colocaram o nome do Cade na mídia: a criação da Ambev, a compra da Kolynos pela Colgate, a fusão entre a Nestlé e a Garoto, entre outras transações.
Já na primeira década dos anos 2000 (muito antes da Operação Lava Jato), o Cade fomentou a experiência da delação premiada no Brasil, por meio da celebração de acordos de leniência como instrumento de combate a cartéis, que passaram a ser punidos com maior rigor.
A intensa atuação do Cade e sua reputação, não apenas no plano nacional mas também na comunidade antitruste internacional, levaram, já em 2004, ao debate sobre a necessidade de reforma da lei então vigente. O objetivo era aprimorar o ambiente institucional e possibilitar a implementação de uma política ainda mais vigorosa de defesa da concorrência, especialmente por meio da análise prévia de atos de concentração econômica.
A Lei nº 12.529/2011, que substituiu a Lei nº 8.884/1994 e entrou em vigor em 2012, possibilitou ao Cade intervir nas estruturas do mercado, facilitando a proibição de operações que gerassem elevado poder de mercado de uma empresa (de 2012 até 2018, foram oito operações reprovadas sob a nova lei, o mesmo número de operações reprovadas durante todo o período de 1994 a 2012). A mudança também unificou guichês, consolidando as funções de investigação e decisão dentro de um mesmo órgão e conferindo maior celeridade à análise de atos de concentração. Nos anos subsequentes, as investigações de cartéis foram impulsionadas por meio não apenas da celebração de acordos de leniência como também de novos incentivos para a assinatura de termos de compromisso de cessação.
Por três vezes, o Cade foi considerado a melhor agência antitruste das Américas pela Global Competition Review (GCR) e, mais recentemente, aceito como membro permanente do Comitê de Concorrência da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
Os avanços da atuação do Cade nos últimos 25 anos claramente ampliaram os seus desafios: a redução do tempo de duração das investigações de condutas anticompetitivas; o aumento da transparência quanto à metodologia utilizada para o cálculo das multas em casos de cartel; o aprimoramento da política de acordos (especialmente após os casos envolvendo a Lava Jato) para ampliar o poder de dissuasão das penas impostas; e a formação de uma massa crítica para a análise de condutas praticadas por empresas com posição dominante, a fim de orientar o mercado sobre a legalidade de certas estratégias comerciais.
Palavras-chave:

- Categoria: Contencioso
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirmou, em votação não unânime, que o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores de uma empresa em recuperação judicial pode suprimir garantias reais ou fidejussórias mesmo sem a anuência expressa do credor titular da garantia. O acórdão da decisão foi publicado em 26 de abril.
A questão foi suscitada no julgamento do recurso especial (REsp) nº 1.700.487/MT, de relatoria do ministro Marco Aurélio Belizze. O processo teve origem na recuperação judicial da empresa Ariel Automóveis Várzea Grande Ltda.[1] Nos autos, o Banco Industrial e Comercial S.A., credor quirografário da recuperanda, interpôs agravo de instrumento em face da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela maioria dos credores. Sustentou o banco, em síntese, que o plano aprovado violaria o disposto nos artigos 49, §1º,[2] 50, §1º,[3] e 59[4] da Lei de Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial e Falência (Lei nº 11.101/2005) ao permitir a liberação de todas as garantias reais e fidejussórias detidas em face da recuperanda e de terceiros coobrigados.
Antes do pronunciamento do STJ, a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça (TJ) do Mato Grosso havia reconhecido que “embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas”[5] e, consequentemente, decretara a nulidade do plano aprovado.
A discussão diz respeito, de um lado, à interpretação dos artigos 49, §1º, 50, §1º, 53, §3º,[6] e 59 da Lei nº 11.101/2005, que vedam expressamente a supressão ou substituição de qualquer garantia real ou fidejussória dos credores da recuperanda (salvo, por óbvio, quando houver consentimento expresso por parte do credor titular da garantia). Por outro lado, há quem defenda que, à luz do disposto no artigo 49, §2º[7] da Lei nº 11.101/2005 e com base no princípio majoritário e no par condicio creditorum (que impõe o tratamento isonômico de credores da mesma classe), seria possível a liberação de tais garantias pelo plano de recuperação judicial, desde que aprovado pela maioria dos credores da recuperanda em sede de assembleia geral de credores.
Em outras palavras, o debate diz respeito à possibilidade de a assembleia majoritária afastar a exigência legal de anuência expressa do credor titular da garantia.
O leading case sobre o tema foi o REsp nº 1.532.943/MT,[8] de relatoria do ministro Marco Aurélio Belizze e julgado pela 3ª Turma do STJ em 13 de setembro de 2016. Nesse caso, a maioria da 3ª Turma reconheceu que o plano de recuperação judicial que prevê a supressão ou substituição de garantias vincula todos os credores (incluindo os ausentes e até mesmo aqueles que votaram contra a aprovação do plano de recuperação judicial), desde que devidamente aprovada pela maioria dos credores em sede de assembleia geral.
Em seu voto vencedor no leading case,[9] o ministro relator reconheceu a proteção conferida às garantias pela legislação falimentar, mas afirmou que a mesma Lei nº 11.101/2005 (em especial, seu artigo 49, §2º) permite que o plano de recuperação judicial disponha sobre as garantias detidas pelos credores da recuperanda.
Entendeu-se que, “ainda que determinado credor tenha optado por não comparecer à deliberação assemblear; ou, presente, se absteve de votar ou se posicionado em contrariedade, total ou parcialmente, à aprovação do plano, seus termos o subordinam, necessariamente”. Em outras palavras, a maioria da 3ª Turma reconheceu que a supressão de garantias reais ou fidejussórias aprovada pela assembleia de credores da recuperanda vincula todos os titulares dessas garantias.
Para os ministros da 3ª Turma, não haveria violação ao disposto no artigo 50, §1º, da Lei nº 11.101/2005, uma vez que se pode considerar que sempre há anuência expressa à supressão e/ou substituição de garantias pelos credores titulares das garantias afetadas, já que tais credores estão devidamente representados pela sua respectiva classe durante a assembleia de credores. Assim, a vontade da maioria de cada uma das classes de credores pode ser interpretada como anuência expressa dos credores que não comparecem à assembleia ou até mesmo votam contra a aprovação do plano.
A discussão foi levada à Segunda Seção do STJ em sede de embargos de divergência sob o fundamento de contrariar a jurisprudência existente do STJ sobre o tema,[10] mas ficou entendido que os precedentes anteriores não decidiram a mesma questão jurídica. Portanto, a decisão proferida nos autos do REsp nº 1.532.943/MT foi mantida.
Nos autos do REsp nº 1.700.487/MT, a 3ª Turma reanalisou a questão da possiblidade de supressão de garantias pelo plano aprovado em assembleia, e a maioria acompanhou o voto-vista do ministro Marco Aurélio Belizze, o qual reafirmou que o plano devidamente aprovado na forma legal pela assembleia geral de credores deve vincular todos os credores igualmente, sob pena de inviabilizar o cumprimento das medidas previstas no plano e o soerguimento da empresa.
Por outro lado, o relator do recurso, acompanhado pela ministra Nancy Andrighi, defendeu que a novação prevista no plano deve atingir apenas os credores que votaram pela sua aprovação, sem nenhuma ressalva.
A questão, portanto, não está pacificada no STJ e ainda existe divergência entre os ministros da Segunda Seção quanto à possibilidade de extensão das previsões do plano que afetam garantias reais e fidejussórias aos credores da recuperanda que não participaram da deliberação assemblear ou que votaram contra a aprovação do plano.
A interpretação do binômio preservação das garantias dos credores v. preservação da empresa que vem sendo defendida pela Corte tem sido objeto de crítica não só por contrariar certos dispositivos legais, mas também porque esvazia por completo a proteção oferecida pelas garantias reais e fidejussórias sempre que o devedor se torna insolvente e pede amparo ao Poder Judiciário para se reestruturar. Conforme registrou o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva nesse caso, “o cenário de incerteza quanto ao recebimento do crédito em decorrência do enfraquecimento das garantias é desastroso para a economia do país”.
[1] Processo nº 1512-10.2015.811.0002, em trâmite perante a 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT.
[2] Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1º Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
[3] Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:
[...]
§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.
[4] Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.
[5] TJMT, Agravo de Instrumento nº 0018190-72.2016.8.11.0000, relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado, j. em 05.10.2016.
[6] Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembleia geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.
[...]
§ 3º O plano de recuperação judicial poderá sofrer alterações na assembleia geral, desde que haja expressa concordância do devedor e em termos que não impliquem diminuição dos direitos exclusivamente dos credores ausentes.
[7] Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
[...]
§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.
[8] O caso também originou de uma recuperação judicial que tramitou perante a 4ª Vara Cível de Várzea Grande/MT – a recuperação judicial de Dibox Distribuição de Produtos Alimentícios Broker Ltda., Andorra Logística e Transportes Ltda. e Exectis Administração e Participações S/A (Processo nº 0012909-37.2017.8.11.0002).
[9] Cumpre notar que em seu voto-vista, o ministro João Otávio de Noronha concluiu que, à luz da legislação falimentar, não seria possível admitir a supressão de todas as garantias reais e fidejussórias pelo plano de recuperação judicial.
[10] Nesse sentido, (i) REsp 1.326.888/RS, rel. min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 08.04.2014, DJe 05.05.2014; e (ii) REsp repetitivo nº 1.333.349/SP, rel. min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 02.02.2015.

- Categoria: Propriedade intelectual
A criatividade tem potencial econômico. Manifestações concretas dessa afirmação são as startups, empresas cujo objetivo é executar suas inovações para gerar valor econômico.
O direito da propriedade intelectual reconhece essa situação e fornece os instrumentos jurídicos necessários para proteger a criatividade. Portanto, por meio do uso adequado do direito de propriedade intelectual, as startups têm maiores chances de converter a criatividade em retorno econômico.
O legislador brasileiro está atento à relevância das startups e vem editando normas para lhes conceder um tratamento jurídico adequado, inclusive em relação à proteção da propriedade intelectual.
A Lei Complementar nº 167/2019 e o Inova Simples
Nesse sentido, a Lei Complementar nº 167/2019, publicada em 25 de abril, criou o Inova Simples, um regime especial simplificado para as startups, com o fim de estimular sua criação, formalização, desenvolvimento e consolidação.
Conforme a lei, as startups são empresas de caráter inovador que i) visam aperfeiçoar sistemas, métodos, modelos de negócio, de produção, de serviços ou de produtos existentes (hipótese em que a startup será incremental) ou não, quando se relacionarão, portanto, à criação de algo novo (situação em que a startup será disruptiva); e ii) desenvolvem suas inovações sob condições incertas, necessitando de experimentos e validações constantes antes de iniciarem plenamente seu comércio e obterem receita.
O tratamento diferenciado pelo Inova Simples consiste em um rito sumário para abertura e fechamento das startups, que ocorrerá de forma simplificada e automática em site oficial do governo federal. Os titulares da startup submetida ao regime deverão fornecer em formulário próprio, entre outras informações, a descrição do escopo da intenção empresarial inovadora e a definição da razão social, na qual obrigatoriamente constará a expressão “Inova Simples (I.S.)”.
Para melhor proteger a propriedade intelectual da startup, constará no formulário digital campo ou ícone para comunicação automática ao Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI) do conteúdo inventivo do escopo da startup para fins de registro de marcas e patentes. O INPI deverá criar mecanismo que direcione os dados da startup a um processamento sumário das suas solicitações de registros de marcas e patentes.
Finalizado o cadastro de maneira correta, um número de CNPJ específico será gerado para a startup submetida ao Inova Simples, a qual deverá então abrir imediatamente uma conta bancária de pessoa jurídica para captar e integralizar seu capital, que poderá advir de aporte de seus titulares, de investidor domiciliado no exterior ou de linha de crédito público ou privado, entre outras fontes previstas em lei.
Caso a startup não tenha sucesso no desenvolvimento de seu escopo, os titulares poderão baixar o CNPJ da empresa mediante simples declaração no mesmo site em que fizeram o seu cadastro.
Conclusões
A lei não é clara sobre o processamento sumário das solicitações de registros de marcas e patentes da startup. O detalhamento precisará ser regulado posteriormente, quando que será possível analisar a mudança de maneira aprofundada.
Por outro lado, a lei tem o mérito de chamar atenção dos titulares de startups para a importância da proteção de sua propriedade intelectual. A possibilidade de a startup nascer juridicamente com suas marcas e patentes registradas ou solicitadas é um avanço em termos de proteção, sobretudo no momento inicial, quando a divulgação de inovações a terceiros é necessária para a obtenção de investimentos.
Com a atenção voltada para a proteção da propriedade intelectual da startup, é importante que os titulares busquem assessoria jurídica adequada nessa área. Apesar dos recursos limitados, uma atitude do tipo “faça você mesmo” é arriscada. Afinal, a inovação é o principal ativo da startup.

- Categoria: Trabalhista
Desde novembro de 2017, quando a Reforma Trabalhista estabeleceu que os “prêmios” não estão sujeitos à incidência de encargos trabalhistas e previdenciários, muito se tem discutido qual seria a interpretação da Receita Federal para esse instituto e os requisitos para sua caracterização. A questão ganha força quando se leva em conta que a legislação previdenciária também não define o conceito de prêmio.
Como já havíamos discutido neste artigo, com base nas novas disposições implementadas pela Reforma Trabalhista, o principal fator capaz de gerar diferentes interpretações é a falta de clareza na definição dos requisitos “pagamento por liberalidade” e “pagamento em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado”. O que seria um pagamento por liberalidade? Qual seria o desempenho superior ao ordinariamente esperado que autorizaria o pagamento do prêmio?
Naquela oportunidade, identificamos duas principais correntes de interpretação para o “pagamento por liberalidade”.
A primeira é que liberalidade seria tudo o que é concedido pela empresa, mas não exigido pela lei. Nesse caso, seria possível defender que o prêmio abrangeria toda e qualquer forma de remuneração variável, ainda que contratualmente acordada, pois, na maioria absoluta dos casos, a empresa não é obrigada a pagar remuneração variável.
A segunda é que liberalidade seria tudo o que é concedido pela empresa e que, além de não exigido pela lei, também não tenha sido contratualmente acordado. Nesse caso, o prêmio teria abrangência limitada apenas aos pagamentos feitos de forma espontânea e inesperada pelo empregador. O prêmio pago por mera liberalidade não poderia ser equiparado ao prêmio ajustado contratualmente (em contratos, políticas, ofertas de trabalho etc.), na medida em que esse ajuste prévio afastaria sua caracterização como liberal, transformando-o em obrigação contratual.
O requisito “pagamento em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado” também poderia gerar diferentes interpretações: uma delas é que o salário fixo remuneraria o desempenho ordinariamente esperado, e a remuneração variável retribuiria o desempenho superior ao ordinariamente esperado. A outra é que somente a parcela da remuneração variável devida pela superação das metas remuneraria o desempenho superior ao ordinário. Essa última seria uma interpretação mais restritiva.
Pois bem. A Receita Federal, por meio da Solução de Consulta Cosit nº 151, de 14 de maio de 2019, manifestou sua interpretação sobre esses requisitos.
Em resumo, para a Receita Federal, a partir de 11 de novembro de 2017, não integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias os prêmios, ainda que habituais,[1] que (i) não decorram de obrigação legal ou de ajuste expresso, hipótese em que restaria descaracterizada a liberalidade do empregador; e (ii) decorram de desempenho superior ao ordinariamente esperado, devendo o empregador comprovar, objetivamente, qual o desempenho esperado e também o quanto esse desempenho foi superado.
Ou seja, ao interpretar o requisito “pagamento por liberalidade”, a Receita Federal optou pela segunda interpretação acima, mais restritiva, limitando a abrangência do prêmio apenas aos pagamentos feitos de forma espontânea e inesperada que não decorram de ajustes contratuais (em contratos, políticas, ofertas de trabalho etc.).
Entendemos que essa interpretação, entretanto, vai além do previsto em lei e pode ser questionada judicialmente, na medida em que a Reforma Trabalhista não restringiu o prêmio a pagamentos que não tenham sido ajustados expressamente. Ao estabelecer esse requisito, a Receita Federal extrapolou os limites previstos em lei.
Como a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) é muito clara em relação à possibilidade de pagamento habitual de prêmio, a Receita Federal reconhece que a eventualidade não é requisito para a caracterização de prêmio. Não fosse esse ponto, em linhas gerais, a interpretação dada ao prêmio em muito se assemelharia à gratificação eventual, a qual não é previamente pactuada e também já não era sujeita a encargos trabalhistas e previdenciários. Sob esse prisma, a interpretação esvazia o tratamento dado aos prêmios pela Reforma Trabalhista. Ora, se o prêmio é equivalente à gratificação eventual, por que a Reforma Trabalhista teria criado um novo instituto?
Com relação ao desempenho superior ao esperado, a Receita Federal entende que é dever do empregador comprovar, objetivamente, qual o desempenho esperado e também o quanto esse desempenho foi superado. Aqui, novamente, a interpretação se mostra contraditória, sendo incompatível com o próprio requisito de “liberalidade”. Como pode o empregador comprovar, objetivamente, o que seria desempenho esperado e superior ao esperado sem ter definido expressamente esse parâmetro?
Em última análise, segundo a interpretação da Receita Federal, caso a empresa divulgue sua expectativa de desempenho de cada cargo e/ou empregado sem prever qualquer premiação, ela poderá, ao fim do período, decidir, por sua liberalidade, que é o momento de premiar aqueles que extrapolaram o desempenho esperado. Esse procedimento certamente também geraria questionamentos fiscais.
Ao estabelecer essa interpretação restritiva, a Receita Federal traz óbices ao pagamento de prêmios pelas empresas, agindo na contramão do disposto no art. 28, §9º, “z”, da Lei n° 8.212/91, que exclui expressamente os prêmios do salário de contribuição. Em lugar de esclarecer o tema e fornecer diretrizes sobre o uso da premiação, o órgão manteve o cenário de incerteza e falta de segurança jurídica, pois, embora não tenha força de lei, a solução de consulta Cosit vincula a administração pública e orienta a atuação dos fiscais.
Nesse contexto, entendemos que as empresas que pagam prêmios a seus empregados devem atentar para os requisitos acima e, caso eles se mostrem incompatíveis com suas práticas, avaliar o interesse em buscar amparo judicial para reconhecer que agiram nos estritos termos da lei, pois, em razão da referida Solução de Consulta Cosit nº 151/2019, os fiscais tendem a autuar esses contribuintes.
[1]Para a Receita Federal, haveria limitação no número de pagamentos anuais apenas no período compreendido entre 14 de novembro de 2017 e 22 de abril de 2018, durante a vigência da Medida Provisória nº 808/2017, segundo a qual o prêmio não poderia exceder o limite máximo de dois pagamentos ao ano.

- Categoria: Tributário
O mercado de gás natural ganha cada vez mais relevância no Brasil como forma de diversificar as fontes de energia no país. Para fomentar o desenvolvimento do setor, alterações na legislação e na regulação vêm sendo discutidas especialmente desde 2016, quando o Ministério de Minas e Energia lançou a iniciativa Gás para Crescer, com a participação de todo o mercado de gás natural e alguns órgãos do governo.
O desenvolvimento do mercado depende, contudo, do sucesso das chamadas públicas de compra e venda de gás natural, que permitirão integrar novos agentes e diversificar um setor altamente monopolizado. Entraves tributários, principalmente relacionados ao ICMS, e outros obstáculos dificultam, no entanto, o avanço das chamadas públicas e o desenvolvimento do setor.
O ICMS é um imposto cuja competência foi atribuída aos estados e ao Distrito Federal, cabendo à lei complementar a definição dos aspectos estruturais do tributo. A análise das legislações estaduais com respeito ao gás natural aponta para a complexidade, a desuniformidade e a incerteza como elementos característicos.
Entre os pontos de desuniformidade que representam entraves tributários, destacam-se: a diversidade de alíquotas aplicáveis ao gás natural; a diferença de tratamento em razão de regimes especiais de tributação; e a diferença no tratamento dos créditos relativos à não cumulatividade.
Quanto à diversidade de alíquotas de ICMS, há uma grande disparidade entre os estados relativamente às operações internas envolvendo o gás natural, as quais variam de 12% a 25%. Isso ocorre porque alguns estados internalizaram o Convênio ICMS nº 18/1996, que prevê a redução da base de cálculo do ICMS de modo que a carga tributária efetiva resulte em 12%. Entretanto, alguns estados não aderiram ao convênio, aplicando a alíquota interna geral (que varia de 17% a 18%) para operações com gás natural. Há ainda o estado do Amazonas, que adota uma alíquota de 25% para as operações com gás natural.
Além disso, merece atenção o fato de alguns estados estabelecerem adicionais de alíquotas às operações internas, que normalmente correspondem a 1% ou 2% da base de cálculo do ICMS.
Muitas legislações estaduais também não são claras quanto à aplicação de benefícios fiscais às importações de gás natural ou de gás natural liquefeito, gerando insegurança jurídica aos importadores.
Um ponto adicional de desuniformidade diz respeito à existência de diferentes regimes especiais de tributação ao gás natural. Alguns estados introduziram benefícios fiscais ou regimes diferenciados no fornecimento de gás natural para usinas termelétricas (UTEs) em relação a determinadas indústrias ou operações de importação, com o objetivo de neutralizar pontos de cumulatividade. É o caso, por exemplo, do diferimento nas saídas internas de gás natural para geração de energia elétrica, o que favorece o desenvolvimento de UTEs em alguns estados onde é aplicado, enquanto outros nada preveem para solucionar o problema.
Ainda com relação aos benefícios fiscais, alguns estados instituíram o recolhimento obrigatório de um percentual sobre a vantagem econômica auferida com o benefício fiscal ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF), acentuando a discrepância de tratamento.
Outro aspecto relevante é a divergência no tratamento dos créditos de ICMS relativos à não cumulatividade. Faltam clareza e uniformidade nas legislações que definem o tratamento dos créditos em operações beneficiadas, por exemplo, com redução de base de cálculo ou outros regimes especiais. Há estados que permitem a manutenção dos créditos registrados, enquanto outros exigem o estorno desses créditos, onerando a cadeia de valor do gás natural e tornando-o menos competitivo em comparação a outras matrizes energéticas.
Por fim, a atribuição de responsabilidade por substituição tributária nas legislações estaduais é ingrediente que reforça a complexidade do sistema. A assimetria entre as diversas legislações estaduais gera, evidentemente, complexidade, incremento de custos de compliance e distorções na cadeia, além de muitas vezes agravar o próprio custo fiscal das operações. A uniformização é essencial para o bom desenvolvimento do mercado.
A viabilização segura de muitas das operações depende ainda de regulação sobre o cumprimento de obrigações acessórias, especialmente as relativas ao transporte por meio de gasodutos. São medidas simples que não devem alterar a arrecadação. Sua implementação ganha complexidade em razão do nosso sistema tributário, mas elas são essenciais para darmos esse passo à frente.

- Categoria: Trabalhista
A nova Convenção Coletiva de Trabalho dos Bancários 2018/2020 (CCT) trouxe importante alteração ao incluir o parágrafo primeiro na cláusula 11,[1] que dispõe sobre a compensação entre o valor da 7ª e 8ª horas deferidas como horas extras e a gratificação de função, no caso de descaracterização do cargo de confiança bancária em reclamação trabalhista.
A jornada de trabalho do bancário comum é de seis horas diárias, enquanto a jornada de trabalho do bancário com cargo de confiança é de oito horas diárias, remunerada mediante pagamento de gratificação de função, nos termos do §2º do art. 224 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).[2]
Existem decisões dos tribunais trabalhistas, no entanto, que afastam o cargo de confiança de bancários cuja fidúcia diferenciada não é comprovada pelos bancos empregadores. Nesses casos, o pedido de pagamento de horas extras além da sexta diária é deferido como se fosse para um bancário comum, sem permitir a compensação da gratificação de função já paga ao longo do contrato de trabalho no exercício da jornada de oito horas.
A possibilidade de compensação entre essas verbas já foi historicamente objeto de diversos requerimentos dos bancos empregadores, tendo em vista que a finalidade inicial do pagamento da gratificação de função aos bancários com jornada de oito horas era justamente remunerar as duas horas extras excedentes de seis, conforme inclusive estabelecido pela Súmula nº 102, item II,[3] do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Note-se que a redação da súmula mencionada apenas repetiu o que já havia sido determinado em 1982 pela antiga Súmula nº 166 do TST, cancelada após sua incorporação à Súmula nº 102, diante da revisão feita pela Resolução nº 129/2005. Além disso, a Orientação Jurisprudencial transitória nº 70 da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1)[4] do TST (OJ transitória nº 70), editada em 2010, também determina a possibilidade de compensação entre a gratificação de função e as horas extras.
Ao longo do tempo, os tribunais trabalhistas passaram a adotar o entendimento de que o enquadramento dos empregados em cargo de confiança bancária visava, muitas vezes, desvirtuar a jornada especial de trabalho dos bancários. Assim, em contradição aos entendimentos manifestados anteriormente pelo TST (e até posteriormente, se considerarmos a OJ transitória nº 70), foi editada a Súmula nº 109 do TST,[5] estabelecendo que o bancário não enquadrado no §2º do art. 224 da CLT por decisão judicial, mas que receba gratificação de função, não poderá ter o salário relativo às horas extras compensado com o valor daquela vantagem.
Ou seja, a rigor, a nova redação da CCT teria contrariado a atual jurisprudência do TST sobre o assunto, o que gerou grande repercussão entre as partes atingidas pela negociação.
A princípio, pode-se defender a possibilidade de negociação em instrumentos coletivos de questões relativas à jornada de trabalho dos empregados desde a publicação da Lei nº 13.467/2017, conhecida como Reforma Trabalhista, que incluiu o artigo 611-A[6] na CLT e determinou no inciso I que a convenção coletiva de trabalho tem prevalência sobre a lei quando dispuser sobre jornada de trabalho, observados os limites constitucionais.
Nesse cenário, a declaração de validade da nova cláusula pelos tribunais trabalhistas parecia superada, especialmente se analisada em conjunto com o previsto pelo artigo 611-A, inciso I, da CLT e o artigo 8º, §3º,[7] da CLT, o qual determina que, no exame da convenção coletiva de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará, exclusivamente, a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104, do Código Civil,[8] e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.
No primeiro artigo publicado no Portal Inteligência Jurídica sobre o assunto[9], em março de 2019, destacamos que ainda não era possível avaliar as impressões manifestadas pela Justiça do Trabalho sobre o tema, diante do escasso material então existente. Entretanto, passados aproximadamente seis meses do início da vigência da nova CCT, já existem diversos posicionamentos divergentes quanto à validade da nova cláusula.
Parte das sentenças proferidas, a exemplo daquelas publicadas nos autos dos processos nº 0000169-61.2019.5.19.0003 (3ª Vara do Trabalho de Maceió/AL), nº 1000153-07.2019.5.02.0701 (1ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul) e nº 1000354-70.2019.5.02.0063 (63ª Vara do Trabalho de São Paulo – Barra Funda), defende a validade da nova cláusula, limitada ao período de vigência da CCT, sob o fundamento de que ela é constitucional – ante o disposto no artigo 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal[10] e artigo 611-A da CLT – e de que a análise de eventual nulidade da cláusula somente poderia ser feita pela Justiça do Trabalho se os sindicatos subscritores participassem da ação trabalhista como litisconsortes necessários, nos termos do artigo 611-A, § 5º, da CLT.[11]
Por sua vez, outras sentenças proferidas, como as publicadas nos autos dos processos nº 1001613-43.2018.5.02.0061 (61ª Vara do Trabalho de São Paulo – Barra Funda), nº 1000242-15.2019.5.02.0706 (6ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Sul) e nº 1000116-74.2019.5.02.0605 (5ª Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Leste), defendem a invalidade da nova cláusula. Um dos fundamentos é que ela configuraria intervenção na atividade jurisdicional, privativa do Poder Judiciário e, portanto, não se trataria de prevalência do negociado sobre o legislado. Outra alegação seria a de que os empregados admitidos antes do início da vigência da cláusula não podem sofrer alterações prejudiciais nas condições do contrato, nos termos do artigo 468 da CLT.[12]
A divergência entre os posicionamentos manifestados pela Justiça do Trabalho apenas demonstra que o tema ainda passará por um processo de maturação e estabilização, até que haja uma consolidação maior da jurisprudência dos tribunais trabalhistas sobre o assunto ou um pronunciamento definitivo do TST ou do STF, embora a validade da norma seja plenamente defensável, nos termos dos artigos 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal e 611-A da CLT.
[1] “CLÁUSULA 11 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
O valor da gratificação de função, de que trata o § 2º do artigo 224, da Consolidação das Leis do Trabalho, não será inferior a 55% (cinquenta e cinco por cento), à exceção do Estado do Rio Grande do Sul, cujo percentual é de 50% (cinquenta por cento), sempre incidente sobre o salário do cargo efetivo acrescido do adicional por tempo de serviço, já reajustados nos termos da cláusula primeira, respeitados os critérios mais vantajosos e as demais disposições específicas previstas nas Convenções Coletivas de Trabalho Aditivas.
Parágrafo primeiro - Havendo decisão judicial que afaste o enquadramento de empregado na exceção prevista no § 2º do art. 224 da CLT, estando este recebendo ou tendo já recebido a gratificação de função, que é a contrapartida ao trabalho prestado além da 6ª (sexta) hora diária, de modo que a jornada somente é considerada extraordinária após a 8ª (oitava) hora trabalhada, o valor devido relativo às horas extras e reflexos será integralmente deduzido/compensado, com o valor da gratificação de função e reflexos pagos ao empregado. A dedução/compensação prevista neste parágrafo será aplicável às ações ajuizadas a partir de 1º.12.2018.
Parágrafo segundo - A dedução/compensação prevista no parágrafo acima deverá observar os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) será limitada aos meses de competência em que foram deferidas as horas extras e nos quais tenha havido o pagamento da gratificação prevista nesta cláusula; e
b) o valor a ser deduzido/compensado não poderá ser superior ao auferido pelo empregado, limitado aos percentuais de 55% (cinquenta e cinco por cento) e 50% cinquenta por cento), mencionados no caput, de modo que não pode haver saldo negativo.”
[2] Art. 224. A duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 (seis) horas contínuas nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 (trinta) horas de trabalho por semana.
§ 2º. As disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes ou que desempenhem outros cargos de confiança desde que o valor da gratificação não seja inferior a um terço do salário do cargo efetivo.
[3] SÚMULA Nº102 DO TST
BANCÁRIO. CARGO DE CONFIANÇA (mantida) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011
I - A configuração, ou não, do exercício da função de confiança a que se refere o art. 224, § 2º, da CLT, dependente da prova das reais atribuições do empregado, é insuscetível de exame mediante recurso de revista ou de embargos.
II - O bancário que exerce a função a que se refere o § 2º do art. 224 da CLT e recebe gratificação não inferior a um terço de seu salário já tem remuneradas as duas horas extraordinárias excedentes de seis. (ex-Súmula nº 166 - RA 102/1982, DJ 11.10.1982 e DJ 15.10.1982)
[4] 70 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. BANCÁRIO. PLANO DE CARGOS EM COMISSÃO. OPÇÃO PELA JORNADA DE OITO HORAS. INEFICÁCIA. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES MERAMENTE TÉCNICAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. (DEJT divulgado em 26, 27 e 28.05.2010)
Ausente a fidúcia especial a que alude o art. 224, § 2º, da CLT, é ineficaz a adesão do empregado à jornada de oito horas constante do Plano de Cargos em Comissão da Caixa Econômica Federal, o que importa no retorno à jornada de seis horas, sendo devidas como extras a sétima e a oitava horas laboradas. A diferença de gratificação de função recebida em face da adesão ineficaz poderá ser compensada com as horas extraordinárias prestadas.
[5] Súmula nº 109 do TST: O bancário não enquadrado no § 2º do art. 224 da CLT, que receba gratificação de função, não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem.
[6] Art. 611-A, inciso I. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais.
[7] Art. 8º, § 3º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva.
[8] Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I - agente capaz;
II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III - forma prescrita ou não defesa em lei.
[9] https://www.machadomeyer.com.br/pt/inteligencia-juridica/publicacoes-ij/trabalhista-ij/clausula-11-da-cct-dos-bancarios-compreensao-historica-e-expectativas
[10] Art. 7º, inciso XXVI. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: XXVI - reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
[11] § 5o. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos.
[12] Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.
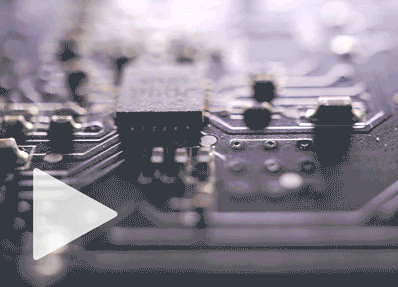
- Categoria: Tecnologia
{youtube}https://youtu.be/IUj8C0hCHe4{/youtube}
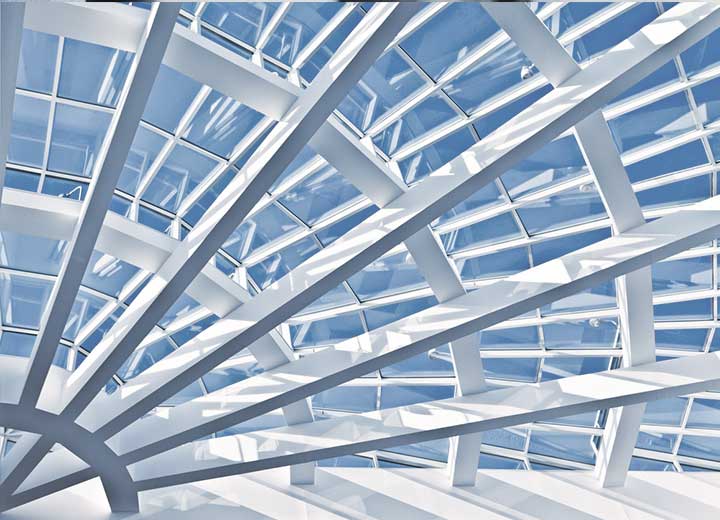
- Categoria: M&A e private equity
Editada em maio do ano passado, a Resolução no 4.661 do Conselho Monetário Nacional (CMN) estabeleceu novas diretrizes para aplicação dos recursos garantidores dos planos administrados pelas entidades fechadas de previdência complementar (EFPC) e alterou alguns balizadores dos investimentos feitos por essas instituições, levantando dúvidas e trazendo desafios para os seus gestores.
Uma questão a ser solucionada é a destinação dos investimentos em ativos do segmento imobiliário, mais especificamente os investimentos diretos em imóveis, pois a Resolução nº 4.661 determinou que as EFPCs não podem mais adquirir imóveis e devem realizar procedimento de desinvestimento dos imóveis detidos em carteira própria dentro de 12 anos.
Para fazer essa mudança, a resolução autoriza as essas instituições a constituir fundos de investimento imobiliário (FIIs), dos quais podem deter até 25% das quotas de emissão. Se o FII for constituído com imóveis constantes do estoque da EFPC em data anterior à edição da nova norma, não haverá limitador de concentração, ou seja, a entidade pode deter até 100% das quotas de emissão do FII.
É justamente esse ponto da nova resolução que gera dúvida sobre a destinação de imóveis fruto de investimentos das EFPCs. Imaginemos que uma entidade tenha investido em título de crédito cuja garantia é um imóvel, circunstância perfeitamente comum e permitida pela Resolução CMN no 3.792, que regulava a matéria anteriormente. Caso a EFPC venha a executar essa garantia hoje, sob a égide da Resolução nº 4.661, ela não poderá mais deter o imóvel diretamente.
É claro que o objetivo da norma não foi vedar a recuperação de um crédito com garantia real, causando prejuízos à EFPC. Como a instituição não pode mais adquirir/deter o imóvel diretamente, seria o caso de constituir um FII para isso? Seria possível considerar esse imóvel equiparável aos detidos em estoque, levando em conta que, rigorosamente, ele não era de propriedade da EFPC quando a Resolução nº 4.661 entrou em vigor? Como a norma não apresenta uma resposta óbvia para essa situação, caberia uma interpretação extensiva do conceito de estoque para que a entidade possa recuperar seu crédito de forma viável e equilibrada do ponto de vista econômico-financeiro.
Caso tal imóvel não possa ser considerado como parte do estoque, a solução apresentada pela Resolução nº 4.661 de constituir um FII para abrigá-lo (com concentração por emissor limitada a 25%) se mostra complexa para os gestores das EFPCs, que muitas vezes não encontrarão investidores parceiros para constituir o FII e conseguir respeitar o limitador de concentração. Qual seria então a opção disponível para a entidade recuperar seu crédito com lastro em imóvel considerando que ela não pode deter imóveis diretamente?
Além disso, ainda que superada a questão do limitador de concentração, é preciso considerar que a estrutura do FII apresenta uma série de custos elevados decorrentes de sua administração e, como tal, representa uma opção pouco atrativa para a implementação dessa mudança normativa imposta às EFPCs.
Nesse contexto, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) precisa esclarecer qual deverá ser o tratamento dado aos imóveis objeto de recuperação de créditos constituídos antes da Resolução nº 4.661 e possivelmente flexibilizar as restrições aplicáveis aos investimentos no segmento imobiliário, buscando oferecer às EFPCs opções mais interessantes e rentáveis de adequação às disposições e aos limitadores da norma.

- Categoria: Trabalhista
Nova decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) reabriu as discussões sobre o conceito de doença estigmatizante adotado pelos tribunais trabalhistas. Em acórdão publicado no mês de abril, os ministros da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do TST, por unanimidade, negaram provimento ao recurso de embargos apresentado pela empresa embargante e mantiveram decisão da Sétima Turma do TST que reconheceu o câncer de próstata como doença estigmatizante.[1]
A sentença e o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT) tinham indeferido o pedido de reintegração pleiteado pelo reclamante, sob o fundamento de que a prova produzida nos autos não demonstrara a alegada dispensa discriminatória por parte da empresa. Na ocasião, alegou-se ainda que a experiência do reclamante havia sido elogiada, admirada e reconhecida pelos empregadores, especialmente pelo fato de se tratar de executivo bem remunerado.
A reversão do acórdão proferido pelo TRT pôs em discussão a própria definição de doença estigmatizante, já que a Súmula nº 443 do TST, ao presumir discriminatória a dispensa de empregado “portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito”, não definiu quais seriam essas doenças graves, o que gerou as mais variadas interpretações pelos tribunais trabalhistas.
Para que se possa debater a recente decisão proferida pelo TST é importante definir o conceito de “estigmatizante” e analisar se, de fato, ele foi relativizado. A rigor, “estigmatizante” é algo que possa suscitar o preconceito das pessoas e ensejar até o afastamento de colegas de trabalho, bem como o julgamento de determinada condição.
Projetando o mesmo raciocínio para “doenças estigmatizantes”, conclui-se que o conceito se refere às enfermidades que, única e exclusivamente por sua existência, possam ensejar comportamentos reprováveis dos demais colegas em relação ao empregado portador da doença, sem outro motivo aparente, inclusive deixando de envolvê-lo em assuntos, eventos e rotinas importantes.
Ocorre que o conceito de “doença estigmatizante” também tem conotação subjetiva, se entendermos que as mesmas doenças podem ser consideradas estigmatizantes em um local de trabalho e não em outro, a depender da forma como são encaradas pelos colegas de trabalho. Essa situação faz com que a “doença estigmatizante” seja fruto de uma construção jurisprudencial, o que gera insegurança nos empregadores, inclusive para definir se poderão ou não dispensar determinados empregados por baixa produtividade, por exemplo, mas que também apresentem algum comprometimento em seu quadro clínico. Isso porque, caso o empregado seja portador de doença considerada estigmatizante, não havendo efetiva demonstração da baixa produtividade, por exemplo, a dispensa será considerada discriminatória por presunção.
O câncer, por sua vez, partindo do pressuposto de que não suscita estigma ou preconceito, já que sequer tem natureza contagiosa, a rigor afastaria a presunção de doença discriminatória e não alteraria a análise/ônus da prova em eventual questionamento judicial. No entanto, o entendimento até então defendido pela maior parte dos tribunais trabalhistas possivelmente será reconsiderado diante da nova decisão do TST, o que mais uma vez aumenta a insegurança jurídica das empresas.
Trata-se de decisão paradigmática, já que a SDI-1 do TST é o órgão revisor das decisões das turmas e unificador da jurisprudência do TST. O entendimento pode alterar a forma como os tribunais trabalhistas vinham interpretando o texto da Súmula nº 443 do TST e até mesmo ampliar o rol de doenças consideradas estigmatizantes.
Por essa razão, é recomendável que todas as questões relacionadas a histórico, performance e avaliação dos empregados sejam devidamente formalizadas e documentadas, a fim de descartar a presunção de discriminação nas dispensas dos que são portadores de doenças estigmatizantes.
[1] Ver autos do processo nº TST-RR-68-29.2014.5.09.0245.

- Categoria: Infraestrutura e Energia
A Medida Provisória nº 863/2018, que extingue o limite de 20% à participação de capital estrangeiro em empresas aéreas brasileiras, deve ser apreciada pelo plenário da Câmara dos Deputados ainda este mês. No último dia 25 de abril, a comissão mista de senadores e deputados federais que examinava a matéria aprovou o texto final do Projeto de Lei de Conversão (PLV) nº 6/2019, que faz alterações na proposta originalmente apresentada pelo Poder Executivo.
O prazo para aprovar a conversão da MP em lei se esgota no próximo dia 22 de maio, data-limite em que o texto precisará ser votado também no plenário do Senado Federal. Caso isso não aconteça, a MP caducará e perderá seus efeitos. Como o PLV aprovado não substitui o texto da MP 863 atualmente em vigor, as alterações realizadas, se aprovadas pelo plenário do Congresso, apenas surtirão efeitos quando da publicação da lei.
A principal alteração aprovada pela comissão mista se refere à extinção do limite da participação estrangeira nas empresas aéreas. Enquanto o texto original da MP 863 eliminava qualquer restrição a essa participação, o PLV reestabelece os artigos do Código Brasileiro da Aeronáutica que previam o limite de 20% à participação estrangeira e a necessidade de diretores brasileiros. Para ser dispensada de observar esses artigos, a empresa aérea deverá operar pelo menos 5% de seus voos em rotas regionais.
Embora busque promover a aviação regional, que ainda é deficitária no Brasil, a alteração impõe um ônus aos potenciais investidores estrangeiros – uma vez que as rotas regionais tendem a não ser lucrativas – e pode limitar a entrada de empresas aéreas internacionais no país de forma independente das companhias nacionais.
A abertura ao capital estrangeiro no setor abrange ainda as empresas de táxi aéreo, que também eram obrigadas a respeitar o limite 20% de participação estrangeira em seu capital antes da edição da MP 863. O texto alterado pelo Congresso não é claro, porém, sobre o tratamento a ser dado aos serviços de táxi aéreo que venham a ter mais de 20% de participação estrangeira. Como sua operação é, por natureza, decorrente de demanda, não seria razoável exigir a obrigação de 5% de voos dessas empresas em rotas regionais.
Outro ponto que chama atenção no texto modificado da MP 863 é o restabelecimento da franquia mínima de bagagem por passageiro, que recoloca o Brasil no grupo de países que não cobram a bagagem despachada, em oposição à Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que autorizou essa cobrança a partir de 2017.
Caso a nova lei originada da MP 863 entre em conflito com a norma da Anac, não resta dúvida que a lei prevalecerá, o que certamente causará agitação no mercado. Desde a publicação da Resolução 400, as empresas aéreas defendem a cobrança como forma de baratear o preço das passagens aéreas, em conformidade com o modelo das companhias de baixo custo (low cost) existentes no exterior. O restabelecimento da franquia de bagagem praticamente inviabiliza o modelo low cost no Brasil, o que também pode ser considerado um fator impeditivo à entrada de investidores no país.
Será preciso aguardar, no entanto, até 22 de maio para conhecer efetivamente as novas políticas do governo brasileiro para esse segmento e poder avaliar o impacto que elas terão nos serviços aéreos do país.

- Categoria: Ambiental
O início de 2019 foi marcado por alterações normativas importantes sobre segurança de barragens, principalmente as de mineração, com o objetivo de endurecer a regulamentação federal e estadual.
No âmbito federal, a principal novidade normativa foi a Resolução nº 4 da Agência Nacional de Mineração (ANM), de 15 de fevereiro de 2019, que estabeleceu medidas regulatórias cautelares para assegurar a estabilidade de barragens de mineração, notadamente as construídas ou alteadas pelo método denominado “a montante”[1] ou por método declarado como desconhecido.
Já no âmbito estadual, o destaque foi a atualização normativa em Minas Gerais, historicamente relevante para a atividade minerária. Como exemplo, foram aprovadas (i) a Lei Estadual nº 23.291/2019, que instituiu a Política Estadual de Segurança de Barragens (PESB-MG); e a (ii) Resolução Conjunta Semad/Feam nº 2.765/2019, que foi logo revogada pela (iii) Resolução Conjunta Semad/Feam nº 2.784/2019, editada para regulamentar alguns preceitos da PESB-MG e da Resolução ANM nº 4/2019.
A PESB-MG, em seu artigo 13, vedou a concessão de licença ambiental para operação ou ampliação de barragens destinadas à acumulação ou à disposição final ou temporária de rejeitos ou resíduos industriais ou de mineração que utilizem o método de alteamento a montante. Assim, a legislação mineira reforçou a proibição de uso do método de construção ou alteamento de barragens de mineração a montante prevista na Resolução ANM nº 4/2019. O artigo 13 da PESB-MG foi regulamentado pela Resolução Conjunta Semad/Feam nº 2.784/19, que estabeleceu prazos para descaracterização de todas as barragens de contenção de rejeitos provenientes de mineração que utilizem o método de alteamento a montante, independentemente de já estarem inativas ou continuarem em operação.
A Resolução ANM nº 4/2019 já tinha estabelecido o prazo de 15 de agosto de 2019 para elaboração de projeto técnico de descomissionamento ou descaracterização das barragens construídas ou alteadas pelo método a montante ou desconhecido, que deverão ser descomissionadas ou descaracterizadas até 15 de agosto de 2021.[2] A Resolução Conjunta Semad/Feam estabeleceu prazos mais longos: as barragens de rejeitos de mineração que utilizem ou que tenham utilizado o método de alteamento a montante deverão ser descaracterizadas no prazo máximo de três anos, a contar da data de publicação da PESB-MG (26.2.2019).
A resolução estabelece ainda que os empreendedores que optarem por manter a atividade podem migrar para a tecnologia alternativa de acumulação ou disposição de rejeitos, observado o mesmo prazo de três anos. Por fim, o texto define o prazo de 90 dias, também contados da publicação da PESB-MG (26.2.2019), para que os empreendedores apresentem cronograma da execução da descaracterização. Aguarda-se que os órgãos envolvidos esclareçam o aparente conflito de prazos entre a resolução aprovada pela ANM e as normas editadas no estado de Minas Gerais.
As alterações legislativas buscaram enrijecer, em termos gerais, o processo de licenciamento e fiscalização de barragens. A PESB-MG, por exemplo, estabeleceu o sistema trifásico de licenciamento e vedou a possibilidade de procedimentos simplificados/unificação de licenças ambientais que englobem fases diferentes do empreendimento. Determinou ainda que as licenças sejam emitidas com base em Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA/RIMA).
Ainda no que diz respeito ao licenciamento ambiental, há imposição prevista de condicionantes mais rígidas e específicas às licenças para casos de acidentes e desastres. Dessa forma, já na fase de expedição da licença prévia, o empreendedor deverá apresentar caução para garantir a recuperação socioambiental em caso de sinistro e desativação de barragem, além de elaborar estudos técnicos relacionados à prevenção de riscos atrelados ao rompimento da barragem. Na fase de licença de instalação, é obrigatória a elaboração de Plano de Ação de Emergência (PAE), no qual já deverá constar previsão de instalação de sistema de alerta sonoro ou outra solução tecnológica de maior eficiência. Por fim, a concessão da licença de operação será condicionada, entre outras questões, à aprovação do PAE e à comprovação da implementação da caução ambiental com a devida atualização.
A atualização normativa de barragens respondeu também a uma preocupação maior com a população residente e trabalhadora na Zona de Autossalvamento (ZAS), definida pela PESB-MG como a porção do vale a jusante da barragem em que não há tempo para intervenção das autoridades competentes em situação de emergência. Essa preocupação é destacada pela Resolução ANM nº 4/2019, que proibiu a manutenção ou construção na ZAS (independentemente do método construtivo adotado na barragem) de (i) qualquer instalação, obra ou serviço, permanente ou temporário, que inclua a presença humana; e de (ii) barramento para armazenar efluente líquido imediatamente a jusante de barragem de mineração que possa interferir em sua segurança. Estabeleceu-se o prazo de 15 de agosto de 2019 para desativação, descomissionamento e descaracterização de instalações, obras e serviços, e o de 15 de agosto de 2020 para barramentos. Além disso, foram exigidos sistemas automatizados de acionamento de sirenes na ZAS, em local seguro e dotado de modo contra falhas em caso de rompimento da estrutura.
No mesmo sentido, foi vedada pela PESB-MG a concessão de licença ambiental para construção, instalação, ampliação ou alteamento de barragem nos casos em que os estudos de cenários de rupturas identifiquem comunidade na ZAS.
A legislação mineira ainda dispôs sobre a realização obrigatória de audiências públicas com a participação da comunidade local e autoridades para discutir as consequências ambientais e socioeconômicas da construção e da operação de barragens. Determinou também que o PAE deverá ser submetido à análise do órgão ou da entidade estadual competente. Ainda, o conteúdo do PAE, especialmente no que tange aos procedimentos a serem adotados em situações de emergência, deverá ser divulgado em reuniões públicas a serem realizadas em locais acessíveis às populações situadas a jusante da barragem, que deverão ser informadas com antecedência e estimuladas a participar das ações preventivas previstas no plano.
Foram realizadas também alterações importantes no sistema de monitoramento e fiscalização independente das barragens de mineração. Primeiramente, a Resolução ANM nº 4/2019 determinou que até 15 de fevereiro de 2020 sejam instalados sistemas de monitoramento com acompanhamento em tempo integral para as barragens de mineração contempladas pela Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/10 – PNSB) com Dano Potencial Associado (DPA) alto.
Por sua vez, a PESB-MG dispôs sobre a periodicidade das auditorias técnicas de segurança, sob responsabilidade do empreendedor, por equipe técnica de profissionais independentes, especialistas em segurança de barragens e previamente credenciados perante o órgão ou a entidade competente do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema). Para barragens com alto potencial de dano ambiental, ficou estabelecida a periodicidade anual; para médio potencial, a cada dois anos; e para baixo potencial, a cada três anos.
Independentemente da auditoria técnica, o órgão ou a entidade competente do Sisema pode determinar, alternativa ou cumulativamente, a realização de novas auditorias, a suspensão ou a redução das atividades da barragem e a desativação da barragem em caso de riscos identificados no acompanhamento da segurança das estruturas. Para o caso de barragens que utilizem o método de alteamento a montante, o empreendedor deverá realizar semestralmente auditoria técnica extraordinária de segurança de barragem até que seja realizada sua descaracterização, nos termos da Resolução Conjunta Semad/Feam nº 2.784/19.
A PESB-MG, por fim, prevê regras mais rígidas de responsabilização dos administradores e representantes legais dos empreendimentos, uma vez que sujeita, de forma expressa, o presidente, diretor, administrador, membro de conselho ou órgão técnico, auditor, consultor, preposto ou mandatário de pessoa jurídica às penalidades previstas no artigo 16 da Lei nº 7.772/80, sem prejuízo de outras sanções administrativas, civis e penais.
Todas essas alterações normativas na atividade minerária, sobretudo em Minas Gerais, criam obrigações para os empreendedores que exigem novos aportes financeiros e a redefinição de estratégias. A fiscalização tornou-se ainda mais rígida, com restrições à construção e um processo de licenciamento ambiental mais rigoroso e detalhado. Nesse novo contexto, o setor minerário deverá contar com apoio técnico especializado para garantir a segurança das suas atividades tanto do ponto de vista jurídico quanto socioambiental.
[1] Resolução Conjunta Semad/Feam nº 2.784/19, artigo 2, inciso IV: “método a montante: metodologia construtiva de barragens em que o material de construção é disposto a montante do eixo do dique inicial.
[2] A descaracterização de barragem consiste em alterar suas características até que não opere mais como estrutura de contenção de sedimentos ou rejeitos.

- Categoria: Imobiliário
Por Mariana Moschiar Almeida
Basta observar algumas das cidades mais pulsantes da atualidade para ver que a criatividade empreendedora parece ser inversamente proporcional ao espaço urbano disponível. Prova disso são os diversos projetos pelo mundo com novas maneiras de fazer melhor uso da cobertura das edificações ou lajes.
Alguns deles agregam à exploração econômica das lajes a ambiciosa proposta de repensar a função dos edifícios no contexto urbano. É o caso do Bosco Verticale de Milão, edifício todo coberto de árvores que, além de referência arquitetônica, funciona como um ar-condicionado natural, diminuindo a temperatura das unidades em dois a três graus centrígrados. Nessa mesma vertente, surgem os green spaces, coberturas de edificações destinadas a agricultura, florestas e espaços de convivência em uma tentativa de combater problemas atuais como a poluição e o aquecimento global. Há inúmeras empresas que instalam e operam fazendas urbanas no topo de edifícios em cidades como Boston e Chicago (EUA), Toronto (Canadá), Xangai (China) e Roterdã (Holanda).
Esse ideário de financiamento da economia verde tem impulsionado também o mercado de energia solar. Em Nova York, por exemplo, onde o público é sensível às questões ambientais, o alto preço da eletricidade, somado a incentivos fiscais e possibilidades de financiamento, tem elevado expressivamente a demanda por instalação de placas solares nos imóveis, seja individualmente ou pela criação de condomínios solares para a produção de energia diferida. Formatos como esses estão presentes em grandes quantidades, por exemplo, em Los Angeles, Maputo (Moçambique) e Hamburgo (Alemanha).
Outro setor em que os players estão se articulando e que deve passar por grandes transformações é o do transporte urbano aéreo. Graças ao fenômeno relativamente novo da entrega por drones, algo até então tido como futurista já é realidade em cidades da China, em Helsinki (Finlândia) e Lugano (Suíça). Estima-se que, em dois a três anos, esses equipamentos tomem o espaço aéreo urbano de cidades como Los Angeles, Londres e Singapura. Empresas do setor estão investindo centenas de milhões de dólares na construção de uma rede de infraestrutura de vertiports, locais de pouso de drones nos topos de edifícios de diversas cidades do mundo.
A demanda tem sido tão grande que edifícios reservam suas coberturas para essa finalidade com antecedência. A proposta dos vertiports é criar um hub de conectividade entre a área onde eles serão instalados e o restante da cidade. Eles servirão como pontos logísticos de distribuição de produtos e recepção de passageiros e prometem, com isso, agregar ao edifício um valor que vai muito além do uso da plataforma de pouso para benefício pessoal dos condôminos do edifício. Um agitado tráfego aéreo nas cidades parece ser uma realidade mais próxima do que se imagina.
Os exemplos acima são prova de um espaço urbano cada vez mais disputado e, nessa mesma medida, mais valioso. Dar nova destinação econômica a uma porção de um imóvel antes inutilizada, além de agregar valor à propriedade, intensifica o cumprimento de sua função social como parte integrante de uma cidade ordenada.
Esse conceito em nada é estranho ao ordenamento jurídico brasileiro que, pela Lei nº 13.465/2017 (até então objeto da Medida Provisória nº 759/2016), regulamentou em definitivo o direito real de laje, uma modalidade de direito de superfície pensada para legalizar assentamentos irregulares em razão dos inúmeros casos de habitações informais nos centros urbanos do país e da evidente necessidade de atribuir valor a esses imóveis como medida para inseri-los na cidade formal.
O direito de laje institui um direito real ao patamar que se sobrepõe ou subpõe a uma construção-base por meio da abertura de uma matrícula própria no registro de imóveis, o que possibilita ao proprietário da laje, por exemplo, ofertá-la em garantia de uma linha de crédito. O novo imóvel passa a ter inscrição individualizada na prefeitura e, com isso, deve recolher tributos e submeter projetos à aprovação da municipalidade, tornando-se uma área computável aos registros do poder municipal e sujeita às normas administrativas e diretrizes urbanísticas. Assim, pela sua regularização, o novo imóvel-laje passa a ser mais seguro e a ter maior valor de mercado, gerando um ganho a todos os agentes envolvidos: o proprietário/contribuinte, o poder municipal e a sociedade como um todo.
Resguardadas aqui as possíveis ponderações jurídicas ao instituto, o direito de laje serve como ferramenta para que o proprietário de um imóvel individualize sua laje para exploração, sem que a lei faça restrição quanto à forma ou finalidade dessa exploração. O diploma legal prevê, inclusive, que o proprietário possa individualizar a laje de seu imóvel, ainda que mantendo para si a titularidade. Assim é possível que o titular da laje e da construção-base sejam a mesma pessoa.
Ora, não funcionaria o instituto igualmente como forma de gerar valor nos exemplos de exploração acima? Seria possível pensar o direito de laje como uma ferramenta aceleradora de oportunidades nesse cenário atual de surgimento de novas demandas e soluções dinâmicas?
Sem dúvida, um grande entrave a essa concretização surge da efetiva operacionalização do direito de laje. A priori, a laje deve ter acesso independente da construção-base, ter seu projeto de utilização submetido à aprovação municipal e seu contribuinte individualizado. Sua instituição depende, ainda, de outorga de escritura, recolhimento do imposto de transmissão e averbação na matrícula da construção-base. Em se tratando de um instituto recente, os registradores imobiliários têm ainda pouca familiaridade com ele, além de entendimentos divergentes e não consolidados quanto aos requisitos para seu registro, o que dá margem a uma abordagem subjetiva das ocasiões em que o direito de laje conseguirá ser efetivamente instituído.
Um longo caminho ainda precisa ser trilhado para que o direito de laje sirva como ferramenta eficaz. Ainda assim, a positivação da modalidade por si só evidencia uma mudança de mindset quanto ao uso do espaço urbano e quanto à importância de que esse espaço urbano integre a cidade formal.Essa abordagem é um caminho sem volta. Vivemos a era do adensamento, da verticalidade e da crescente preocupação com a sustentabilidade do meio urbano. Viabilizar a vida nesses centros passa necessariamente por atender a novas demandas, às vezes recorrendo a medidas multidisciplinares e inovadoras, as quais poderão ser alçadas à qualidade de “soluções” apenas quando sua implementação for economicamente viável. É de se concluir que tão importante quanto pensar soluções para as demandas urbanas da atualidade é desenvolver ferramentas capazes de operacionalizar o modelo de cidade que queremos construir.