
- Categoria: Bancário, seguros e financeiro
Em 2013, pouco depois de terem vindo a público escândalos envolvendo a manipulação de taxas de câmbio e juros, a Iosco (International Organization of Securities Commissions) publicou um relatório em resposta a uma consulta sobre regras aplicáveis a financial benchmarks (referenciais financeiros). De modo não surpreendente, foram detectadas preocupações quanto à fragilidade de certos referenciais, sobretudo em termos de integridade e continuidade.
No Brasil, em operações cursadas nos mercados financeiro e de capitais, um dos parâmetros de remuneração (benchmarks) mais comumente adotados é a taxa DI. Ela serve como referencial para inúmeros empréstimos bancários (operações entre bancos e clientes), captações via debêntures, aplicações financeiras diversas (p. ex.: fundos DI), entre outras transações.
Em termos bem simples, a taxa (DI) utilizada em todas essas situações deriva da taxa de juros praticada em operações interbancárias. Mais especificamente, a taxa DI é calculada com base em empréstimos interbancários entre instituições não integrantes do mesmo conglomerado, com base em taxas pré-fixadas e com prazo de um dia.
Portanto, a determinação da taxa DI para uma data é sempre feita segundo certos procedimentos, por meio dos quais um universo de operações elegíveis é objeto de escrutínio. A metodologia utilizada manteve-se razoavelmente constante ao longo do tempo, embora tenha sofrido melhoramentos pontuais.
Ocorre que, há alguns anos, nota-se uma redução significativa na quantidade de operações cursadas no mercado interbancário. Em 2013, por exemplo, quando a taxa DI começou a apresentar grandes distanciamentos da taxa Selic (que tradicionalmente a acompanhava pari passu), essa situação foi reconhecida oficialmente pela primeira vez, e a Cetip (sucedida pela B3 – Brasil, Bolsa, Balcão S.A.) decidiu alterar sua metodologia de cálculo, de tal modo que, se num determinado dia houvesse menos de dez operações no mercado interbancário, adotava-se, para fins de apuração da taxa, a correlação histórica entre a taxa DI e a Selic.
Em 1º de outubro de 2018, seguindo as recomendações da Iosco (especialmente no que concerne à suficiência de dados para apuração do referencial, objeto do Princípio 7), a metodologia para apuração da taxa DI utilizada pela B3 passou a se basear na observação ou não de duas condições: (i) o número de operações elegíveis para o cálculo da taxa ser igual ou superior a 100; e (ii) o somatório dos volumes das operações elegíveis para o cálculo da taxa ser igual ou superior a R$ 30 bilhões. A nova regra, portanto, confere mais transparência e robustez ao referencial, que agora depende de duas variáveis: quantidade e volume das operações. Assim, se ao menos uma das duas condições acima não for observada em determinada data de apuração, a taxa DI divulgada será igual à taxa Selic Over.
Diante dessa mudança, talvez seja possível revisitar os fundamentos que levaram à edição da Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça, de 1996, que indica ser “...nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela Anbid/Cetip”, em razão de tal taxa supostamente estar “...submetida ao arbítrio de uma das partes”. Isso porque, com a nova metodologia, é mais remoto – senão praticamente inexistente – o risco de a taxa DI sofrer manipulação.

Tratamento de dados pessoais para fins de análise comportamental e oferta de publicidade direcionada
- Categoria: Propriedade intelectual
Com a aprovação da Lei nº 13.709/2018, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), praticamente todos os setores da sociedade, tanto no âmbito público quanto no privado, devem tomar medidas para se adequar às novas exigências legais sobre o tratamento de dados pessoais.
Um dos setores que será afetado mais diretamente pela nova lei será o de publicidade e marketing, especialmente em relação ao modelo de publicidade direcionada com base em análises comportamentais, que individualiza e segmenta os anúncios de acordo com os perfis do público-alvo.
Para criar esses perfis, é necessário tratar um grande volume e uma ampla variedade de dados, como histórico de navegação na Web, uso de aplicativos, hábitos de compras, dados de geolocalização, endereço de IP, dados de rede, registro de data e hora de ações executadas, tempo de permanência em cada página, links clicados e buscas realizadas.
Hoje esses dados costumam ser coletados e tratados livremente, muitas vezes sem o consentimento ou mesmo o conhecimento dos titulares (isto é, a pessoa a quem se referem os dados). Em alguns casos, o argumento para essa prática é que tais dados não seriam, a rigor, dados pessoais, por não serem capazes de identificar uma pessoa, apesar da definição trazida no art. 14 do Decreto nº 8.771/2016, que regulamenta a Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet). Esse modelo, contudo, precisará ser revisto para se ajustar à LGPD, que entrará em vigor em agosto de 2020.
Nos termos da nova lei, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado em uma das dez hipóteses previstas em seu artigo 7º.[1] Além disso, será preciso levar em conta o disposto no §2º do art. 12 da LGPD, segundo o qual poderão ser considerados dados pessoais aqueles utilizados para formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada.
Vale destacar que nenhuma das bases legais que legitimam o tratamento de dados tem preponderância ou maior importância em relação às demais, devendo ser realizada uma análise caso a caso para identificar aquela que mais se adequa à situação concreta.
A análise deste artigo é limitada às hipóteses dos incisos I e IX – o consentimento do titular dos dados e o legítimo interesse do controlador – por serem elas as mais comumente invocadas para fundamentar o tratamento de dados para fins de análise comportamental e oferta de publicidade direcionada. As demais hipóteses muito raramente se aplicariam a essa finalidade.
Em relação ao legítimo interesse do controlador, a LGPD determina expressamente que ele só poderá fundamentar o tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, incluindo, por exemplo, o apoio e a promoção de atividades do controlador (isto é, a pessoa a quem competem as decisões acerca do tratamento dos dados pessoais), desde que tal tratamento não implique violação desproporcional dos direitos e liberdades fundamentais do titular dos dados.
Assim, seria possível questionar o legítimo interesse como fundamento legal para o tratamento de dados pessoais para fins de análise comportamental e oferta de publicidade direcionada, na medida em que, pela própria natureza dos dados, sua coleta e tratamento poderiam ser considerados demasiadamente intrusivos, violando de forma desproporcional a privacidade e a intimidade de seus titulares.
Uma decisão recente nesse sentido foi a da Comissão Nacional de Proteção de Dados da França (CNIL), que condenou o Google a pagar multa de 50 milhões de euros por entender que a empresa tratava dados para fins de análise comportamental e segmentação de publicidade sem adequada fundamentação em uma das hipóteses autorizativas previstas pelo GDPR (o Regulamento Geral Europeu de Proteção Dados, que inspirou a LGPD).
No entendimento do CNIL, “se o grande número de dados processados permite determinar por si só o caráter massivo e intrusivo dos tratamentos realizados, a própria natureza de alguns dos dados descritos, como os de geolocalização ou os conteúdos consultados, reforça esse entendimento. Considerada isoladamente, é provável que a coleta de cada um desses dados revele com alto grau de precisão muitos dos aspectos mais íntimos da vida das pessoas, incluindo seu estilo de vida, seus gostos, seus contatos, suas opiniões ou até mesmo suas viagens. O resultado da combinação desses dados reforça consideravelmente a natureza massiva e intrusiva dos tratamentos em questão”.[2]
Tendo em vista esse entendimento, parece-nos, em princípio, que, embora o legítimo interesse possa ser utilizado como fundamento legal para a coleta e o tratamento de dados mais pontuais e menos invasivos, quando se trata do tratamento massivo de grandes quantidades de dados de natureza mais intrusiva, como é o caso do Google, é mais aconselhável obter o consentimento prévio dos titulares dos dados pessoais como fundamentação legal para o tratamento realizado para fins de análise comportamental e oferta de publicidade direcionada. No entanto, como já destacado, a escolha da base legal para fundamentar o tratamento de dados deve sempre ser feita caso a caso, analisando-se, entre outros aspectos, o tipo e a quantidade de dados coletados, a viabilidade da obtenção do consentimento e os riscos decorrentes de cada escolha.
A LGPD estabelece que o consentimento como base legal para o tratamento dos dados deve ser livre, informado e inequívoco, além de fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular, caso contrário, não será considerado válido. O consentimento também deve se referir a finalidades determinadas, de modo que autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão consideradas nulas.
Em outras palavras, para que o consentimento seja considerado válido e, portanto, hábil a legitimar o tratamento de dados, é essencial que o titular dos dados tenha acesso facilitado às informações sobre o tratamento, as quais deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva, incluindo informações acerca dos tipos de dados tratados, finalidade específica do tratamento, forma e duração do tratamento, identificação do controlador responsável pelas decisões referentes ao tratamento, consequências resultantes, impactos para os titulares dos dados e grau de intrusão em suas vidas privadas.
No caso do Google mencionado antes, o CNIL entendeu que o consentimento obtido não era válido, pois as informações sobre o tratamento estavam espalhadas por diversos documentos, o que tornava o acesso a elas difícil para os titulares dos dados. Além disso, as informações eram demasiadamente genéricas, e isso impedia que os titulares entendessem com suficiente clareza as consequências particulares do tratamento e avaliassem a extensão do tratamento e o grau de intrusão em suas vidas privadas.
O CNIL entendeu ainda que, para que o consentimento fosse considerado válido, seria necessário um ato positivo por parte do titular dos dados, não apenas opt-ins pré-selecionados. Ou seja, de acordo com o entendimento do CNIL, é imprescindível que o próprio titular dos dados selecione a caixa manifestando expressamente seu consentimento.
Por fim, o CNIL reiterou que o consentimento deve ser concedido de forma específica e separada para cada finalidade de tratamento (por meio de opt-ins específicos e separados para cada finalidade), não sendo aceito o mero “de acordo” com a política de privacidade como um todo, considerado demasiadamente genérico e, portanto, nulo. Em relação a esse ponto, cabe destacar que a LGPD, diferentemente do GDPR, apenas exige que o consentimento seja específico em situações excepcionais (como no caso do tratamento de dados sensíveis ou da transferência internacional de dados). Assim, em tese, não há nada na lei brasileira que impeça a obtenção de um único “de acordo” com a política de privacidade como um todo.
Embora essa decisão do CNIL tenha sido tomada com base no GDPR, ela constitui um precedente bastante relevante, que pode ser utilizado como referencial interpretativo para a aplicação da LGPD, sempre tendo em mente as semelhanças e as diferenças entre as duas legislações.
Assim, é de suma importância que as empresas de marketing e publicidade direcionada observem atentamente as questões analisadas neste artigo e se adaptem às novas exigências da LGPD, a fim de garantir que o tratamento de dados pessoais por elas realizado esteja sempre embasado em uma das hipóteses legais, evitando a aplicação de sanções, as quais incluem multas de até 2% do faturamento da empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, limitada a R$ 50 milhões por infração.
[1] Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:
I - mediante o fornecimento de consentimento pelo titular;
II - para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;
III - pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do Capítulo IV desta Lei;
IV - para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais;
V - quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados;
VI - para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 (Lei de Arbitragem);
VII - para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;
VIII - para a tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias;
IX - quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais; ou
X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.
[2] Tradução livre. Texto original: “Par ailleurs, si le très grand nombre de données traitées permet de caractériser à lui seul le caractère massif et intrusif des traitements opérés, la nature même de certaines des données décrites, telles que les données de géolocalisation ou les contenus consultés, renforce ce constat. Considérée isolément, la collecte de chacune de ces données est susceptible de révéler avec un degré de précision important de nombreux aspects parmi les plus intimes de la vie des personnes, dont leurs habitudes de vie, leurs goûts, leurs contacts, leurs opinions ou encore leurs déplacements. Le résultat de la combinaison entre elles de ces données renforce considérablement le caractère massif et intrusif des traitements dont il est question” (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL) - DELIBERAÇÃO N.º SAN-2019-001 DE 21 DE JANEIRO DE 2019).

- Categoria: Infraestrutura e Energia
A Lei Federal nº 13.726/18, ou Lei da Desburocratização, sancionada em outubro, não apenas autoriza, mas também obriga os servidores públicos a dispensar ou ao menos simplificar formalidades ou exigências no seu trato com os cidadãos. Entre elas, estão:
- Reconhecimento de firma.
- Autenticação de cópia de documentos, quando apresentada conjuntamente com o original, inclusive documentos pessoais do administrado.
- Apresentação de certidão de nascimento, a qual se torna substituível por cédula de identidade, título de eleitor, identidade profissional ou funcional, carteira de trabalho, certificado de alistamento militar e passaporte.
- Apresentação de título de eleitor (exceto para votar ou registrar candidatura).
Além do afastamento dessas formalidades ou exigências, a Lei da Desburocratização ainda limitou a possibilidade de o agente público solicitar certidões e documentos expedidos por órgãos ou entidades que integrem o mesmo Poder (Executivo, Legislativo ou Judiciário), exigindo-se, assim, um diálogo institucional. Nesse sentido, o legislador autorizou a criação de grupos setoriais de trabalho visando a (i) identificar dispositivos legais ou regulamentares que prevejam exigências descabidas ou exageradas, bem como procedimentos desnecessários ou redundantes; além de (ii) sugerir medidas legais ou regulamentares que visem a eliminar o excesso de burocracia.
A Lei da Desburocratização vai além, autorizando que os próprios cidadãos comprovem fatos mediante declaração escrita e assinada, quando a repartição competente não puder fornecer documento comprobatório por motivo não imputável ao solicitante: na prática, em casos de greve de órgãos públicos, por exemplo, os documentos por eles expedidos poderão ser substituídos por autodeclaração, durante o período da paralisação, ficando o declarante sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis.
A lei também autorizou a comunicação verbal, telefônica e por e-mail entre os agentes públicos e os administrados, o que já acontecia em muitos casos, mas não estava formalmente regulamentado.
O legislador ainda instituiu o Selo de Desburocratização e Simplificação, destinado a reconhecer e estimular projetos, programas e práticas que simplifiquem o funcionamento da administração pública e melhorem o atendimento aos usuários dos serviços públicos. Ainda pendente de regulamentação, o selo representa um mecanismo de gestão por estímulo, que, embora pouco utilizado pela administração pública brasileira, pode se mostrar bastante efetivo.
Em suma, o legislador procurou disciplinar regras para dar concretude aos princípios da eficiência, da informalidade e da verdade material, que, apesar de positivados desde a Constituição Federal e a Lei de Processo Administrativo Federal, não dispunham de parâmetros normativos para sua aplicação. Essa lacuna vinha justificando a burocratização, do trato dos servidores públicos com os cidadãos, que deverá ser mitigada com a nova lei, quanto mais houver conscientização dos administrados acerca de seus direitos.

- Categoria: Contencioso
Em decisão proferida no fim do ano passado nos autos do Recurso Especial nº 1.639.035/SP, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) criou um precedente paradigmático ao reforçar a tese que autoriza a extensão objetiva da cláusula compromissória em operações envolvendo uma série de contratos coligados, quando o contrato principal contém cláusula arbitral, permitindo até mesmo o afastamento de cláusulas de eleição de foro judicial inseridas nos contratos acessórios da operação.
Origem do caso
A origem do caso é um contrato de financiamento (ou abertura de crédito), que a Paranapanema S.A. celebrou em 2007 com o então Banco UBS Pactual S.A. (atualmente, Banco BTG Pactual) e o Banco Santander Banespa S.A. (hoje Banco Santander S.A.), por meio do qual recebeu aproximadamente R$ 100 milhões de cada uma das instituições financeiras.
O contrato previa a quitação da dívida da companhia com os bancos por uma de duas formas: (i) pagamento em moeda nacional; ou (ii) dação em pagamento por meio de ações ordinárias da companhia, a serem emitidas em aumento de capital. A Paranapanema optou pela segunda forma de pagamento e, para garantir a operação, as partes também celebraram contratos de swap que, em síntese, assegurariam um retorno mínimo aos credores, caso as ações fossem avaliadas em valor abaixo daquele fixado contratualmente durante um período pré-estabelecido.
Enquanto o contrato de financiamento continha cláusula compromissória, os contratos de swap continham cláusula de eleição de foro judicial, elegendo a Comarca da Capital do Estado de São Paulo como competente para apreciar quaisquer conflitos deles oriundos.
Quando surgiu uma divergência quanto ao pagamento do valor adicional previsto nos contratos de swap, o Santander iniciou um procedimento arbitral contra a Paranapanema e o BTG perante o Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC) – Procedimento Arbitral CAM-CCBC nº 17/2010 – visando à condenação da Paranapanema ao pagamento da diferença entre o valor de mercado das ações em determinado período e o valor de seu crédito.[1]
Irresignada com a sentença arbitral – que a condenou ao pagamento do valor adicional –, a Paranapanema ajuizou a ação anulatória de que trata o artigo 32 da Lei nº 9.307/98 (Lei de Arbitragem), alegando a inexistência de cláusula compromissória nos contratos de swap, o que levaria à ausência de jurisdição arbitral.[2] Em outras palavras, no entender da Paranapanema, a matéria não deveria sequer ter sido submetida à arbitragem, na medida em que os contratos de swap em discussão (base dos pedidos feitos pelo Santander) não continham cláusula compromissória apta a afastar a competência do Poder Judiciário para julgar as controvérsias deles oriundas.
Nos autos da anulatória, o juízo da 18ª Vara Cível reconheceu a ocorrência de violação aos princípios de imparcialidade e independência na formação do tribunal arbitral e decretou a anulação da sentença arbitral. No entanto, afastou o argumento de ausência de jurisdição do tribunal suscitado pela Paranapanema. Em sede de apelação, a 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) manteve a anulação da sentença arbitral e reconheceu a coligação entre o contrato de financiamento e o os contratos de swap, consignando que:“[s]e o contrato principal de empréstimo reflete verdadeira condição sine qua non da existência daqueles de ‘swap’, que lhes são meros anexos ou acessórios, a cláusula compromissória do contrato principal se estende ao acessório coligado”.
Tanto a Paranapanema quanto o BTG recorreram da decisão do TJSP, levando a controvérsia ao STJ, por meio do Recurso Especial nº 1.639.035/SP.
Julgamento do Recurso Especial nº 1.639.035/SP
Em votação por maioria, a 3ª Turma do STJ negou provimento ao recurso da Paranapanema e do BTG.
Em seu voto, o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino – acompanhado pelo ministro Marco Buzzi e pelo desembargador convocado José Lázaro Alfredo Guimarães – destacou que, diante da “coligação entre os contratos entabulados entre as partes”, é “flagrante a possibilidade de extensão da cláusula compromissória prevista no contrato principal aos contratos de swap, eis que vinculados a uma única operação econômica”.
Lançando mão do princípio da gravitação jurídica, segundo o qual o acessório segue a sorte do principal, o relator reconheceu que a cláusula arbitral prevista no contrato principal vincula as partes à arbitragem também por disputas provenientes de contratos acessórios (ainda que, em tais contratos, tenha se eleito o foro judicial).
Entendeu, assim, que a inclusão das cláusulas de eleição de foro nos contratos de swap não teria o condão de afastar a “vontade cristalina das partes de arbitralizar os conflitos emergentes do negócio jurídico realizado”, mantendo a posição externada pelo TJSP.
O ministro Luis Felipe Salomão capitaneou a divergência – acompanhada pelo ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – sustentando que, na linha da jurisprudência do STJ, “os contratos coligados, conquanto ligados por um nexo de causalidade, não perdem a autonomia e a individualidade que lhes são próprias, ínsitas a cada relação jurídica por eles regulada”.
Ressaltou o papel de relevo que o princípio da autonomia da vontade das partes desempenha na arbitragem e a individualidade das relações jurídicas criadas por cada contrato independente, afastando a possibilidade de extensão objetiva da cláusula compromissória.
Conduziu seu voto no sentido de que a extensão da cláusula compromissória a contratos coligados (especialmente em se tratando de contratos que contêm cláusulas de eleição de foro judicial) depende do exame de fatos, principalmente, da “investigação da vontade das partes”, a fim de que se determine se a inclusão de cláusula de eleição de foro nas avenças posteriores pode ter sida como suficiente para “indicar a ausência de concordância das partes com a resolução arbitral”.
Considerações finais
Diante da decisão, as partes envolvidas em operações complexas, regidas por diversos instrumentos contratuais, devem estar atentas à forma como expressam sua vontade, manifestando claramente, se for o caso, sua opção de não estender a cláusula arbitral contida no contrato ‘guarda-chuva’ aos demais contratos de por incluir cláusulas de eleição de foro judicial nesses contratos acessórios.
De todo modo, é certo que o princípio da autonomia da vontade das partes desempenha um papel de suma relevância na arbitragem, devendo o intérprete, ao decidir questões relacionadas à jurisdição e à extensão da cláusula arbitral, sempre investigar os fatos e nuances do caso concreto e da relação entre os litigantes.
[1] Quando da assinatura do contrato de financiamento, o Santander e o BTG celebraram um acordo entre credores, em que o primeiro se obrigou a garantir a quitação da dívida da Paranapanema com o segundo. Nos termos do acordo, o Santander havia quitado a dívida da Paranapanema com o BTG e se sub-rogado em seu crédito e, posteriormente, instaurou arbitragem contra o BTG buscando recuperar esses valores. Portanto, o BTG foi incluído na arbitragem contra a Paranapanema apenas para evitar eventuais decisões conflitantes entre a arbitragem e a outra disputa existente.
[2] Nos autos da Ação de Decretação de Nulidade de Sentença Arbitral (Processo nº 0002163-90.2013.8.26.0100, em trâmite perante a 18ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo), a Paranapanema também suscitou a violação dos princípios de imparcialidade e independência pelo tribunal arbitral, uma vez que, para a Paranapanema, por se tratar de arbitragem multipartes e serem 2 (duas) requeridas, não poderia ter sido indicado o coárbitro por apenas uma das partes do polo passivo.

- Categoria: Tributário
Lançada em outubro do ano passado como uma iniciativa muito positiva da Receita Federal do Brasil (RFB) para orientar o contribuinte, além de evitar a inadimplência e possíveis litígios, a minuta da portaria que cria o programa federal de estímulo à conformidade tributária, o Pró-Conformidade, tem alguns pontos bastante questionáveis que analisamos neste artigo.
O texto foi submetido à Consulta Pública nº 4/2018 da Receita Federal do Brasil (RFB) para receber opiniões e propostas dos contribuintes, mas desde 31 de outubro, quando o prazo de contribuição se encerrou, nenhum ato normativo foi publicado para ratificar ou modificar a minuta da portaria original que instituirá o programa.
A proposta é inspirada no programa Nos Conformes, instituído pelo estado de São Paulo por meio da Lei Complementar nº 1.320/2018, e do Cadastro Fiscal Positivo, a ser implementado pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Segundo a exposição de motivos da minuta da portaria da RFB, o Pró-Conformidade “busca estimular os contribuintes a adotarem boas práticas com o fim de evitar desvios de conduta e de fazer cumprir a legislação”. Essas “boas práticas” estão relacionadas ao cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias (pagamento dos tributos e apresentação de declarações e informações ao fisco).
De acordo com a minuta, o programa tem como objetivo a realização do crédito tributário, por meio de medidas que facilitam seu pagamento, orientam e apoiam o contribuinte e evitam a constituição de débitos, a inadimplência e o contencioso (administrativo ou judicial). Para isso, os contribuintes serão classificados em categorias (A, B ou C) de acordo com seu histórico recente[1] de relacionamento com o órgão. Para fazer a classificação, a RFB levará em conta os seguintes critérios: (i) registro e manutenção de situação cadastral compatível com suas atividades; (ii) apresentação à RFB de declarações e escriturações com integridade, veracidade e tempestividade; (iii) pagamento integral e tempestivo dos tributos devidos (art. 4º da minuta da portaria).
Os contribuintes classificados na categoria A, de melhor histórico, farão jus aos seguintes benefícios: (i) informação prévia sobre indício de infração apurada pela Receita Federal antes de iniciado o procedimento fiscal, o que viabilizaria a sua regularização pelo contribuinte sem a imposição das penalidades aplicáveis; (ii) atendimento presencial prioritário; (iii) prioridade na análise de demandas pela RFB, inclusive em relação ao recebimento de restituições, respeitadas as prioridades definidas em lei; e (iv) Certificado de Conformidade Tributária emitido pela Receita Federal (art. 12 da minuta da portaria).
Já os contribuintes classificados na categoria C estarão sujeitos “aos rigores da lei”,[2] como a inclusão no Regime Especial de Fiscalização objeto da Instrução Normativa RFB nº 979/2009, a qual impõe, entre outras medidas, manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo, redução dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento dos tributos, utilização compulsória de controle eletrônico das operações realizadas e recolhimento diário dos respectivos tributos, com controle especial na emissão de documentos comerciais e fiscais.
Esses contribuintes também estarão sujeitos à aplicação de medidas coercitivas, como restrições aos que não regularizem débitos objeto da Cobrança Administrativa Especial, entre elas, a cassação de benefícios fiscais, o arrolamento de bens e a exclusão de programas de parcelamento. Como não há nenhuma previsão sobre o tratamento a ser dispensado aos contribuintes classificados na categoria B, infere-se que eles não terão tratamento diferenciado.
Os pontos da minuta que podem ser considerados frágeis dizem respeito justamente aos critérios previstos para classificar os contribuintes. Sobre a verificação da apresentação de declarações e escriturações com integridade e veracidade, por exemplo, o art. 8º, IV, da minuta estabelece como um dos critérios a serem observados os “resultados dos pedidos de restituição, reembolso e ressarcimento e das declarações de compensação”. Mais uma vez, a RFB, a exemplo da multa isolada prevista no art. 74, §17, da Lei nº 9.430/96,[3] parece pretender penalizar o contribuinte nas hipóteses de mero indeferimento de pedidos de restituição, ressarcimento ou não homologação de compensação.
A adoção desse critério pode configurar violação ao direito de petição previsto na Constituição Federal (artigo 5º, XXXIV), pois acaba criando obstáculos (inclusive de caráter financeiro) para que as empresas apresentem petições ao poder público em defesa de seu direito de reaver tributos indevidamente recolhidos. Transparece, nesse sentido, o viés de sanção política, uma espécie de mecanismo para desestimular o contribuinte a buscar a defesa de seus direitos.
Vale lembrar também que o contribuinte que teve negado o pedido de restituição ou ressarcimento, ou não homologada uma compensação no âmbito da Receita Federal, tem o direito constitucional de demonstrar a legitimidade de seu crédito ou a regularidade da compensação realizada na esfera judicial. Sendo assim, na forma como previsto na minuta da portaria, esse critério pode ensejar violação à garantia da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF).
Para analisar a apresentação de declarações e escriturações de forma tempestiva, será verificado o critério de “retificações reiteradas de declarações” (art. 9º, III). O problema é que, dentro do prazo legal, o contribuinte tem o direito de retificar as declarações sem que elas possam ser consideradas intempestivas, o que descartaria o uso desse critério para fins de classificação dos contribuintes.
Além disso, a previsão de que a classificação considerará períodos anteriores à edição da portaria representa ilegítima retroatividade da norma, uma vez que poderá ensejar a penalização dos contribuintes por condutas praticadas antes mesmo do conhecimento das regras.
A controvérsia maior, no entanto, está relacionada às consequências e penalidades severas impostas aos contribuintes enquadrados na categoria C. Entre elas, a cassação dos benefícios fiscais por meio de ato infralegal (a portaria) e, o que é mais grave, a imposição de sanções mesmo nos casos em que o contribuinte esteja regular perante o fisco, mas recebeu essa classificação.
Não há nem mesmo previsão de comunicação à autoridade competente para aplicação das sanções relacionadas à cassação dos benefícios fiscais, o que pode representar violação ao princípio da legalidade e ao direito de defesa e contraditório.
É importante ressaltar, no entanto, que, após ser informado de sua classificação por meio do e-CAC, o contribuinte poderá requerer a revisão desse enquadramento no prazo de 30 dias, “quando identificar erro na aplicação dos critérios” (art.5º, §§1º e 2º, da minuta da portaria). Assim, embora não haja recurso em face da decisão da RFB para apreciar tal requerimento, a minuta da portaria traz mecanismos de revisão da classificação. É recomendável, porém, que esse requerimento seja processado no efeito suspensivo, a fim de promover o direito ao contraditório e à ampla defesa.
Também não há previsão de divulgação da classificação dos contribuintes a terceiros, como ocorre no programa Nos Conformes. Essa publicidade, desde que o contribuinte não se oponha, pode ser benéfica e trazer vantagens competitivas aos que forem classificados na categoria A.
Em resumo, mesmo considerando que a aproximação entre o fisco e o contribuinte é sempre muito bem-vinda, o programa Pró-Conformidade, como proposto na minuta da portaria que o institui, pode trazer incertezas e gerar questionamentos. Há pontos que precisam de aprimoramento, inclusive para evitar que se cometam injustiças na segmentação dos contribuintes.
[1] Segundo o art. 4º, §3º, da minuta da portaria, histórico do ano corrente até os últimos quatro anos a partir do ano-calendário de 2016.
[2] De acordo com a exposição de motivos da minuta da portaria.
[3] Multa isolada de 50% aplicável sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação simplesmente não homologada.

- Categoria: Trabalhista
O Decreto Federal nº 9.571/2018 vem chamando a atenção das empresas ao pressupor a existência de regras legais efetivas sobre a responsabilização pela cadeia produtiva. O decreto estipula as diretrizes sobre direitos humanos a serem adotadas por empresas nacionais e multinacionais de todos os portes, no contexto de toda a operação.
A regulamentação merece atenção em matéria trabalhista, já que as normas vigentes e a jurisprudência se pautam nos princípios de promoção dos direitos humanos e da dignidade da pessoa para proteção do trabalhador, como questões relacionadas à segurança e à medicina do trabalho, embora haja divergência quanto à existência de regras efetivamente fundadas em lei sobre a responsabilidade das empresas pela cadeia produtiva, como pressupõe o decreto.
Em linhas gerais, o texto busca promover os direitos humanos no meio empresarial em respeito às normas previstas na Constituição Federal, normas infraconstitucionais e convenções internacionais de que o Brasil é signatário.
O decreto também propõe que as empresas adotem diversas medidas para contribuir com a efetivação dos direitos humanos, entre as quais se destacam:
- monitorar o respeito aos direitos humanos na cadeia produtiva vinculada à empresa;
- adotar procedimentos para avaliar o respeito aos direitos humanos na cadeia produtiva;
- identificar os riscos de impacto e a violação a direitos humanos no contexto de suas operações;
- implementar atividades educativas em direitos humanos para todos os empregados e parceiros; e
- aplicar cursos, palestras e avaliações de aprendizagem a todos os empregados e parceiros.
Até então, a fundamentação utilizada pelos órgãos de controle – notadamente, o Ministério Público do Trabalho – para imputação da responsabilidade das empresas pela cadeia produtiva era principiológica, englobando a Constituição Federal, convenções internacionais, o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, entre outros. A partir da publicação do decreto, vislumbra-se que, embora as empresas possam cumprir as diretrizes previstas de maneira voluntária, o Ministério Público do Trabalho passará a utilizá-lo como base legal, e não mais principiológica, para imputar a responsabilidade pela cadeia produtiva.
Ainda que a imputação dessa responsabilidade com base em decreto federal seja questionável, as empresas deverão se resguardar e cumprir as diretrizes nele previstas, pois não havendo monitoramento da cadeia produtiva e adoção de providências para controle dos fornecedores, inevitavelmente a empresa será responsável.
O decreto faz alusão à responsabilidade das empresas pela cadeia produtiva nos dispositivos relacionados (i) ao dever de monitoramento e respeito aos direitos humanos; (ii) à identificação dos riscos de impacto e da violação a direitos humanos no contexto de suas operações; (iii) à adoção de procedimentos para avaliar o respeito aos direitos humanos na cadeia produtiva; e (iv) à adoção de medidas de prevenção e de reparação de violações de direitos humanos na cadeia produtiva.
Para evitar a imputação da responsabilidade, é recomendável adotar algumas medidas como forma não apenas de ressaltar a preocupação da empresa com a responsabilidade social, mas também de fortalecer a sua imagem no mercado, sobretudo no atual contexto de proeminência da cultura de compliance. Entre elas:
- elaborar check list das determinações a serem cumpridas na contratação de fornecedores;
- revisar os contratos de prestação de serviços dos fornecedores; e
- revisar o código de conduta vigente para implementação das diretrizes sugeridas pelo decreto.

- Categoria: Infraestrutura e Energia
O governo do estado de São Paulo promulgou, em janeiro, a Lei nº 16.933/2019, que regula em âmbito estadual os institutos da prorrogação contratual, prorrogação antecipada e relicitação. Trata-se de norma similar à Lei nº 13.448/2017, que dispõe sobre os mesmos institutos na esfera da Administração Pública federal.
Em ambas as leis, a prorrogação se refere a duas modalidades distintas. Uma consiste na prorrogação contratual, realizada em razão do advento do termo original, mediante a alteração de sua vigência. Já a segunda é a prorrogação antecipada, que, na lei federal, está condicionada à realização, pelo contratado, de novos investimentos não previstos originalmente e não amortizáveis no prazo inicial. Vale notar que, no estado de São Paulo, a obrigação de inclusão de novos investimentos também condiciona a pura e simples prorrogação contratual.
Algumas exigências previstas em nível federal no que se refere à prorrogação não foram mencionadas no texto da lei estadual. Um exemplo é a falta de referência na norma paulista à necessidade de autorização expressa no edital ou no contrato original como requisito para a adoção dos processos de prorrogação contratual e prorrogação antecipada.
Além disso, a lei estadual não fixa um prazo para a manifestação do pedido de prorrogação pela parte interessada, ao contrário do disposto na lei federal. Esta última determina que o pedido de prorrogação seja apresentado com antecedência mínima de 24 meses, contados do término do contrato originalmente firmado, devendo, ainda, ocorrer quando a vigência do contrato em questão tiver alcançado entre 50% e 90% do prazo originalmente estipulado.
Outros requisitos da lei federal que foram afastados na versão paulista da norma são a proibição de que o mesmo contrato seja prorrogado mais de uma vez e o limite de prazo da prorrogação. Enquanto as prorrogações de contratos federais apenas podem ocorrer uma vez e com vigência limitada a período igual ou inferior ao prazo de prorrogação originalmente fixado ou admitido no contrato, nos contratos estaduais essas limitações não existem. Isso porque, na norma estadual, não há proibição de prorrogações sucessivas e a duração delas não se vincula a um marco específico em função do prazo original, mas está relacionado (i) à amortização dos investimentos não originalmente previstos ou (ii) à mitigação ou resolução de desequilíbrio econômico-financeiro.
Para fundamentar a prorrogação, a entidade competente deverá apresentar estudo técnico, econômico e ambiental que demonstre a vantagem da prorrogação em relação a uma nova licitação, a fim de fundamentar sua decisão. Além dos requisitos já exigidos na esfera federal, a Administração estadual terá que contemplar análises e informações adicionais, a saber: (i) as razões para manter ou alterar os critérios de remuneração; (ii) os mecanismos que demonstrem a mitigação ou resolução do desequilíbrio econômico-financeiro verificado em relação ao parceiro privado; e (iii) as garantias que serão concedidas ao parceiro privado como forma de mitigar os riscos contratuais e diminuir os custos a eles associados. Nesse ponto, o legislador estadual mostrou-se especialmente preocupado em garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos no contexto de alteração da sua vigência.
A alteração procedimental mais relevante da lei estadual, em comparação com a lei federal, é o silêncio quanto à prévia realização de consulta pública e à submissão do processo de prorrogação ao escrutínio do tribunal de contas.
A relicitação da lei federal também inspirou o legislador paulista. Esse procedimento administrativo prevê extinção amigável dos contratos de parceria e a celebração de novo ajuste negocial para os empreendimentos, em novas condições contratuais e com novos contratados, mediante licitação promovida para esse fim. Ambas as leis preveem a possibilidade realizar nova licitação de contratos em vigor que: (i) não estejam sendo cumpridos pelos contratados; ou (ii) cujos contratados demonstrem incapacidade de adimplir as obrigações contratuais ou financeiras assumidas.
A lei federal estabelece que não se aplicam aos processos de relicitação os regimes de recuperação judicial e extrajudicial previstos na Lei nº 11.101/2005 (exceto na hipótese prevista no §1º do art. 20 desta lei). A lei estadual, por sua vez, não se refere a esses regimes.
Outra previsão importante também inspirada na norma federal é a possibilidade de as partes submeterem o cálculo da indenização a um processo de arbitragem, conduzido em paralelo aos procedimentos administrativos para a nova licitação. O legislador estadual revela a mesma intenção de conferir maior eficiência ao processo, uma vez que a discussão de indenização em âmbito judicial é em um dos principais fatores de atraso nos processos de término dos contratos. Assim, ambas as leis reconheceram meios mais céleres de resolução de conflito: a rescisão amigável e a arbitragem.
A definição de direito patrimonial, para possibilitar a submissão à arbitragem, ganhou um adendo na lei estadual. O texto considera que divergências quanto à execução técnica de determinada obrigação contratual também consistem em direito patrimonial sujeito à arbitragem, em adição àqueles outras situações já consideradas na lei federal, a saber: (i) as questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; (ii) o cálculo de indenizações decorrentes de extinção ou de transferência do contrato de concessão; e (iii) o inadimplemento de obrigações contratuais por qualquer das partes.
A norma estadual também obrigou a realização de consulta pública antes da decisão de relicitar um contrato. No entanto, em vez de os estudos serem encaminhados para o tribunal de contas após a realização da consulta pública, a Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa será o órgão incumbido de se manifestar sobre o processo em São Paulo.
Como forma de mitigar os riscos e diminuir os custos a eles associados, a lei paulista estabeleceu uma autorização genérica para a constituição de garantia pública em contratos de concessão comum, parcerias público-privadas, concessão regida por legislação setorial, permissão de serviços públicos e outros negócios público-privados. Essa previsão parece trazer um importante componente de inovação, sem correspondência na legislação federal: a Administração estadual, que só estava autorizada a prestar garantias no âmbito de contratos de parcerias público-privadas, poderá fazê-lo a partir de agora em relação a tipos contratuais diversos.
A lei federal restringe seu âmbito de aplicação aos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário, considerando que outros já dispunham de norma específica a respeito dos institutos. Já a lei estadual remeteu aos setores de saúde, saneamento, serviços de gás canalizado, infraestrutura e transporte (como rodovias, transporte sobre pneus, ferroviário, metroferroviário e aquaviário).
Ambas as leis traduzem um entendimento cada vez mais fundamentado de que as licitações convencionais impõem seus próprios custos e, por isso, não podem ser consideradas a única alternativa juridicamente válida à disposição do administrador público. Tanto as prorrogações quanto as relicitações – se observadas cautelas para sua correta aplicação – podem minimizar custos de oportunidade e proporcionar maior celeridade e economicidade na realização de novos investimentos, além de dar cabo a contratos malsucedidos, solucionando os imbróglios e dando continuidade aos projetos de interesse do Estado.

Em vigor desde janeiro de 2014, a Lei Anticorrupção (12.846/13) construiu um legado de mudanças na cultura corporativa ao longo dos últimos cinco anos. O cenário hoje é bem diferente do observado no início de sua vigência, quando riscos de corrupção pareciam distantes da realidade corporativa, e as empresas ainda enxergavam megaoperações da Polícia Federal e do Ministério Público como episódios restritos aos agentes políticos.
A lei trouxe as empresas para o centro da responsabilização jurídica por atos de corrupção e as investigações (em especial a Lava Jato) disseminaram a ideia de que o risco de integridade é grande demais para ser ignorado pela alta gestão, o que deu início a uma corrida para a implantação de mecanismos e procedimentos de compliance.
Embora salutar, esse movimento muitas vezes é errático. Não raro, as empresas se veem perdidas em um mar de incertezas legais, derivadas, em parte, da ausência de moldura legal. Tal insegurança pode trazer imobilismo, como no caso dos acordos de leniência (tratados em artigo anterior), além de riscos, como ocorre nas investigações internas.
As investigações corporativas são parte primordial de um programa de compliance, que deve se apoiar no tripé básico: prevenção, detecção e resposta aos riscos de integridade. Nesse sentido, um programa que tenha políticas preventivas será capaz de detectar problemas, mas, se ignorá-los, se tornará inócuo, além de expor os executivos e administradores a riscos ainda maiores decorrentes de sua inércia.
Esse fato não é ignorado por empresários, compliance officers e diretores jurídicos, que nos últimos anos têm recorrido cada vez mais a essas investigações em casos de corrupção, fraudes internas, questões concorrenciais, problemas trabalhistas (como assédio), entre outros, para orientar suas decisões ou preparar a defesa da empresa em um procedimento investigativo ou punitivo.
O problema, entretanto, é que investigações corporativas são assunto relativamente novo no país e, por incluírem questões técnicas e jurídicas multidisciplinares e complexas, elas precisam ser conduzidas por profissionais especializados e experientes para evitar o risco de ampliar os problemas, em vez de solucioná-los.
Entretanto, mesmo para investigadores corporativos experimentados, o cenário brasileiro apresenta desafios. A ausência de balizas legais alimenta as incertezas e demanda muitas vezes o recurso à legislação estrangeira e às práticas de mercado para responder às justificadas dúvidas de clientes e parceiros.
Veio em boa hora, portanto, a aprovação do Provimento nº 188/2018 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que regulamentou o exercício da prerrogativa profissional do advogado de realizar diligências investigatórias.
Apesar de não ter a força e o caráter definitivo de um diploma legal e de ser ainda altamente genérico, o provimento ajuda a traçar um primeiro esboço normativo capaz de trazer segurança jurídica para os advogados que atuam na investigação de quebra de integridade no ambiente corporativo e, sobretudo, para seus clientes.
O provimento definiu o instituto da investigação defensiva como o “complexo de atividades de natureza investigatória desenvolvido pelo advogado, com ou sem assistência de consultor técnico ou outros profissionais legalmente habilitados, em qualquer fase da persecução penal, procedimento ou grau de jurisdição, visando à obtenção de elementos de prova destinados à constituição de acervo probatório lícito, para a tutela de direitos de seu constituinte.”
Tal definição traz alguns elementos relevantes. O primeiro deles é que, embora tenha um foco prioritário na regulamentação de uma investigação como contraponto a uma eventual persecução criminal, o provimento inclui no conceito qualquer apuração conduzida por advogado que vise à constituição de provas para a tutela de direitos de cliente.
Isso significa que toda investigação corporativa conduzida por advogado pode estar incluída no conceito do provimento, já que seu objetivo precípuo será sempre buscar elementos de informação que permitam ao cliente conhecer com profundidade um fato que possa afetar seus direitos, por exemplo, para negociar um acordo de leniência, defender-se em um processo sancionatório ou buscar a reparação de danos causados por funcionários ou terreiros.
O provimento estabelece que a investigação corporativa é uma atividade privativa da advocacia e, reconhecendo seu caráter multilateral e multidisciplinar, prevê a figura dos consultores técnicos, exemplificados no texto como “peritos, técnicos e auxiliares de trabalhos de campo”.
A experiência em casos de investigação corporativa mostra que a presença de advogados é relevante para o resultado e o sigilo dos trabalhos, mas, do mesmo modo que investigações corporativas conduzidas sem advogados geralmente perdem em termos de organização, técnica, utilidade e segurança jurídica, as realizadas apenas por advogados por vezes acabam sendo incompletas.
Bons advogados de investigações corporativas devem ser técnicos especializados e excelentes gestores de projeto, mas precisam também saber identificar onde precisam de ajuda especializada, o que costuma ocorrer em relação a serviços de tecnologia e contabilidade forense.
Nesse sentido, a inclusão da figura do consultor técnico no provimento talvez seja o ponto mais relevante do documento, sobretudo por estender a esses profissionais o direito e dever ao sigilo, apontando que – como assessores de um advogado – eles “não têm o dever de informar à autoridade competente os fatos investigados” e que “eventual comunicação e publicidade do resultado da investigação exigirão expressa autorização do constituinte”.
Essa proteção é fundamental não apenas para o exercício profissional adequado dos consultores (para os quais a ausência de sigilo traz profunda exposição a riscos) como também para a segurança dos clientes que contratam a investigação.

- Categoria: Societário
A Lei nº 13.800/2019, promulgada em janeiro, converteu em lei, com diversas modificações, a Medida Provisória nº 851/18, publicada logo após o incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. O objetivo foi regular os fundos patrimoniais, também conhecidos como endowments ou fundos filantrópicos. Entre as mudanças promovidas, estão a simplificação da governança dos fundos patrimoniais e a ampliação das causas a serem por eles apoiadas, com a expressa inclusão de direitos humanos, segurança pública e demais causas de interesse público.
Fundos patrimoniais são conjuntos de ativos de natureza privada instituídos, geridos e administrados por uma organização gestora com o intuito de constituir fonte de recurso de longo prazo para as instituições apoiadas ou as instituições titulares dos fundos. Como regra geral, apenas os rendimentos das doações, descontada a inflação, podem ser aplicados nos projetos. Esses fundos servem como fonte regular e estável de recursos para as instituições que têm como finalidade desenvolver projetos de educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social, desporto, segurança pública, direitos humanos e demais finalidades de interesse público. Por ora, essas instituições podem ser públicas ou privadas sem fins lucrativos.
A Lei nº 13.800 trouxe importantes avanços para o incentivo de doações no país ao aprimorar a governança corporativa das organizações gestoras de fundos patrimoniais, prevendo separação de responsabilidades entre quem gere esses fundos e as instituições apoiadas. O gestor do fundo patrimonial deve prever no seu estatuto social, entre outras questões: (i) sua denominação, que deverá incluir “gestora de fundo patrimonial”; (ii) instituições apoiadas (a alteração exige quórum qualificado); (iii) obrigatoriedade de instalação de conselho de administração, conselho fiscal e conselho de investimentos (este para fundos com patrimônio superior a R$ 5 milhões), além de regras de composição, funcionamento, competências, forma de eleição ou de indicação de seus membros e a possibilidade de doadores comporem tais órgãos;(iv) forma de aprovação de políticas de gestão, investimento, resgate e aplicação dos recursos do fundo; (v) mecanismos de transparência e prestação de contas; e (vi) vedação de destinação de recursos a uma finalidade distinta da prevista no estatuto e vedação de outorga de garantias a terceiros sobre os bens que integram o fundo.
A regulamentação obriga ainda os fundos patrimoniais a (i) manter contabilidade e registros de acordo com os princípios gerais da contabilidade brasileira, sendo obrigatória a divulgação anual das demonstrações financeiras e da gestão e aplicação dos recursos em seus sites na Internet; (ii) apresentar, semestralmente, informações sobre os investimentos e, anualmente, sobre a aplicação dos recursos; (iii) adotar mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a denúncia de irregularidades; e (iv) estabelecer códigos de ética e de conduta para dirigentes e funcionários. Organizações gestoras de fundos com patrimônio líquido superior a R$ 20 milhões devem ter suas demonstrações financeiras submetidas a auditoria independente.
A Lei nº 13.800 também prevê que o conselho de administração seja composto por, no máximo, sete membros. Compete ao órgão deliberar sobre alterações ao estatuto social, política de investimentos, normas de administração e regras de resgate e utilização dos recursos, bem como sobre demonstrações financeiras e prestação de contas da organização gestora de fundo patrimonial, entre outras matérias.
O comitê de investimentos é indicado pelo conselho de administração e tem como competência recomendar ao órgão a política de investimentos e as regras de resgate e utilização dos recursos, além de coordenar e supervisionar a atuação dos responsáveis pela gestão dos recursos e elaborar relatório anual sobre esse trabalho de gestão. Outro importante avanço da Lei nº 13.800 para a profissionalização da gestão dos fundos patrimoniais é a autorização para que a organização gestora contrate pessoa jurídica gestora de recursos registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pague a ela taxa de performance.
O conselho fiscal deverá ser composto por três membros indicados pelo conselho de administração, sendo vedada a indicação de integrantes do conselho de administração nos três anos anteriores. Os membros do conselho de administração, conselho fiscal e conselho de investimentos poderão ser remunerados de acordo com o rendimento do fundo.
Os administradores dos fundos patrimoniais somente serão responsabilizados civilmente pelos prejuízos que causarem quando praticarem (i) atos de gestão com dolo ou em virtude de erro grosseiro; ou (ii) atos que violem a lei ou o estatuto.
A Lei nº 13.800 criou a figura da organização executora, uma instituição sem fins lucrativos ou entidade internacional reconhecida e representada no país, que poderá ser contratada pela organização gestora para auxiliar e coordenar a instituição apoiada no desenvolvimento dos projetos e programas. A lei regula a relação entre a instituição apoiada e a organização gestora, exigindo a celebração de instrumento de parceria e termo de execução de programas, projetos e demais finalidades de interesse público, os quais devem estabelecer, respectivamente, (i) o vínculo de cooperação entre elas e a finalidade de interesse público a ser apoiada; e (ii) como serão despendidos os recursos.
Os fundos patrimoniais poderão receber doações nas modalidades: (i) permanente não restrita, que se refere a recursos cujo principal é incorporado ao patrimônio permanente do fundo e não pode ser resgatado, mas os rendimentos podem ser utilizados em programas e projetos gerais; (ii) permanente restrita de propósito específico, que define recursos cujo principal é incorporado ao patrimônio permanente do fundo patrimonial e não pode ser resgatado, mas os rendimentos podem ser utilizados em projetos relacionados ao propósito previamente definido no instrumento de doação; e (iii) de propósito específico, que engloba recursos atribuídos a projetos previamente estabelecidos, cujo principal pode ser resgatado de acordo com os termos e condições previstos no instrumento de doação.
Desde que destinados a projetos culturais, os valores referentes a doações permanentes restritas de propósito específico e doações de propósito específico poderão ser deduzidos do imposto devido na declaração de imposto de renda dos doadores em 100% ou 80% da doação efetuada para pessoas físicas, observado o limite global de deduções de 6% do imposto devido; e de 100% ou 40% para pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, observado o limite de 4% do imposto devido, dependendo do enquadramento na Lei Rouanet.
A MP 851 também estendia a dedutibilidade das doações destinadas a outras causas como direitos humanos, segurança pública e demais causas de interesse público. No entanto, tais dispositivos da Lei nº 13.800 foram objeto de veto presidencial, por preocupações com a renúncia de receitas. Ao limitar a dedutibilidade do imposto de renda apenas às doações destinadas a projetos culturais, a lei perdeu excelente oportunidade de estimular doações para outras causas sociais e, assim, tornar os fundos patrimoniais um instrumento útil para o terceiro setor em geral. Tais vetos presidenciais serão ainda avaliados pelos deputados e senadores no prazo de 30 dias a contar de 2 de fevereiro de 2019.
As discussões em torno da edição da lei também eram uma oportunidade de abordar, em âmbito nacional ou estadual, outro problema recorrente no terceiro setor: a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) nas doações para causas sociais. No caso específico do estado de São Paulo, o ITCMD é de responsabilidade do donatário, aplicando-se uma alíquota de 4% (a máxima estabelecida pelo Senado Federal é de 8%) sobre o valor doado. As entidades cujos objetos sociais são promover os direitos humanos, a cultura ou o meio ambiente têm isenção desse imposto. Nos termos do art. 4º, inciso IV, do Decreto nº 46.655/02, o ITCMD não incide na transmissão de bens e direitos ao patrimônio das instituições de educação e de assistência social que gozam de imunidade somente com relação aos bens vinculados às finalidades essenciais, o que não inclui bens destinados à utilização como fonte de renda (como seria o caso do fundo patrimonial).
Considerando que o ITCMD seria aplicável na doação ao fundo patrimonial e, na maioria dos casos, na doação do fundo patrimonial à instituição apoiada, surge a preocupação de dupla tributação de recursos destinados a causas sociais.
De acordo com estudo do pesquisador Rafael Oliva, da FGV, e com o relatório Sustentabilidade econômica das organizações da sociedade civil – Desafios do ambiente jurídico brasileiro atual, da FGV Direito SP, os recursos arrecadados com ITCMD – inclusive heranças e doações – correspondem a 1% da receita corrente líquida do estado de São Paulo, e apenas 1% do total arrecadado (portanto, 0,0168% da receita corrente líquida do Estado de São Paulo) refere-se a doações a pessoas jurídicas, incluindo organizações da sociedade civil, o que demonstra a viabilidade financeira dessa renúncia fiscal.
A regulamentação dos fundos patrimoniais por meio da Lei nº 13.800 traz maior segurança jurídica para os doadores e gestores de projetos sociais, bem como melhoria na transparência e governança corporativa para o terceiro setor. No entanto, as limitações à dedutibilidade fiscal oriundas do veto presidencial colocam em dúvida o sucesso dos fundos patrimoniais como instrumento de desenvolvimento da cultura de doação no Brasil.

- Categoria: Contencioso
Ao entender no fim do ano passado pelo restabelecimento da trava bancária, ou cessão fiduciária de recebíveis, que havia sido suspensa pelo juízo de um caso de recuperação judicial, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) levou em conta em sua decisão o conceito de bem de capital previsto no artigo 49, parágrafo 3º, da Lei de Recuperação de Empresas e Falência (11.101/2005) – LRF.
Tal dispositivo legal trata dos créditos que não estão sujeitos à recuperação judicial, entre eles os dotados de garantia fiduciária. A parte final do artigo prevê que, durante os 180 dias de suspensão das ações e execuções contra a recuperanda (artigo 6º da LRF), fica proibido retirar do seu estabelecimento bens de capital essenciais à sua atividade.
A questão da essencialidade do bem nos casos concretos, inevitavelmente, deu margem à discussão sobre a possibilidade de classificar recebíveis como bens de capital, cuja posse deveria se atribuir à recuperanda durante o stay period por força do mencionado dispositivo.
Embora o STJ tenha se manifestado anteriormente no sentido de que recebível não pode ser considerado bem de capital essencial, a discussão foi aprofundada no recurso especial em questão (1.758.746/GO). Analisou-se o conceito de bem de capital essencial e, ainda, se recebíveis poderiam ou não ser enquadrados nele, dado que essa proibição consta da parte final do artigo 49, § 3º, da LRF, que servia de fundamento para que empresas em recuperação judicial pleiteassem na Justiça a suspensão das travas bancárias.
Em síntese, os recorrentes pedidos de “quebra de trava bancária” formulados nas recuperações judiciais fundamentavam-se na necessidade de manter a fonte produtiva, o emprego dos trabalhadores e os interesses dos credores, o que, em tese, demandaria que os recursos financeiros dados em garantia em cessão fiduciária permanecessem na empresa em recuperação judicial para dar a ela fôlego na superação da crise.
Esses argumentos sempre foram bastante questionados, considerando que os recebíveis sequer ficam na esfera patrimonial da empresa em recuperação e, no caso de inadimplemento da dívida, a instituição financeira, que já figura como proprietária fiduciária dos recebíveis, tem direito à transferência imediata da posse e titularidade dos créditos cedidos. O assunto, portanto, sempre gerou controvérsia, inclusive na doutrina e na jurisprudência.
Antes da prolação da decisão no Recurso Especial nº 1.758.746/GO, e dada a recorrência do tema, o ministro relator Marco Aurélio Bellizzi já havia indicado, em outro processo, a necessidade de categorizar os recebíveis que são objeto de cessão fiduciária como bens de capital ou não, enfatizando que essa categorização não poderia ser influenciada pela essencialidade do bem, para não se tornar algo subjetivo, pois, na verdade, deveria ser objetivo.
Por meio do acórdão prolatado no recurso especial, o STJ, em votação unânime, finalmente fixou os critérios para enquadrar bens da recuperanda como bens de capital e, portanto, sujeitos à proteção prevista na parte final do artigo 49, § 3º, da LRF.
De acordo com a decisão, para ser considerado bem de capital, o bem precisa estar na posse da recuperanda, precisa ser corpóreo, e sua utilização não pode significar o esvaziamento da garantia, para que, ao fim do período de suspensão das ações e execuções, possa ser restituído ao credor.
Partindo dessas premissas, o STJ assinalou que o crédito cedido fiduciariamente não é utilizado materialmente no processo produtivo da empresa em recuperação, já que não constitui bem corpóreo, tampouco fica na posse da recuperanda. Com isso, afirmou ser “peremptória a conclusão de que, de ‘bem de capital’, não se trata”. A Corte Superior concluiu também que “não se poderia conferir ao termo ‘bem de capital’ interpretação capaz de tornar insubsistente a garantia fiduciária”.
Sendo assim, por entender que recebíveis não podem ser classificados como bens de capital, o STJ decidiu que não deve se aplicar a proteção prevista na parte final do artigo 49, § 3º, da LRF à trava bancária, devendo prevalecer hígida a garantia, inclusive durante o stay period.
Espera-se que o novo e inédito precedente do STJ aqui analisado sirva de paradigma para os próximos casos em que o tema se apresente, a fim de que a jurisprudência comece a se consolidar no sentido da orientação da Corte Superior, gerando maior segurança jurídica a respeito da questão até então controvertida.
Contudo, mesmo após a prolação do acórdão em questão, a Justiça paulista proferiu decisão em sentido contrário na recuperação judicial da Livraria Cultura (processo nº 1110406-38.2018.8.26.0100, em curso na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível). No caso, ainda será julgado agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau, confirmada liminarmente pelo desembargador relator do recurso.

- Categoria: Imobiliário
Com a evolução dos entendimentos judiciais sobre a caracterização da responsabilidade civil e, por conseguinte, da obrigação de indenizar, muito se tem discutido sobre a responsabilização do agente financiador de empreendimentos imobiliários por fatos diretamente relacionados ao imóvel e à sua implantação e/ou construção. Essa discussão tem especial relevância porque, não raras vezes, embora não tenha ingerência na construção ou aquisição do terreno onde determinado empreendimento foi ou será implantado, o agente financiador é demandado em ações de reparação de danos para ser responsabilizado de forma solidária com o empreendedor.
O tema foi recentemente tratado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito do Recurso Especial (Resp) nº 1.479.897. No caso em questão, a loteadora e o banco financiador foram demandados a pagar danos materiais e morais aos proprietários prejudicados pela venda de glebas oriundas de terreno adquirido por meio de escritura pública nula.
No tribunal de origem, o banco financiador havia sido considerado solidariamente responsável pelos danos sofridos pelos proprietários preteridos em seu direito; entretanto, o STJ reformou a decisão apoiando-se na presunção de validade dos atos públicos, enquanto não declarados nulos, entendendo que o banco não poderia ser responsabilizado por ato de que não participou e cuja nulidade não lhe fora comprovada. Importante notar que um dos autores da ação havia comunicado o banco sobre a possível nulidade do título aquisitivo do terreno, mas esse argumento foi afastado porque, com base no direito aplicável à época dos fatos, a mera informação não seria suficiente para comprovar a nulidade do ato. A decisão é datada de 2 de outubro de 2018 e foi tomada por unanimidade da turma de magistrados.
O fato de o banco ter sido comunicado sobre o possível ato ilícito somente pôde ser afastado pela decisão do STJ com base no direito vigente à época da primeira declaração judicial de nulidade da escritura, em 1989. Além disso, o voto do relator parece indicar de forma superficial que esse argumento poderia não ter sido igualmente afastado para gerar a responsabilidade solidária do banco caso o direito vigente hoje tivesse sido aplicado.
Isso porque, de acordo com a decisão em análise, o direito vigente à época dos fatos admitia a responsabilização civil apenas mediante comprovação de existência de ato ilícito e, nesse caso, o banco não estaria violando nenhuma norma de direito, uma vez que não havia declaração judicial da nulidade da escritura. Em sentido contrário, o acórdão esclarece que o direito passou por uma transformação e adaptação conceitual, a fim de permitir a responsabilização daquele que viola o dever geral de precaução e daquele que obtém proveito de atividade ilícita.
Ainda assim, no caso da aplicação do direito vigente, caberia ao órgão julgador avaliar o nexo de causalidade para a responsabilização do agente financiador que, mesmo sem ter praticado o ato ilícito diretamente, sabia da possibilidade da nulidade da escritura e não tomou nenhuma providência para evitar o aumento dos danos aos proprietários afetados. É justamente nesse ponto que o agente financiador de empreendimentos imobiliários pode ser exposto a uma vulnerabilidade jurídica, uma vez que, no direito contemporâneo, não há mais um limite estritamente objetivo à responsabilização civil, como, por exemplo, a determinação da prática de um ato ilícito.
A adoção dessa concepção deve ser levada em conta para que o agente financiador atue com mais precaução e conservadorismo, avaliando criteriosamente eventual extensão de responsabilidade civil decorrente do ativo ou da atividade financiada.

- Categoria: Previdenciário
A Receita Federal do Brasil (RFB) modificou no fim de janeiro seu entendimento a respeito da incidência de contribuições previdenciárias sobre o auxílio-alimentação. A comunicação da mudança foi feita no dia 25 por meio da publicação da Solução de Consulta Cosit 35/19, a qual é aplicável a todas as empresas, independentemente de estarem inscritas no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Segundo a RFB, com a vigência da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/17) a partir de 11 de novembro de 2017, as empresas que fornecem auxílio-alimentação aos seus empregados por meio de tíquete ou cartão não estão obrigadas a incluir essa verba na base de cálculo das contribuições previdenciárias. Antes, o fisco defendia que somente o auxílio-alimentação fornecido in natura estaria excluído da base de cálculo.
Essa interpretação favorável aos contribuintes inova em relação ao entendimento anterior por considerar que a vedação imposta na redação do art. 457, §2º, da CLT (pós-reforma) diz respeito apenas ao pagamento em dinheiro do auxílio-alimentação, de sorte que outras formas de pagamento não estariam sujeitas à incidência de contribuições previdenciárias e encargos trabalhistas.
A questão gerou também a Solução de Consulta Cosit 04/19, publicada em 29/01/19, por meio da qual a RFB esclareceu que, quando o auxílio-alimentação é custeado tanto pela empresa quanto pelo empregado, o tratamento desses valores para fins de incidência de contribuições previdenciárias pode ser distinto.
A parcela do auxílio-alimentação descontada do empregado em regime de coparticipação integrará a base se cálculo das contribuições previdenciárias por fazer parte de sua remuneração, uma vez que o valor descontado compõe o salário do empregado. Essa interpretação independe do tratamento dado à parcela do auxílio-alimentação custeada pela empresa, que pode ou não integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias, a depender de sua natureza remuneratória definida de acordo com a legislação vigente.
Embora tenham sido direcionadas a contribuintes específicos, as duas soluções de consulta indicadas têm caráter vinculante para a RFB e respaldam a atuação dos demais contribuintes, conforme o art. 9º da Instrução Normativa nº 1.396/13.[1] Caso desconsiderem essas diretrizes, os contribuintes podem sofrer atuações fiscais e o indeferimento de eventuais compensações realizadas.
Há bons fundamentos jurídicos para que também seja reconhecido que, no período anterior à Reforma Trabalhista, o benefício do auxílio-alimentação fornecido por meio de tíquete ou cartão no âmbito do PAT não se sujeita à tributação pelas contribuições previdenciárias, de acordo com a regulamentação aplicável. A fundamentação jurídica seria diversa daquela apreciada na Solução de Consulta Cosit 35/19, respaldando-se na própria legislação previdenciária e na regulamentação do PAT.
Com relação à coparticipação dos empregados, embora o debate ainda seja incipiente e controvertido, já existem decisões judiciais favoráveis à exclusão desses valores da base de cálculo das contribuições previdenciárias, o que tem respaldo jurídico em interpretação do texto legal e no caráter indenizatório e assistencial do benefício.
Em vista desse cenário, é recomendável que as empresas avaliem o tratamento dado aos pagamentos em questão e verifiquem a existência de recolhimentos a maior ou mesmo de exposição, o que demanda o ajuste de procedimentos ou o emprego de medidas preventivas.

- Categoria: Infraestrutura e Energia
Em ofício encaminhado ao Cade, ANP analisa medidas necessárias para promover a concorrência no mercado de gás natural e defende a implementação de um programa de gas release para assegurar uma transição progressiva.
O mercado de gás natural no Brasil passa por avanços importantes, mas ainda tímidos, no sentido de uma maior abertura à concorrência. É com bons olhos que iniciativas como a chamada pública da TBG, prevista para este mês de fevereiro, e a chamada pública para aquisição de gás natural promovida por algumas distribuidoras relevantes vêm sendo recebidas pelos agentes do setor.
Na sequência da publicação do Decreto nº 9.616/2018, nas últimas semanas de governo do ex-presidente Michel Temer, o ano de 2019 já começou com outra importante sinalização ao mercado. No início de janeiro, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nota técnica enviada ainda em 2018 ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abordando a competitividade no mercado brasileiro de gás natural, atualmente marcado por um monopólio, e sugerindo que o órgão atue sobre o tema.
O ofício encaminhado ao Cade é mais uma das ações nas quais a agência tem investido para promover a concorrência na indústria de gás natural e que evidenciam o ativismo cada vez maior da ANP em avançar uma agenda de abertura. A Nota Técnica nº 14/2018-SIM aborda o poder de mercado exercido pela Petrobras na indústria do gás natural de ponta a ponta, descrevendo a dinâmica presente nos diferentes segmentos (exploração e produção, escoamento, processamento, importação, transporte e comercialização e distribuição), e propõe medidas consideradas necessárias ao fomento da concorrência no setor.
Embora a iniciativa do Programa Gás para Crescer não tenha obtido o apoio necessário no Congresso Nacional, seu debate serviu ao menos para que a agência encontrasse ambiente favorável para avançar as discussões sobre o tema e elaborar a nota técnica encaminhada ao Cade. O documento foi concebido com uma abordagem concorrencial, e a agência se preocupou até mesmo em adotar os mesmos instrumentos de análise da autoridade antitruste, levantando questões como barreiras à entrada no mercado, economias de escala, novos ofertantes e garantia de acesso isonômico.
Na primeira parte do documento, a ANP traça um panorama da atuação da Petrobras no cenário atual, confrontando o interesse público e a eficiência econômica. Já na seção seguinte, analisa algumas ações que considera necessárias à promoção da concorrência na indústria. No contexto da decisão estratégica da Petrobras de vender parte de seus ativos no setor de gás e do potencial de abertura que isso representa, as propostas da agência incluem a garantia de acesso isonômico de terceiros a infraestruturas essenciais, a desverticalização dos monopólios naturais no transporte e na distribuição e a implementação de medidas que viabilizem novas ofertas de gás natural e concorrência via preço entre novos ofertantes.
Sobre a aplicação do princípio de livre acesso, a agência reguladora defende a obrigatoriedade do acesso de terceiros (agentes não proprietários de gasodutos) a infraestruturas consideradas essenciais: os gasodutos de escoamento, as Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs) e os terminais de GNL, sempre de forma não discriminatória, transparente e compatível com a preferência inegável do proprietário. Considerando que a regulação não deve impor mera restrição, mas sim otimizar a utilização dos ativos por diversos agentes a fim de evitar um cenário de monopólio.
Para a desverticalização dos monopólios naturais no transporte e na distribuição, a agência propõe a separação e independência efetivas dos agentes de transporte em relação às demais atividades da cadeia, nos moldes da experiência europeia. Propõe também, em relação à distribuição, que se eliminem as transações comerciais não públicas entre partes relacionadas para atender ao mercado cativo, o que passaria por limitar ou coibir práticas de self-dealing e por promover a publicidade integral de contratos de venda de gás para distribuidoras.
Quanto à implementação de medidas para viabilizar novas ofertas e concorrência via preço, a ANP ressalta a importância de introduzir a competição e desconcentrar a oferta de gás via programas de gas release. Outras recomendações exploradas pela agência são a limitação da participação do agente monopolista no mercado, a restrição da recontratação de todo o volume de gás natural proveniente da Bolívia via Gasbol e a vedação à participação acionária de carregadores no capital votante de transportadores.
A nota técnica é rica em referências aos modelos europeus, explorando a experiência da Diretiva 2009/73/EC da União Europeia, que deu origem aos três modelos de independência adotados pelos países europeus para o segmento de transporte, e a experiência dos britânicos com os programas de venda obrigatória de gás natural ou de “liberação de gás”, o chamado gas release. Desenhado para suplantar a ausência de acesso isonômico ao suprimento de gás ou à capacidade de transporte, esse tipo de regulamentação foi introduzido com sucesso no Reino Unido nos anos 1990 para dinamizar a concorrência na indústria de gás natural e, desde então, é adotada em diferentes países e regiões como medida transitória para enfrentar monopólios ou oligopólios bem estabelecidos no mercado de gás natural.
Segundo a ANP, as medidas visariam atingir no longo prazo objetivo único e primordial: caminhar no sentido da liberalização do mercado cativo de forma progressiva e planejada, promovendo a concorrência por meio de transações comerciais transparentes e a preços justos até que o produtor possa vender gás natural diretamente ao consumidor final a preços competitivos e equitativos. Apenas com mais oferta e um mercado efetivamente concorrencial e desconcentrado seria possível gerar mais benefícios para o mercado cativo.
Sem maiores avanços no âmbito legislativo, diante da paralisação do andamento do Projeto de Lei nº 6.407/2013 (PL do Gás) na Câmara dos Deputados, ou qualquer outro desenvolvimento legal significativo até o momento , o ativismo da ANP é mais do que esperado, encontrando até mesmo uma indústria receptiva, que almeja que todo esse despertar de atividade regulatória e cooperativa com outros órgãos se intensifique, a fim de que ao menos no âmbito infralegal se faça progresso. A divulgação da nota técnica renova a confiança do setor, que prevê maior atividade regulatória e concorrencial no âmbito do Acordo de Cooperação Cade-ANP para os mercados de refino e, principalmente, de gás natural.
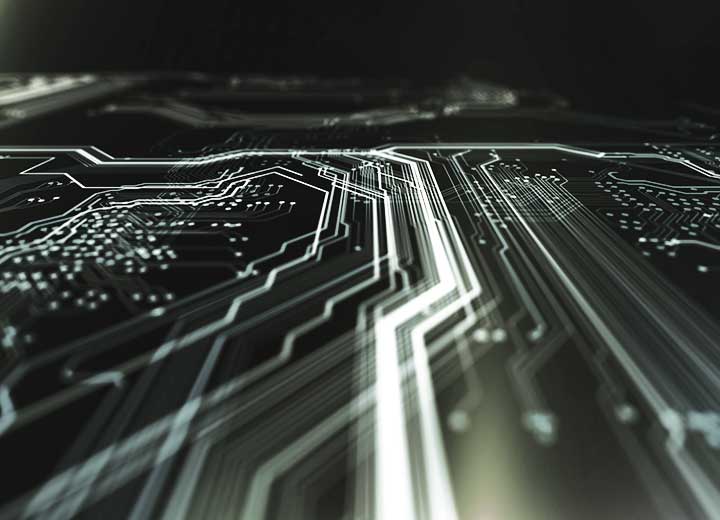
- Categoria: Propriedade intelectual
Com a temporada de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018) aberta e reforçada pela criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ou ANPD, por meio da MP nº 869/2018), gestores e organizações estão sendo bombardeados com análises de riscos, recomendações, soluções de mercado e uma infinidade de informações e discussões entrecruzadas que, ainda que relevantes, podem ser de pouca serventia ou até atrapalhá-los, caso não tenham o mindset e o plano de viagem adequados.
Clique aqui e acesse o ebook que preparamos para ajuda-lo a elaborar planos de ação que dêem atenção aos ambientes de influência relevantes.

- Categoria: Tributário
O sistema de precedentes instituído pelo CPC/2015 parte da premissa de que as decisões oriundas do julgamento de determinados instrumentos terão efeito vinculante para o Poder Judiciário e que, justamente por esse motivo, a sua inobservância ou mesmo a prolação de decisão conflitante estará sujeita a questionamento pela via da reclamação. Esses instrumentos são: i) acórdãos do Supremo Tribunal Federal (STF) em controle concentrado de constitucionalidade; ii) súmulas vinculantes (aqui, também vinculantes para a Administração, não apenas o Poder Judiciário); iii) acórdãos em incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas; e iv) acórdãos do STF ou do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos, respectivamente.
O CPC/2015 estabelece que i) os enunciados de súmula do STF e do STJ e ii) as decisões do plenário ou órgão especial dos tribunais aos quais os órgãos jurisdicionais estão vinculados deverão ser observados pelos juízes e tribunais. Entretanto, tais decisões têm força vinculante reduzida por opção do legislador, razão pela qual entendemos que sua relevância é maior na persuasão do julgador de primeira ou segunda instância.
O precedente com força vinculante no sistema do CPC/2015 emerge, pois, do fato de a decisão ter sido proferida no julgamento de determinado instrumento, não havendo disciplina específica quanto ao conteúdo que efetivamente vincula os órgãos do Poder Judiciário. Será o voto vencedor? Será a tese fixada na conclusão do julgamento? Serão as razões que conduziram ao entendimento que prevaleceu? Essas indagações não estão disciplinadas de forma adequada pelo CPC/2015.
Ao menos em relação às decisões emanadas do julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos, é possível concluir que a tese firmada ostenta natureza vinculante (artigo 1.039). E isso apesar de o artigo 1.038, § 3º, do CPC/2015, assentar que o acórdão contemplará a análise dos fundamentos relevantes da tese discutida.
Muito embora esse regramento seja específico para a vinculação das decisões proferidas nos recursos repetitivos – o que estabelece semelhança com a súmula vinculante, visto haver tão somente um extrato indicando, sinteticamente, o entendimento que deverá ser seguido –, acreditamos que o sistema estabelecido pelo CPC/2015 não deu tanto prestígio às razões das decisões.
Assim, ao proferir uma decisão que, segundo o CPC/2015, assumirá natureza vinculante para o Poder Judiciário como um todo, o órgão julgador atuará, de modo atípico, como se legislador fosse, quiçá sem que o próprio legislador tenha atentado para isso. Tal fato ocorre porque o enunciado da tese decidida será semelhante – e, por que não dizer, idêntico – a qualquer dispositivo legal que deverá ser interpretado pelo aplicador do direito no momento da subsunção ao caso concreto.
Um exemplo são as discussões suscitadas pelo julgamento da Tese de Repercussão Geral 69. Ao concluir o julgamento do RE 574.706-PR, em 15/03/2017, o STF fixou a tese de que “o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”. Muitas indagações levantadas a respeito do alcance da tese firmada poderiam ser solucionadas se o CPC/2015 previsse que, por ocasião da conclusão de julgamento cuja decisão assumirá natureza vinculante, o órgão prolator, além de elaborar a tese em si, deveria indicar as razões que orientarão a interpretação do enunciado em um capítulo adicional do acórdão que contempla a análise dos fundamentos relevantes acolhidos pela maioria, o chamado voto médio.
Tal expediente evitaria que os temas apreciados por intermédio do julgamento de institutos processuais dotados de efeito vinculante para o Poder Judiciário permanecessem na pauta dos tribunais.
Pelo exposto, entendemos que o sistema de precedentes desenhado pelo CPC/2015 falhará em seu objetivo de prestigiar e promover a segurança jurídica e a estabilidade da jurisprudência se a aresta apontada neste artigo não for corrigida.
E o efeito nefasto do sistema vigente é constatado empiricamente, uma vez que, fixada tese em julgamento de instrumento cuja decisão é dotada de efeito vinculante, o enunciado tem sido aplicado indistintamente. Além disso, nos casos de interpretação equivocada feita em conjunto com as razões do acórdão prolatado, invoca-se como subterfúgio para não apreciar o mérito da reclamação ou para negar seguimento a recursos especiais ou extraordinários o suposto objetivo de rediscutir o tema já julgado e cuja decisão está qualificada pela força da vinculação.
Conclui-se, portanto, que o sistema de precedentes do CPC/2015, tal como posto, resulta em mero mecanismo para gestão de processos que tratam de matérias semelhantes e em mais um argumento a ser utilizado pela chamada “jurisprudência defensiva” como óbice ao processamento de recursos.

- Categoria: Infraestrutura e Energia
Tramita na Câmara dos Deputados projeto de decreto legislativo (PDC) para eliminar a hipótese de registro na Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários) das FSRUs (Floating Storage and Regasification Units), ou navios gaseiros, como instalações de apoio ao transporte aquaviário.
Por considerar tal regra ilegal e contrária aos princípios que regem o transporte aquaviário no Brasil, o PDC nº 1.091/2018, de autoria do deputado Hugo Leal (PSD-RJ), pretende sustar os efeitos do parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução Normativa nº 13/2016 da Antaq, que dispõe sobre o registro de instalações de apoio ao transporte aquaviário perante a agência e inclui as FSRUs:
“Art.2º
I - Instalações flutuantes fundeadas em águas jurisdicionais brasileiras, inclusive interiores, em posição georreferenciada, devidamente homologadas pela Marinha do Brasil, sem ligação com instalação localizada em terra, utilizadas para recepção, armazenagem e transferência a contrabordo de granéis sólidos, líquidos e gasosos;
(...)
§ 3º Excepciona-se o disposto no inciso I do caput, no que se refere à vedação à conexão com terminal localizado em terra, na hipótese de embarcações adaptadas para operação de regaseificação fundeadas/atracadas, inclusive quando localizadas dentro da poligonal do Porto Organizado.”
Com base na interpretação dessa norma, há entendimento de que FSRUs de bandeira estrangeira registradas como instalações de apoio ao transporte aquaviário não precisariam se submeter às regras de afretamento disciplinadas por meio da Lei nº 9.432/1997. Isso porque, na prática, tais infraestruturas atuariam como instalações de apoio portuário e não como embarcações, o que levaria a concluir que sua operação não estaria restrita às empresas brasileiras de navegação (EBN).
Por meio do PDC 1.091/18, o deputado Hugo Leal argumenta que “a revogação do parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução 13/16 é necessária para que se reestabeleça a competitividade no setor e a segurança jurídica nas operações, impedindo a abertura do mercado para empresas de navegação estrangeiras sem qualquer investimento no país”.
O deputado também argumenta que a Lei nº 9.432/18, ao listar o rol de embarcações que não se sujeitariam às suas disposições (art. 1º), não incluiu a FSRU e que, se tal exclusão fosse pretendida, deveria ter sido feita por meio de lei formal. Por esse motivo, a Antaq teria extrapolado seu poder regulamentador com a resolução questionada, ferindo os princípios da finalidade, interesse público, razoabilidade e proporcionalidade.
O argumento do deputado Hugo Leal, no entanto, é construído sobre uma premissa que, após uma análise mais cuidadosa, não se sustenta: a de que FSRUs de bandeira estrangeira não deveriam se sujeitar às regras de afretamento por EBNs somente se estivessem expressamente elencadas no rol de embarcações excluídas do âmbito de incidência da Lei nº 9.432/97.[1]
O foco da discussão, com efeito, não deve recair sobre o fato de FSRUs se sujeitarem ou não aos termos da Lei nº 9.432/97, mas sim às atividades que realizam. É preciso ter em mente que FSRUs utilizadas para recebimento, estocagem e/ou regaseificação de GNL, quando acopladas a construções terrestres, não exercem qualquer tipo de navegação, ficando fundeadas por longos períodos (até mesmo décadas).
A regra que impõe o afretamento de embarcações de bandeira estrangeira por EBNs, por outro lado, está prevista no Art. 7º da Lei nº 9.432/97, o qual se aplica ao transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e na navegação interior de percurso nacional, bem como à navegação de apoio portuário e de apoio marítimo.[2]
Não existe dúvida de que a FSRU conectada às infraestruturas portuárias não realiza atividades de navegação listadas pela Lei nº 9.432/97 (apoio marítimo, apoio portuário, cabotagem e longo curso).[3] Assim, ainda que se considere que as FSRUs não estejam excepcionadas da hipótese de incidência da Lei nº 9.432/97, é possível defender que o fato de não realizarem atividades de navegação, por si, já dispensaria a necessidade de afretamento da FSRU de bandeira estrangeira por EBN, uma vez que ela não estaria sujeita aos termos do Art. 7º da Lei nº 9.432/97.
O entendimento de que uma FSRU/FSU não executa atividade de navegação, e, portanto, não se sujeitaria às regras de afretamento da Lei nº 9.432/97, podendo ser registrada como instalação portuária nos termos da Resolução 13/16 já foi considerado por gerência da Antaq em casos específicos.
Sendo assim, a revogação pretendida do parágrafo 3º do artigo 2º da Resolução 13/16 também não teria o condão de atingir, automaticamente, os objetivos alegadamente visados pelo deputado Hugo Leal. Isso porque, ainda que se extinga o regime de registro de FSRU sob a égide da Resolução 13/16, não perde força o argumento de que a Lei nº 9.432/97 não imporia, de todo modo, a necessidade de afretamento da FSRU de bandeira estrangeira por EBN para operação em águas nacionais. Muito ao contrário, a revogação desse dispositivo apenas criaria uma lacuna a respeito da regulamentação dessas embarcações pela Antaq, agravando a insegurança jurídica que, alegadamente, o PDC 1.091/18 visaria assegurar.
Também é possível desconstruir, ademais, o argumento de que a medida tomada pela Antaq por meio da Resolução 13/16 seria uma extrapolação do poder regulamentador da agência, devendo ser precedida de lei formal. Ao criar a Antaq, a Lei nº 10.233/2001 atribuiu à agência competência para regulamentar o transporte aquaviário e a exploração da infraestrutura aquaviária federal.[4] Desse modo, não há que se questionar se a Antaq tem competência delegada por lei para regulamentar o setor (conforme feito pela Resolução 13/16).
Quanto à necessidade de lei formal para tal regulamentação, cabe ressaltar que a lei aplicável não estabelece que a classificação de instalações de apoio ao transporte aquaviário (objeto da Resolução 13/16) deveria estar sujeita à reserva de lei. Dessa forma, não há óbice para a regulamentação da matéria pela Antaq. Nessa linha, a doutrina administrativista majoritária reconhece que a administração tem espaço amplo para regulamentar quando lhe é outorgada competência legal, não devendo atuar apenas como um mero “braço mecânico” da lei conforme palavras do professor Carlos Ari Sundfeld, in verbis:[5]
“Como a amarração jurídica da Administração contemporânea é realizada, a par da lei formal, por várias outras fontes e mecanismos, a viabilidade do Estado de Direito não é comprometida só pelo fato de a administração exercer amplas competências criativas por autorização legal.”
A medida adotada pela Antaq ao considerar FSRUs como instalações de apoio, ao contrário do quanto argumentado no PDC 1.091/18, atende aos princípios legais e constitucionais aplicáveis. Isto porque, ao reduzir o custo e a burocracia necessários para os projetos de importação e regaseificação de gás natural, cria um ambiente de incentivo a tais projetos e (i) promove o desenvolvimento econômico e social; (ii) garante o abastecimento nacional de gás natural (e, consequentemente, o suprimento de energia elétrica); (iii) promove a livre concorrência entre os agentes do mercado, proporcionando um serviço mais eficiente para o usuário final; (iv) não prejudica a indústria naval nacional, já que inexiste, hoje, FSRUs construídas por estaleiros nacionais; (v) não contraria os princípios de finalidade, razoabilidade e proporcionalidade, já que a análise dessas questões foi realizada pela Antaq ao elaborar a resolução e ao decidir sobre questões conexas (conforme disposto acima), não constando no PDC qualquer justificativa que demonstre a quebra desses princípios; e (vi) atende ao interesse público predominante, pelos diversos motivos expostos neste parágrafo.
[1] Navios de guerra e de estado não empregados em atividade comercial, embarcações de esporte e recreio, embarcações de turismo, embarcações de pesca e embarcações de pesquisa.
[2]“Art. 7º. As embarcações estrangeiras somente poderão participar do transporte de mercadorias na navegação de cabotagem e da navegação interior de percurso nacional, bem como da navegação de apoio portuário e da navegação de apoio marítimo, quando afretadas por empresas brasileiras de navegação, observado o disposto nos arts. 9º e 10”.
[3] Conforme definidas no artigo 2º da Lei nº 9.432/97.
[4] Lei nº 10.233/2011, artigos 20 e 23, I e V
[5] Sundfeld, Carlos Ari. Direito Administrativo para Céticos. Malheiros, 2014, 2ª edição. São Paulo