
- Categoria: Penal Empresarial
A Medida Provisória 1.182/23, publicada em 25 de julho, altera pontos significativos da Lei 13.756/18, que disciplina a exploração da loteria de apostas de quota fixa pela União, como as apostas esportivas. O objetivo é criar regras mais claras para o funcionamento do mercado de apostas no país.
Embora modifique uma série de dispositivos da Lei 13.756/18, a MP 1.182/23 ainda não regulamenta o mercado de apostas, cujo funcionamento permanece pendente de regulamentação. Por exemplo, ainda não há norma expressa sobre como o Ministério da Fazenda fará a outorga da autorização de operação de empresas do setor no país.
Como possível resposta às investigações criminais instauradas no início do ano para apurar a prática de corrupção desportiva em jogos de futebol (o que constitui crime, na forma dos artigos 41-C, 41-D e 41-E da Lei 12.299/10), a MP 1.182/23 traz também novos dispositivos para prevenção de práticas de manipulação de eventos esportivos pelo mercado de apostas.
A medida provisória sobre apostas esportivas veda que o sócio ou acionista controlador de empresa operadora de loteria de apostas de quota fixa, individual ou integrante de acordo de controle, detenha participação, direta ou indireta, em sociedade anônima de futebol ou em organização esportiva profissional, assim como proíbe a pessoa nessas condições de atuar como dirigente de equipe esportiva brasileira (art. 33-C).
A medida também obriga o agente operador de apostas a adotar mecanismos de segurança e integridade na realização da loteria de apostas de quota fixa (art. 33-D), estabelecendo as seguintes medidas:
- Os eventos esportivos objeto de apostas contarão com ações de mitigação de manipulação de resultados e de corrupção nos eventos reais de temática esportiva por parte do agente operador (art. 33-D, §1º);
- O agente operador integrará organismo nacional ou internacional de monitoramento de integridade esportiva (art. 33-D, §2º);
- O Ministério da Fazenda poderá determinar a suspensão ou a proibição, a todos os agentes operadores, de apostas em eventos intercorrentes ou específicos, ocorridos durante a prova ou a partida, que não o prognóstico específico do resultado final (art. 33-D, §3º); e
- O agente operador deverá reportar eventos suspeitos de manipulação ao Ministério da Fazenda no prazo de cinco dias úteis, contado a partir do momento em que o agente operador tomou conhecimento do evento suspeito (art. 33-D, §4º).
Essas medidas são relevantes para o combate à manipulação esportiva para além da esfera penal, pois criam obrigações cíveis/administrativas para prevenção desses crimes no mercado de apostas. A aplicação dessas medidas será condicionada, porém, à regulamentação do Ministério da Fazenda, cuja elaboração ainda segue pendente.
A MP 1.182/23 reforça que, embora pendente de regulamentação específica, a prática de apostas esportivas deixou de ser contravenção penal no país, na medida em que há norma permissiva da conduta. Assim, o artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/41 pode deixar de ser aplicado para punir essas condutas.
No entanto, essa interpretação não se estende às demais apostas – como cassinos e demais jogos de azar –, que continuam formalmente tipificados como contravenção penal pelo artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/41. De todo modo, a tipicidade das condutas de estabelecer e explorar jogos de azar pode ter sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário 966.177/RS, cuja repercussão extraordinária já foi reconhecida (Tema 924 – recepção do artigo 50 do Decreto-Lei 3.688/41 em face da Constituição da República de 1988).
Também está pendente de aprovação o projeto de lei que prevê a legalização dos jogos de azar e a reabertura dos cassinos no país (PL 186/14). O projeto contempla o jogo do bicho; vídeo-bingo e videojogo; bingos; cassinos em complexos integrados de lazer; apostas esportivas e não esportivas; e cassinos on-line. Além disso, há previsão de credenciamento para exploração do jogo de bingo e vídeo-bingo por 20 anos e de cassinos por 30 anos, ambos podendo ser renovados por igual período.

- Categoria: Contencioso
A 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), em acórdão recente relatado pelo desembargador Cesar Ciampolini, anulou uma sentença arbitral proferida na fase de liquidação de danos, por entender ter havido abstenção de voto de um dos coárbitros que, vencido em sentença parcial sobre o mérito da disputa, deixou de se pronunciar sobre a quantificação dos prejuízos.[1]
A arbitragem discutia a rescisão de contratos que tratavam, entre outros, da compra e venda de espaços para veiculação de mídias de publicidade.
No mérito, o tribunal arbitral, em sentença parcial proferida por maioria de votos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte requerente para:
- condenar a parte requerida ao pagamento de lucros cessantes devido à não veiculação da mídia contratada; e
- determinar que esses danos fossem apurados em fase de liquidação de sentença. Na ocasião, foi vencido um dos coárbitros, que entendeu não estar presente o nexo causal necessário para justificar o pagamento de danos por lucros cessantes.
Durante a liquidação de sentença, e após a realização de laudo pericial para apuração dos lucros cessantes, o tribunal arbitral novamente se dividiu. O coárbitro que havia sido vencido no mérito se absteve de votar sobre o valor da indenização, reiterando sua posição de que não havia sido demonstrado nexo causal que justificasse os lucros cessantes.
A outra coárbitra – que, no mérito, acompanhou o posicionamento vencedor – votou pela realização de nova perícia, por entender que o exame pericial realizado não atendia aos critérios fixados na sentença de mérito. O presidente do tribunal arbitral, por sua vez, homologou os cálculos do perito.
Como não se chegou a um consenso, o presidente do tribunal arbitral determinou a prevalência de seu entendimento sobre o tema, com fundamento no artigo 24, §1º, da Lei de Arbitragem.[2]
A parte requerente na arbitragem iniciou, então, ação anulatória no Poder Judiciário. Entre outros motivos, alegou que o posicionamento do coárbitro (que, vencido no mérito, votou na fase de liquidação apenas para reiterar o seu posicionamento em relação à ausência de nexo causal e consequentemente de quaisquer danos) constituiria, na verdade, um não voto.
Em resumo, a autora da ação judicial sustentou que a abstenção do coárbitro impediria que o presidente exercesse o voto de minerva. A sentença arbitral proferida na fase de liquidação seria nula por:
- violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição;
- ser proibido o non liquet (isto é, impossibilidade de o julgador se furtar a decidir um litígio por falta de elementos para embasar a sua decisão);
- ter sido proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, já que as partes decidiram que a arbitragem seria julgada por um painel composto por três árbitros;
- violação à coisa julgada (em relação à sentença parcial proferida em fase de mérito na arbitragem); e
- ofensa à garantia do devido processo legal.
Ao reformar a sentença de primeira instância – que havia julgado improcedente o pedido de anulação da sentença arbitral –, o TJSP concluiu que o coárbitro em questão, de fato, teria se abstido de votar, já que ele teria se limitado apenas a fazer referência ao entendimento que adotara na sentença parcial de mérito, uma posição, inclusive, já derrotada.
O TJSP apontou que os árbitros – assim como os juízes – têm o dever de garantir o direito das partes ao acesso à Justiça e não podem se abster de tomar uma posição em uma questão apresentada a eles.
No acórdão, o tribunal concluiu que o voto do coárbitro na fase de liquidação configuraria non liquet. Ele não teria cumprido seu dever de decidir, violando, assim, o princípio constitucional do acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV). Isso, portanto, tornaria nula a sentença arbitral.
Além da peculiaridade da questão analisada pelo TJSP (que, por si só, já é bastante interessante), a decisão recém-proferida é de importância para a comunidade arbitral devido à fundamentação adotada pelo TJSP para anular a sentença. Afinal, pelo que se tem notícia, essa é a primeira vez que uma sentença arbitral é anulada especificamente por violação ao princípio constitucional do acesso à Justiça.
Embora a inobservância do princípio constitucional do acesso à Justiça não esteja mencionada na Lei de Arbitragem como causa para anulação da sentença arbitral, o TJSP concluiu que os princípios constitucionais listados no artigo 21, §2º, da Lei de Arbitragem – cuja violação resulta na nulidade da sentença arbitral – deveriam ser interpretados de for ampliada, para incluir outros princípios constitucionais de mesma categoria, ainda que eles não estivessem expressamente referidos na Lei de Arbitragem.
Muitos doutrinadores que apontam a taxatividade das hipóteses de nulidade da sentença arbitral previstas no artigo 32 da Lei de Arbitragem já reconheciam que a violação à ordem pública constitui princípio implícito, cuja violação também caracterizaria a nulidade da sentença arbitral[3] (isto é, uma condição geral de validade da sentença arbitral).[4]
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça também já havia se pronunciado no sentido de que “[a] ação anulatória de sentença arbitral há de estar fundada, necessariamente, em uma das específicas hipóteses contidas no art. 32 da Lei 9.307/1996, ainda que a elas seja possível conferir uma interpretação razoavelmente aberta, com o propósito de preservar, em todos os casos, a ordem pública e o devido processo legal e substancial, inafastáveis do controle judicial”.[5]
Apesar dessas considerações sobre a ordem pública, e até onde se tem conhecimento, nossos tribunais estatais ainda não haviam anulado uma sentença arbitral valendo-se especificamente da ampliação do rol de princípios previstos no artigo 21, §2º, da Lei de Arbitragem.
A discussão é bastante relevante.
De um lado, reconhecer que o artigo 21, §2º, da Lei de Arbitragem pode ser interpretado de forma ampliada é um passo importante para garantir os direitos das partes a um procedimento justo e conduzido conforme os princípios constitucionais gerais aplicáveis. Por essa interpretação ampliada, a violação a princípios constitucionais gerais do processo não mencionados expressamente na Lei de Arbitragem (como é princípio do acesso à Justiça) poderia levar à anulação da sentença arbitral.
De outro, a utilização desse entendimento deve ser sempre feita de forma criteriosa e balizada pelo Judiciário, para evitar o alargamento indevido das situações legais de anulação da sentença (artigo 32 da Lei de Arbitragem), o que certamente poderia macular o instituto da arbitragem e impactar a segurança jurídica que lhe é tão cara.
Caberá aos tribunais estatais, em sua tarefa de controle, analisar e interpretar as situações concretas, detectando caso a caso eventuais excessos ou iniquidades.
Assim, será possível garantir às partes o devido processo legal (em sentido processual e material), sem dar motivo para anulação indevida de sentenças arbitrais que estejam em conformidade com as garantias constitucionais e as regras legais aplicáveis à arbitragem.
[1] TJSP, apelação cível 1094661-81.2019.8.26.0100, Rel. Des. Cesar Ciampolini, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 24.05.2023.
[2] Art. 24. A decisão do árbitro ou dos árbitros será expressa em documento escrito.
- 1º Quando forem vários os árbitros, a decisão será tomada por maioria. Se não houver acordo majoritário, prevalecerá o voto do presidente do tribunal arbitral.
[3] “A leitura do caput e do §2° do artigo 33 leva à conclusão de que o rol do artigo 32 é taxativo, o que é sustentado pela doutrina visando à estabilidade da sentença arbitral e à segurança jurídica dela decorrente, como reflexo da renunciabilidade à garantia de acesso ao Poder Judiciário, valendo mencionar que às partes não é dado ampliar o rol de hipóteses legais, nem renunciar previamente à aplicação do disposto nos artigos 32 e 33 da Lei, considerados cogentes.
No entanto, ainda entre aqueles que defendem a taxatividade do rol em apreço, que sintetiza matérias de ordem pública que o Estado não admite sejam superadas, muitos há que admitem a existência de hipóteses excepcionais de configuração de causas de nulidade da sentença arbitral ali não expressas, como no caso em que esta ofende a ordem pública, por não aplicar corretamente lei dessa natureza, lembrando-se que, pese embora não seja prevista no rol do artigo 32, desta Lei, atue a ordem pública, ao lado dos bons costumes, como limite às escolhas dos contratantes no âmbito da justiça privada, conforme se lê no artigo 2o, desta Lei.
(...)
Como exemplo de hipótese não arrolada no artigo 32 da Lei em estudo, e que pode levar à nulidade da sentença arbitral, temos que a declaração de inconstitucionalidade pelo árbitro constitui questão de ordem pública, existindo, outrossim, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, no sentido da caracterização da matéria como de ordem pública. (...)
(...)
Portanto, a nulidade do ato inconstitucional encontra previsão na Constituição, como princípio implícito, além de matéria de ordem pública” (FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves; ROCHA, Matheus Lins; FERREIRA, Débora Cristina Fernandes Ananias Alves. Lei de Arbitragem Comentada. 2 ed. Editora JusPODIVUM, 2021, pp. 329-330).
[4] “(…) Em outras palavras: se o legislador não levasse em consideração, como causa de anulação da sentença arbitra (nacional), a violação à ordem pública, todas as arbitragens certamente viriam dar em território nacional (todos os atos seriam praticados no exterior e apenas a sentença arbitral seria proferida no Brasil, o que tornaria a sentença arbitral – ab absurdo – imune a qualquer ataque por força de ofensa à ordem pública!). O argumento (ad terrorem, sem dúvida) serve para pôr à mostra a consequência de tentar evitar o reconhecimento do óbvio: o sistema arbitral brasileiro é coerente, de modo que tanto as sentenças arbitrais nacionais quanto as sentenças arbitrais estrangeiras estão sujeitas à mesma condição geral de validade, qual seja, não atentar contra a ordem pública” (CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3 ed., ver. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009, pp. 417-148).
[5] STJ, REsp 1.660.963/SP, rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26 de março de 2019.

- Categoria: Ambiental
Foi concluído em 2 de junho de 2023 o julgamento virtual da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7.321. A ação foi proposta pela Associação Nacional das Operadoras de Celulares (Acel) contra dispositivos da Lei 6.787/06,[1] do estado de Alagoas, que tratam da exigência de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistema de Telefonia e de Estações Rádio Base e Equipamentos de Telefonia sem fio.
Segundo a Acel, os artigos impugnados violam a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, bem como para explorar estes serviços, conforme previsto na Constituição Federal. Além disso, a ACEL alegou que os dispositivos impugnados estariam em dissonância com a Lei Federal 9.472/1997, Lei Geral das Telecomunicações, e com a Lei Federal 13.116/2015, conhecida como Lei das Antenas.
Com base nesses argumentos, a Acel requereu a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos dos dispositivos impugnados e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade das disposições legais em questão.
Em julgamento iniciado em 26 de maio de 2023, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria, pela procedência da ADI 7.321, declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos da lei alagoana.
Nos termos do voto do relator, os arts. 19, X, e 150 da Lei Geral das Telecomunicações estabelecem a competência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para expedir normas sobre prestação de serviços de telecomunicações e para regulamentar a implantação, o funcionamento e a interconexão das redes, assegurando a compatibilidade das redes das diferentes prestadoras, visando à sua harmonização em âmbito nacional e internacional.
Segundo o relator, a competência privativa da União para legislar sobre o tema decorre da necessidade de uma integração ampla e profunda de redes, equipamentos e sistemas, em âmbito nacional e internacional.
O ministro Gilmar Mendes asseverou ainda que, apesar da intenção de proteção e defesa do meio ambiente, a lei estadual invade a competência privativa da União para legislar sobre a matéria e interfere diretamente na relação contratual formalizada entre o poder concedente e as concessionárias, na medida em que cria uma obrigação às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e estipula critérios para a instalação de infraestruturas de telecomunicação.
O relator afirmou que o STF tem vasta jurisprudência no sentido de que a lei estadual deve ser declarada inconstitucional quando dispõe sobre telecomunicações, mesmo com finalidades de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores.
O ministro Gilmar Mendes também declarou que a lei estadual está em dissonância com a Lei Federal 13.116/15, que dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do Brasil.
Em seu art. 7º, o diploma legal mencionado prevê que “as licenças necessárias para a instalação de infraestrutura de suporte em área urbana serão expedidas mediante procedimento simplificado, sem prejuízo da manifestação dos diversos órgãos competentes no decorrer da tramitação do processo administrativo”.
O art. 8º da Lei Federal 13.116/15 determina ainda que “os órgãos competentes não poderão impor condições ou vedações que impeçam a prestação de serviços de telecomunicações de interesse coletivo, nos termos da legislação vigente”. Portanto, segundo o relator, a lei estadual, ao submeter a instalação a novas condicionantes, ingressa em domínio normativo reservado à União.
Por fim, o relator declarou igualmente a inconstitucionalidade, por arrastamento, dos itens 10.5. e 10.6 do Anexo VI da Lei Estadual 6.787/06, que estabelecem diferentes portes para as redes e estações de telecomunicações e, consequentemente, ofendem a competência privativa da União.
Em voto dissidente, o ministro Edson Fachin manifestou entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados significaria que qualquer empreendimento regulado pela União necessariamente seria licenciado por ela, como se a competência privativa funcionasse como uma via atrativa de todo o direito ambiental.
Segundo o ministro Edson Fachin, a Lei Complementar 140/11 e o Decreto Federal 8.437/15, que regulamenta alguns de seus dispositivos, estabelecem que obras de instalação de infraestrutura de apoio às redes de comunicação não são de competência da União.
Dessa forma, segundo o voto divergente, reconhecer a competência privativa da União para licenciar esse tipo de empreendimento impactaria a forma como o licenciamento tem ocorrido no Brasil e premiaria a inação da União, o que poderia representar, até mesmo, na dispensa inconstitucional de licenciamento para essas atividades.
Contra o acórdão foram opostos embargos de declaração, que ainda aguardam julgamento.
[1] Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, § 1º da referida lei.

- Categoria: Trabalhista
Em nosso artigo sobre a Lei 14.611/23, que trata sobre igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens, destacamos que a principal inovação da nova norma é a obrigação de publicação semestral de relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios por pessoas jurídicas de direito privado (sociedades, fundações, associações etc.).
O relatório é a concretização de um dos aspectos do pilar social das práticas ESG. Devido aos impactos decorrentes do descumprimento da obrigação mencionada, é essencial que as empresas tenham muito cuidado na elaboração e publicação do relatório.
Não apenas é necessário realizar análise prévia para verificar eventuais inconsistências antes de redigir o documento, como também é essencial ter cautela na forma como as informações salariais serão divulgadas.
As informações do relatório devem permitir a comparação objetiva entre salários, remunerações e a proporção de ocupação de cargos de direção, gerência e chefia preenchidos por mulheres e homens. Essas informações também devem ser divulgadas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e com as obrigações legais concorrenciais aplicáveis às empresas.
Em relação à LGPD, a publicação dos dados deve ser feita após uma avaliação equilibrada da finalidade estabelecida na divulgação dos relatórios[1] e a identificação dos dados estritamente necessários para tanto.[2] A publicação de dados desnecessários pode expor a empresa a risco de violação à proteção legal de dados pessoais e gerar penalidades.
A própria Lei 14.611/23, em seu artigo 5º, define quais são as informações necessárias ao estabelecer, em seu §1º, que os relatórios conterão “dados anonimizados” e “informações que possam fornecer dados estatísticos”.
A finalidade da nova norma, portanto, não é saber “quem especificamente recebe quanto”, mas permitir a comparação objetiva e a aferição estatística dos critérios adotados, para concluir se há ou não diferença salarial entre mulheres e homens.
Do ponto de vista concorrencial, apesar de a Lei 14.611/23 não fazer referência às obrigações concorrenciais relacionadas à divulgação de salários de empregados, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) já expressou entendimento de que a troca de informações sensíveis entre empresas concorrentes pode configurar infração à Lei de Defesa da Concorrência, devido à possibilidade de levar a paralelismo ou coordenação de atuação no mercado, com efeitos semelhantes aos de um cartel.
De modo geral, são consideradas sensíveis, sob a perspectiva do direito da concorrência, informações específicas – atuais ou futuras – sobre o desempenho das atividades das empresas, que possam eliminar a incerteza no processo de tomada de decisão de quem as recebe e não estejam disponíveis em fontes públicas.
Nesse contexto, salários de empregados são tratados expressamente como informações sensíveis do ponto de vista concorrencial no guia de gun jumping publicado pelo Cade.
Como, então, as empresas poderiam publicar os relatórios de transparência salarial sem violar as regras da LGPD e do direito da concorrência? Uma solução jurídica possível seria elaborar relatórios utilizando razões matemáticas para comparar salários pagos a mulheres e a homens.
Essa metodologia já é inclusive utilizada por empresas nos Estados Unidos e na Europa para comparar salários pagos conforme níveis organizacionais. Há também empresas brasileiras que já utilizam essa metodologia em seus relatórios de sustentabilidade.
É preciso, porém, fazer ajustes: do ponto de vista legal, as empresas não podem aplicar razões matemáticas considerando apenas o nível organizacional e os cargos ocupados pelos empregados com base em uma média salarial.
No Brasil, todos os requisitos legais previstos no artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) deverão ser considerados pelas empresas, o que torna a análise muito mais detalhada. As razões matemáticas deverão ser utilizadas para comparar salários pagos a mulheres e homens que estejam em situações legalmente equiparáveis. Isso porque, caso as empresas não observem os critérios legais de diferenciação salarial, haverá uma distorção no índice de equidade salarial entre mulheres e homens.
As empresas deverão avaliar quais são as pessoas em posições legalmente equiparáveis para, a partir daí, aplicar razões matemáticas que permitam a comparação. Se não há pessoas em situações equiparáveis, a empresa deverá esclarecer o fato.
O relatório, portanto, deverá ser adaptado à realidade de cada empresa.
Essa solução jurídica, entretanto, considera a ausência de previsão legal e de normas regulando os procedimentos a serem utilizados para elaboração do relatório de transparência salarial, em conformidade com a Lei 14.611/23. Caso o governo federal publique regulamentação específica, as empresas deverão seguir tais diretrizes.
[1] Princípio da finalidade – Art. 6°, I, LGPD.
[2] Princípio da necessidade ou ideal de data minimization – Art. 6°, III, LGPD.

- Categoria: Infraestrutura e Energia
Neste episódio, Ana Karina Souza e Vitor Fernandes, sócios de Infraestrutura e Energia, conversam com Jorge Arbache, Vice-presidente do setor privado do CAF, e Marcelo dos Santos, Executivo sênior da Vice-presidência de setor privado do CAF, sobre powershoring. Entre os assuntos debatidos estão a possível noeoindustrialização do Brasil, a descarbonização do país e a contribuição do Banco de Desenvolvimento da América Latina para evolução do tema. Acompanhe!

- Categoria: Planejamento patrimonial e sucessório
Não é novidade a interseção de diversas áreas do Direito para garantir a elaboração de um planejamento patrimonial e sucessório bem estruturado e seguro juridicamente. É o caso da análise tributária, um dos pilares mais relevantes desse trabalho. Com a recente aprovação da Reforma Tributária pela Câmara dos Deputados, prevê-se um impacto direto das mudanças na estruturação desses planejamentos.
Relacionamos a seguir os tópicos mais relevantes da Reforma Tributária nesses caso.

- Categoria: Contencioso
A cidade de São Paulo foi sede, no mês de maio, da 22ª Conferência Anual Internacional do The Dispute Resolution Board Foundation (DRBF), instituição presente em todos os continentes, dedicada ao estudo e aplicação dos dispute boards (ou comitês de prevenção e solução de disputas).
Foram muitos debates profícuos sobre esse método de resolução de disputas que tem se mostrado extremamente eficaz e ganhado cada vez mais importância para resolver conflitos e diminuir a litigiosidade associada à execução de contratos complexos de longa duração, em especial no setor da construção civil.
Conceito e tipos de dispute boards
Os dispute boards são comitês, painéis ou conselhos formados por um ou múltiplos profissionais independentes, que contam com a confiança das partes e são designados para acompanhar a execução de contratos e contribuir para o seu efetivo cumprimento.
Quando, no curso da execução do contrato, surge uma divergência entre as partes relacionada a direitos patrimoniais disponíveis, o dispute board é acionado para emitir opiniões ou pareceres, com recomendações que podem ou não ser acatadas pelas partes. O comitê também pode ser acionado para proferir decisões de caráter vinculante sobre o objeto da controvérsia. Trata-se, portanto, de uma forma rápida, eficiente e, em geral, mais econômica de prevenir disputas ou saná-las antes do surgimento de um efetivo litígio.
O dispute board pode ser constituído na celebração do contrato que será fiscalizado pelo próprio comitê (nessa hipótese, o comitê poderá acompanhar a execução do contrato de forma permanente) ou, ainda, quando surgir uma controvérsia, já no curso da execução do contrato. A segunda modalidade é conhecida como ad hoc.
A competência do dispute board decorre da aplicação do princípio da autonomia da vontade das partes, que outorgam aos integrantes do comitê os poderes necessários para opinar sobre a execução do contrato ou para solucionar eventuais controvérsias entre as partes.
Segundo o mesmo princípio, as partes têm liberdade e ampla flexibilidade para disciplinar a forma e os limites da atuação do dispute board a ser instituído, podendo, inclusive, adaptar modelos existentes de dispute board às necessidades específicas da sua relação contratual.
Dependendo dos limites dos poderes outorgados pelas partes ao dispute board, portanto, o comitê poderá fazer meras recomendações (na forma de opiniões ou pareceres) quanto à maneira de solucionar controvérsias ou emitir decisões contratualmente vinculantes às partes.
A primeira modalidade é comumente denominada Dispute Resolution Board (DRB) e tem origem no direito norte-americano. A segunda, que se originou na Europa, é chamada de Dispute Adjudication Board (DAB). Há, ainda, um terceiro modelo que combina os dois outros. É o denominado Combined Dispute Board (CDB).
Origem e crescimento no Brasil
Os dispute boards foram criados nos Estados Unidos a partir de uma demanda da indústria da construção civil por formas mais céleres, informais e econômicas de solucionar as controvérsias (pontuais ou mais espinhosas) que surgem na execução dos contratos de construção civil – conhecidos pela sua especificidade técnica, complexidade e longa duração.
Com o acompanhamento do andamento da execução do contrato pelo comitê e a sua pronta atuação para prevenir ou solucionar disputas, evita-se o acirramento dessas controvérsias e a instauração de litígios, que geram custos enormes e outros prejuízos para as partes contratantes e terceiros.
Devido ao caráter técnico de muitas das controvérsias oriundas de contratos de construção, é comum que as partes que atuam nesse meio nomeiem técnicos para atuar nos seus disputes boards. A expertise desses profissionais independentes contribui muito para a condução eficiente dos trabalhos e a obtenção de resultados céleres e satisfatórios.
Com o sucesso dos dispute boards no setor da construção civil, esses comitês começaram a ser cogitados em outras situações. Seu uso passou a ser aconselhável em diversas modalidades de relações contratuais lastreadas em acordos complexos e de longa duração.
No Brasil, o uso de dispute boards é mais recente e ainda não adquiriu a importância que poderia ter, mas o tema vem ganhando destaque nos debates sobre meios extrajudiciais de prevenção e resolução de conflitos e até mesmo a atenção do legislador. A previsão é que tenha cada vez mais relevância.
Em 2018, o município de São Paulo foi pioneiro na autorização e regulamentação do uso de dispute boards em contratos com o poder público, ao editar a Lei Municipal 16.873/18, que autorizou a instalação dos denominados Comitês de Prevenção e Solução de Disputas em contratos administrativos continuados celebrados pela prefeitura de São Paulo.
Mais recentemente, a nova Lei de Licitações (Lei 14.133/21) também passou a autorizar expressamente a constituição de comitês de resolução de disputas para solucionar controvérsias oriundas dos contratos administrativos regidos pela mencionada lei, como já abordado em artigo anterior. Trata-se de questões “relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis, como as questões relacionadas ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ao inadimplemento de obrigações contratuais por quaisquer das partes e ao cálculo de indenizações” (paragrafo único do art. 151 da Lei de Licitações).
Diante do reconhecimento da importância, conveniência e legalidade do uso de dispute boards, até mesmo em contratos administrativos, e dos casos de sucesso envolvendo esse instituto no Brasil, diversas câmaras especializadas de arbitragem no país seguiram a tendência lançada por câmaras internacionais e passaram oferecer serviços de administração de dispute boards, além de editar regulamentos específicos sobre a atuação desses comitês sob sua administração.
É o caso do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM-CCBC), da Câmara FGV de Mediação e Arbitragem e da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Ciesp/Fiesp, por exemplo.
Vantagens do uso de dispute boards
como visto, o uso de dispute boards – em especial em setores que exigem agilidade e segurança jurídica na solução de controvérsias que surgem normalmente na execução de contratos continuados – oferece para as partes contratantes a opção de verem suas desavenças solucionadas de forma célere e eficiente, antes mesmo da instauração de litígios judiciais ou arbitrais – que, não raro, acabam por paralisar o andamento do contrato e exigem das partes o gasto de grandes recursos financeiros e humanos.
Os dispute boards contribuem, portanto, para a redução de custos. Isso inclui aqueles associados à paralisação da execução do escopo do contrato subjacente (seja pela incapacidade das partes de seguirem com a execução sem solução prévia do impasse ou até mesmo por determinação judicial ou arbitral) e os conhecidos custos associados aos litígios (tanto judiciais quanto arbitrais).
A nomeação de especialistas independentes e com notório conhecimento sobre o objeto do contrato para fiscalizar a sua execução também contribui para a emissão de recomendações ou decisões adequadas do ponto de vista técnico e que, portanto, tendem a ser acatadas pelas partes. Essa é mais uma demonstração de como os dispute boards podem ajudar a evitar litígios e a diminuir custos.
Além disso, a solução rápida para as controvérsias que surgem no dia a dia ajuda a preservar a relação das partes contratantes, mitigando os riscos de rompimento dos contratos por desgaste da relação. Nesse sentido, a instauração do dispute board desde o princípio da relação contratual e o acompanhamento do contrato pelo comitê desde o início da sua execução mostram-se especialmente vantajosos.
Por outro lado, convém destacar que os custos de manutenção de um dispute board geralmente são baixos em comparação ao orçamento do projeto a ele relacionado.
De acordo com dados da DRBF – The Dispute Resolution Board Foundation, os custos de manutenção de um dispute board em projetos de construção variam tipicamente entre 0,05% do custo total do projeto (para projetos envolvendo poucas controvérsias) e 0,25% do custo total (nos projetos em que surgem um maior número de disputas ou disputas mais complexas). Assim, a nomeação de um dispute board normalmente se revela uma medida com bom custo-benefício.
Diante desse cenário, apesar de ser necessária a análise da relação contratual do caso concreto, a utilização do dispute board, em geral, tem potencial benéfico para os contratantes, que poderão ter suas divergências tratadas de forma célere e por especialistas, poupando tempo e recursos para concluir o contrato.

- Categoria: Direito digital e proteção de dados
No segundo episódio da trilogia de videocasts, Juliana Abrusio, sócia de Direito digital e proteção de dados, e Mário Almeida, sócio da M.A. Consulting, conversam sobre negócios e ecossistema digital. O surgimento de novos negócios com o avanço das tecnologias exponenciais, a Interface de programação de aplicações (sistema API), a migração para a economia digital e a adequação dos empreendedores e empresas às leis de proteção de dados do Brasil são alguns dos assuntos debatidos no episódio. Acompanhe!
{youtube}https://youtu.be/pc6-omlqVUM{/youtube}

- Categoria: Venture Capital e Startups
É comum que rodadas de investimento de startups sejam precedidas de reorganização envolvendo a transferência da participação societária da empresa brasileira para a companhia constituída no exterior, em jurisdições cuja legislação ofereça maior flexibilidade e segurança jurídica a investidores estrangeiros.
Essas reorganizações também são implementadas por companhias brasileiras que buscam acesso a mercados de capitais estrangeiros por meio de listagem em bolsa de valores no exterior.
Como resultado dessas reorganizações societárias, também conhecidas como inversões de capital ou flip, os sócios originais passam a deter participação societária em sociedade no exterior. Essa sociedade, por sua vez, se torna controladora da startup brasileira.
Como regra geral, as inversões são implementadas sob o formato jurídico de aumento de capital da companhia estrangeira com entrega das ações ou quotas da startup brasileira. Sob a perspectiva tributária, deve-se avaliar os impactos dessa transação para os sócios fundadores. Neste artigo, trataremos dos sócios brasileiros pessoas físicas.
O flip implementado é qualificado como alienação e pode levar ao reconhecimento de ganho de capital tributável, caso o valor atribuído às ações ou quotas seja superior ao seu custo de aquisição, conforme registrado pelos sócios fundadores.
Não há, porém, dispositivo legal que exija a valoração da participação societária no mercado para fins da transferência. É possível que o valor de custo seja adotado pelas partes e, assim, a transação fica fiscalmente neutra.
De acordo com a regulamentação do Banco Central do Brasil, a inversão requer a implementação de operações simultâneas de câmbio, com valor embasado em laudo que indica o valor máximo que pode ser atribuído às ações/quotas.
As operações de câmbio simulam a saída de investimento brasileiro para o exterior – sujeita à incidência do IOF/câmbio com alíquota de 0,38% – e a entrada de investimento estrangeiro no Brasil – sujeito à alíquota zero do IOF/câmbio. Trata-se do custo tributário da realização do flip.
Os lucros e dividendos pagos pela startup brasileira à sua nova controladora no exterior não são tributados no Brasil, mas podem, em tese, ser tributados na jurisdição em que a controladora é residente. Já os lucros e dividendos distribuídos pela companhia estrangeira aos sócios fundadores brasileiros serão tributados no Brasil.
No caso de sócios fundadores pessoas físicas, incide a alíquota máxima do Imposto de Renda – 27,5%. Um eventual tributo incidente na fonte sobre os dividendos na jurisdição da controladora no exterior (pouco provável) poderá ser deduzido do imposto devido no Brasil.
Apesar de as startups, em geral, não serem entidades lucrativas aptas a distribuir dividendos, na hipótese de distribuição futura, a tributação dos dividendos pelos sócios brasileiros representa ineficiência resultante do flip.
Nos casos de evento de liquidez que envolva alienação privada das ações da companhia no exterior, o ganho de capital auferido pelos sócios fundadores pessoas físicas ficaria sujeito à tributação no Brasil, com a aplicação de alíquotas progressivas de 15% a 22,5%.
Esse mesmo tratamento é aplicável ao ganho de capital auferido em alienação de ativos no Brasil – ou seja, o regime tributário no caso de alienação secundária não é afetado em decorrência do flip.
Caso a controladora no exterior aliene participação societária na startup brasileira, um eventual ganho de capital também ficará sujeito à tributação no Brasil sob a sistemática de retenção na fonte.
Caberá ao adquirente ou a seu representante reter e recolher o tributo devido. Caso a controladora seja residente em jurisdição definida como paraíso fiscal, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) será cobrado com base na alíquota geral de 15% ou alíquota majorada de 25%.
Eventual necessidade de unflip (evento de “tropicalização”) para desfazer a interposição da controladora no exterior deve ser cuidadosamente avaliada para evitar o reconhecimento de ganhos tributáveis no Brasil.

- Categoria: Planejamento patrimonial e sucessório
Não é novidade a interseção de diversas áreas do Direito para garantir a elaboração de um planejamento patrimonial e sucessório bem estruturado e seguro juridicamente. É o caso da análise fiscal, um dos pilares mais relevantes desse trabalho. Com a recente aprovação da Reforma Tributária pela Câmara dos Deputados, prevê-se um impacto direto das mudanças na estruturação desses planejamentos.
Relacionamos a seguir os tópicos mais relevantes da Reforma Tributária nesses casos.
TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA DE ITCMD/ITD/ITCD
O ITCMD, ITCD ou ITD, é o imposto incidente sobre transmissão de bens e direitos em decorrência do falecimento (herança) ou cessão gratuita (doação) e cuja nomenclatura pode variar, a depender do estado.
O imposto incidirá sobre o valor dos bens recebidos, de forma que cada herdeiro (ou donatário) é responsável pelo pagamento referente ao seu respectivo quinhão.
Além disso, a apuração dos valores dos bens transmitidos terá como data-base a data da morte do autor da herança ou a data da doação.
Os estados têm autonomia para legislar sobre a forma de incidência, base de cálculo e valor da alíquota, cujo teto é 8%, conforme Resolução do Senado Federal nº 09, de 1992.
A Reforma Tributária, apesar da manutenção da alíquota máxima em 8%, determina que todos os estados instituam uma progressão na alíquota do imposto.
| ATUALMENTE | APÓS A REFORMA |
| Imposto estadual com alíquota máxima de 8%, podendo ou não ser progressivo | Imposto estadual com alíquota máxima de 8%, necessariamente com regime progressivo |
Consequência: estados em que não há previsão de progressividade da alíquota terão que modificar as suas legislações para cumprir a determinação.
Alguns estados já cobram esse imposto de forma escalonada/progressiva, a depender do valor dos bens transmitidos, como Rio de Janeiro e Santa Catarina, enquanto outros determinam uma alíquota fixa, como é o caso de São Paulo e Minas Gerais.
ESTADO COMPETENTE PARA COBRANÇA DE ITCMD/ITD/ITCD NOS INVENTÁRIOS
Atualmente, o imposto sobre a herança é recolhido no estado em que tramita o inventário, exceto em relação aos bens imóveis, cujo imposto deve ser recolhido no local em que estiver o bem.
Após a Reforma Tributária, a competência para cobrança do imposto será do estado em que era domiciliado o falecido, mantida a exceção para bens imóveis, em que o imposto a ser recolhido será do estado em que está localizado o bem.
| ATUALMENTE | APÓS A REFORMA |
| Imposto recolhido no estado em que tramita o inventário, exceto para bens imóveis (local em que estiver o bem). | Imposto recolhido no estado de domicílio do falecido, exceto para bens imóveis (local em que estiver o bem). |
Consequência: impossibilidade de recolhimento do imposto com base na legislação estadual do local em que tramitar o inventário, devendo-se aplicar as leis do estado de domicílio do autor da herança.
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE HERANÇAS E DOAÇÕES NO EXTERIOR
Atualmente, não há tributação das heranças de:
- bens localizados no exterior;
- falecidos com residência no exterior; e
- inventário processado no exterior.
Isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a cobrança de ITCMD/ITD/ITCD é inconstitucional em relação às doações e heranças instituídas no exterior, já que os estados e o Distrito Federal não teriam competência para aplicar tal tributação, em razão de ausência de lei complementar nacional para regulamentação da matéria.
A Reforma Tributária dispõe regras para a incidência do imposto nas situações acima mencionadas (até a edição de lei complementar nacional. São elas:
Doação:
- Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior à competência do estado onde tiver domicílio o donatário.
- Se o donatário tiver domicílio ou residir no exterior à competência do estado em que se encontrar o bem.
Herança:
- Competência do estado onde era domiciliado o autor da herança (de cujus).
- Se o de cujus era domiciliado ou residente no exterior à competência do estado onde tiver domicílio o herdeiro ou legatário.
| ATUALMENTE |
APÓS A REFORMA |
| Não há tributação. | Mesmo sem a edição da lei complementar, haverá incidência de ITCMD em relação a herança/doação no exterior, cujo estado competente está indicado acima. |
Consequência: tributação quanto aos bens localizados no exterior, de pessoas falecidas no exterior e de inventário processado no exterior.
Assim sendo, mudanças significativas na tributação poderão ocorrer com a Reforma Tributária e devem ser levadas em consideração tanto na revisão de estruturas existentes quanto em planejamentos futuros.
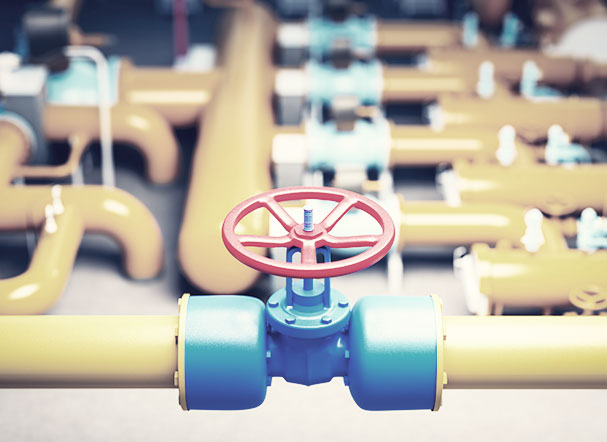
- Categoria: Infraestrutura e Energia
Em tempos de reflexão sobre o novo mercado do gás, é necessário chamar a atenção para uma atividade que ganha cada vez mais espaço nas discussões da indústria por causa de seu grande potencial de desenvolvimento no Brasil: a estocagem subterrânea de gás natural (ESGN). Essa atividade consiste no armazenamento de gás natural em formações geológicas, assim como acontece nos campos depletados de petróleo e gás.
A principal vantagem da ESGN é que o gás estocado pode ser liberado sob demanda. Isso tem reflexos positivos no mercado como um todo, pois permite uma gestão mais eficiente das oscilações de demanda do gás (peak shaving), da intermitência da geração hidrelétrica e outras fontes renováveis e do preço do gás importado. As consequências vão desde a redução da sazonalidade tarifária até a utilização de contratos de fornecimento de gás mais flexíveis, com formulações alternativas às cláusulas de take-or-pay.
ESGN no Brasil: regulação e movimentos da indústria
A antiga Lei do Gás (Lei 11.909/09) já previa a estocagem de gás natural em campos devolvidos à União ou formações geológicas não produtoras de hidrocarbonetos sob o regime de concessão. Ainda durante a vigência dessa lei, foi regulamentada uma hipótese de autorização para a atividade de ESGN nos planos de desenvolvimento de campos, por meio da Resolução ANP 17/15.
Com a Nova Lei do Gás (Lei 14.134/20), extinguiu-se o regime de concessão para ESGN. Foi adotado apenas o regime de autorização para qualquer área onde a atividade seja desenvolvida (art. 20). Estabeleceu-se também o direito de acesso de terceiros às instalações de ESGN, a ser regulado pela Agência Nacional de Petróleo – ANP (art. 22).
Para além da atualização da norma, já é possível apontar avanços concretos nesse mercado nascente. Exemplo disso foi o anúncio feito pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) de uma licitação para a contratação de consultoria especializada em ESGN, custeada por financiamento do Banco Mundial.
O estudo encomendado consistirá na entrega de relatórios sobre mapeamento de reservatórios brasileiros e análise de fatores técnicos, econômicos, ambientais e regulatórios, para a efetiva implementação da atividade no país.
E não é só: em maio deste ano, foi outorgada a primeira autorização de ESGN sob a vigência da Nova Lei do Gás. A companhia autorizada é uma empresa de integração energética, com atuação nos segmentos de upstream, midstream e geração de energia, vai implementar um projeto de estocagem no campo Pilar, em Alagoas, com base na Resolução ANP 17/15.
Trata-se de um marco para o setor. A autorização dada à empresa, porém, é somente o primeiro passo de uma longa caminhada repleta de desafios para o regulador.
Desafios regulatórios
As autorizações de que trata a Resolução ANP 17/15 são relativamente simples, pois são requeridas pelas próprias concessionárias no âmbito dos seus planos de desenvolvimento de campos. O projeto de ESGN da empresa autorizada , por exemplo, não abrange estocagem de gás feita por terceiros, já que a atividade de estocagem está incluída em sua própria concessão.
O grande desafio para o regulador, na realidade, reside no tratamento a ser dado às autorizações solicitadas por entidades que não exercerão a atividade em benefício próprio, mas sim como prestação de serviços a terceiros.
Nesses casos, o grau de complexidade é muito maior, já que os campos depletados onde potencialmente ocorre a estocagem do gás podem se encontrar em áreas cujos direitos de exploração e produção de hidrocarbonetos sejam detidos por terceiros. Isso pressupõe a sobreposição de duas atividades, estocagem e produção, realizadas por empresas distintas, em uma mesma área concedida e autorizada.
Em outras palavras, uma norma que venha a regulamentar a autorização para esses agentes deverá abordar a questão de como um terceiro poderá estocar gás natural em uma concessão alheia.
Essa é a razão por trás do art. 22 da Nova Lei do Gás. O dispositivo assegura o acesso de terceiros a instalações de estocagem subterrânea, precedido de um período de não obrigatoriedade, para que a concessionária possa amortizar seus investimentos. O artigo não foi regulamentado pela ANP, a quem cabe definir, entre outros pontos, os critérios aplicáveis, a modalidade do acesso e a extensão do período.
Há ainda outras lacunas difíceis de equacionar que a ANP precisará abordar:
- o período de não obrigatoriedade do acesso de terceiros às instalações de estocagem subterrânea; e
- o regime simplificado para a extração residual de hidrocarbonetos líquidos durante o exercício da atividade de estocagem, sem exigência de licitação, conforme previsão do art. 15 do Decreto 10.712/21, que regulamenta a Nova Lei do Gás, e do art. 23, §3º, da Lei do Petróleo.
Todas essas questões deixam claro que foi dada a largada para o desenvolvimento do mercado da estocagem subterrânea de gás natural no Brasil. Há muitos tópicos que precisam ser discutidos pela indústria e abordados pelo regulador para estabelecer o melhor contorno regulatório possível a uma atividade que tem papel central no aprimoramento do novo mercado do gás.

- Categoria: Contencioso
Nesta edição do Minuto Inteligência Jurídica, a advogada Débora Fernandes, do time Contencioso, comenta as novidades relacionadas à Lei do Superendividamento, que tem como principal objetivo facilitar a negociação de dívidas protegendo o consumidor de possíveis constrangimentos. Assista ao conteúdo completo para conferir todas as informações!
{youtube}https://youtu.be/MPeUwbfzqWs{/youtube}

- Categoria: Reestruturação e insolvência
A recuperação judicial, em linhas gerais, é um instituto que tem como objetivo ajudar empresários e sociedades empresárias a superar uma crise econômico-financeira momentânea, por meio da negociação com seus credores, sob a fiscalização do Poder Judiciário.
Caso as negociações sejam bem-sucedidas, os credores aprovarão o plano de recuperação judicial proposto pela devedora. Esse plano, que tem a natureza de um contrato, definirá os meios de reestruturação da recuperanda.
Aos credores cabe analisar, em especial, a viabilidade econômica do plano para o soerguimento operacional e econômico da recuperanda, e, a depender da sua conclusão, aprová-lo ou rejeitá-lo. Já o Poder Judiciário deve assegurar a legalidade das cláusulas do plano de recuperação judicial aprovado, conforme o ordenamento jurídico em vigor.
Há alguns anos, o Poder Judiciário se deparou com discussão sobre a (im)possibilidade de o plano de recuperação judicial determinar a liberação das garantias oferecidas a credores cujos créditos encontram-se sujeitos ao processo concursal, devido ao disposto no artigo 49, §1º, da Lei 11.101/05 (LRF).
O dispositivo determina a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra fiadores, coobrigados e obrigados em regresso. Esse entendimento foi referendado no julgamento do Tema 885 e na edição da Súmula 581 pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – órgão que reúne a Terceira e a Quarta Turmas, responsáveis pelo julgamento de matérias de direito privado.
A discussão passa também pela interpretação do artigo 50, §1º, da LRF, segundo o qual a supressão ou substituição das garantias reais (penhor, anticrese e hipoteca) dependerá da concordância expressa daquele que delas se aproveita.
Os privilégios concedidos aos credores titulares de garantias reais e pessoais vinham sendo reconhecidos pelos tribunais estaduais, que, a nosso ver, acertadamente, não aceitavam cláusulas de supressão e/ou liberação de garantias nos planos de recuperação judicial analisados. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) editou, em fevereiro de 2020, a Súmula 61, na qual se consolidou o entendimento de que “na recuperação judicial, a supressão da garantia ou sua substituição somente será admitida mediante aprovação expressa do titular”.
No julgamento dos recursos especiais 1.532.943/MT e 1.700.487/MT, a Terceira Turma do STJ alterou esse cenário. Na ocasião, validou-se a aplicação e eficácia indistinta de cláusula do plano de recuperação judicial que suprimia garantias reais e fidejussórias, mesmo para os credores que se opuseram a essa disposição.
O assunto chegou à Segunda Seção do STJ em 2021. Ao julgar o Recurso Especial 1.794.209/SP, o órgão sedimentou a tese de que “a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição”.
Estabeleceu-se ainda que “a anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”.
Desde então, as turmas do STJ e os tribunais estaduais têm seguido a tese firmada no Recurso Especial 1.794.209/SP. Muitos são os precedentes nesse sentido. Como exemplo, é possível citar:
- o Recurso Especial 1.899.107/PR, julgado em 25 de abril deste ano pela Terceira Turma do STJ, no qual se determinou a extinção de execução individual movida contra os devedores coobrigados exclusivamente porque, no caso específico, havia concordância do credor com a cláusula de supressão de garantias; e
- o Agravo Interno em Recurso Especial 2.138.943/GO, julgado em 13 de março deste ano pela Quarta Turma do STJ, para confirmar a ineficácia da cláusula de supressão de garantias prevista no plano ao credor financeiro que não concordou com a disposição.
Parece haver, portanto, uma uniformidade no entendimento de que é inadmissível que o plano de recuperação judicial imponha ao credor discordante ou ausente a supressão de garantias, tanto reais quanto pessoais. Isso, a nosso ver, fortalece a autonomia da vontade das partes quando elegeram a outorga dessa garantia, além de solidificar a segurança jurídica do ato jurídico acordado e consumado.
Nesse caso, a atuação dos advogados para objetar expressamente esse dispositivo revela-se imprescindível, tanto na fase de controle prévio de legalidade, com a apresentação de objeção consistente e tempestiva ao plano de recuperação judicial, quanto na fase de controle posterior, por meio da submissão de declaração de ressalvas.
Entendemos que merece atenção o debate instaurado no Recurso Especial nº 2.059.464/RS, em trâmite perante a Terceira Turma do STJ, sob relatoria do ministro Moura Ribeiro. Nele se discute assunto relacionado ao tema deste artigo, com uma sutil diferença: com base na tese definida pelo STJ no Recurso Especial 1.794.209/SP, a intenção do recorrente é obter a declaração de validade da cláusula que determinou a suspensão de exigibilidade das garantias pessoais – que fora julgada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ineficaz em relação a credor financeiro que contra ela se insurgira.
Esse recurso especial ainda não foi decidido e é cedo para prever se levará o STJ a mudar seu posicionamento sobre a necessidade de concordância expressa do credor em questão para que a disposição seja aplicável a ele ou outras implicações. Por esse motivo, acreditamos ser oportuno acompanhar o julgamento do recurso.

- Categoria: Tributário
A Câmara dos Deputados aprovou, em sessão plenária no dia 7 de julho, o Projeto de Lei 2.384/23, que retoma o voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Beto Pereira (PSDB/MS).
O projeto, de iniciativa da Presidência da República, tramitava sob regime de urgência e estava obstruindo a pauta do plenário, conforme determinação constitucional. Ele foi apresentado após o término de vigência da Medida Provisória 1.160/23, que havia retomado, em janeiro, o voto de qualidade no Carf.
Estes são os principais pontos tratados no substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados:
- A retomada do voto de qualidade no Carf. Nos termos do projeto inicial, o voto de desempate nos julgamentos do Carf deve ser do presidente da turma julgadora, que é sempre de representação da Fazenda Nacional.
- O relator adicionou ao texto da lei a previsão de exclusão de penalidades, juros e de eventual representação para fins penais aos processos cujo resultado seja favorável à Fazenda Pública por voto de qualidade. A alteração promovida pelo relator decorre de acolhimento parcial de acordo realizado entre o governo e a OAB Federal no início do ano.
- O pagamento do crédito tributário determinado por voto de qualidade poderá ser realizado, com a redução de multa e juros, mediante a utilização de prejuízo fiscal de IRPJ e base de negativa de CSLL própria ou de empresa controlada ou controladora.
- A multa qualificada em casos de sonegação, fraude e conluio fica limitada a 100% e, a depender do histórico de conformidade do contribuinte, pode ser reduzido para 1/3 ou deixar de ser aplicada. O percentual de 150% será aplicável apenas em casos de reincidência.
- Mantido o limite de 60 salários mínimos, previsto na Lei 13.988/20, para interposição de recurso voluntário ao Carf. O projeto inicial apresentado aumentava esse limite de alçada para mil salários mínimos.
- A possibilidade de realização de sustentação oral em julgamentos realizados em primeira instância nas delegacias regionais de julgamento. Até então, os julgamentos realizados em primeira instância não eram públicos. Também não era facultado ao representante do sujeito passivo realizar o acompanhamento das discussões da defesa oral.
- Dispensa de apresentação de garantia, até a sentença, para a discussão judicial dos créditos resolvidos favoravelmente à Fazenda Pública por voto de qualidade, desde que o contribuinte comprove a capacidade de pagamento do crédito tributário nos termos definidos na lei.
- Previsão, durante os quatro meses subsequentes à conversão do projeto em lei, de condições especiais para o pagamento de créditos tributários ainda não constituídos. O objetivo é estimular a regularização por parte dos contribuintes.
Em relação à retomada do voto de qualidade e a redução de multa e juros em julgamentos decididos por essa sistemática, o projeto de lei faz referência ao processo administrativo fiscal, mas não deixa claro se tais alterações também serão aplicadas a processos aduaneiros.
Outro ponto que chama atenção é a falta de isonomia na concessão de benefícios aos processos de até 60 salários mínimos. Pela previsão do projeto de lei, apenas processos que cheguem ao Carf terão a redução de multa e juros caso o resultado seja favorável à Fazenda Pública por voto de qualidade. Deixa-se de conceder a benesse aos processos de valores menores julgados pelas delegacias regionais.
Após a consolidação do substitutivo aprovado pelo plenário da Câmara, o projeto será encaminhado para o Senado Federal para apreciação. Em razão do pedido de urgência, a proposta deverá ser apreciada em até 45 dias, contados a partir da data do recebimento. Após esse prazo, todas as demais deliberações legislativas da Casa ficam suspensas até a análise do projeto (conforme art. 64, §2º, da Constituição Federal).
O recesso legislativo ocorrerá entre os dias 18 e 31 de julho, o que pode interferir na apreciação do texto pelo Senado.

- Categoria: Infraestrutura e Energia
O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou, em 22 de junho, a Portaria 737/GM/MME, na qual divulga, para consulta pública, a Nota Técnica 14/23. A nota apresenta proposta de diretrizes para o tratamento das concessões de distribuição de energia elétrica com vencimentos entre 2025 e 2031. Com o encerramento de muitos contratos de concessão, o setor de energia esperava ansiosamente pelas novas regras.
A nota técnica sugere o estabelecimento de dois critérios mínimos que nortearão a análise de eventuais pedidos de prorrogação:
- a eficiência da qualidade do fornecimento de energia verificada ao longo dos anos da concessão, a ser medido com base em indicadores de frequência e na duração das interrupções; e
- a eficiência da gestão econômico-financeira da concessão.
Em relação à qualidade da prestação dos serviços, o MME propõe que os critérios sejam os mesmos atualmente aplicados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para caracterizar a inadimplência contratual da concessionária, conforme os artigos 3º, 4º e 9º do Anexo VIII da Resolução Normativa Aneel 948/21.
Avalia-se também a inclusão de outros mecanismos de mitigação de riscos de descontinuidade dos serviços públicos prestados. São eles, a exigência de:
- um plano de recuperação aprovado pela Aneel; e
- a comprovação de capacidade técnica em gestão de concessões de distribuição pelo novo controlador em caso de troca de controle acionário, como ocorreria em uma nova licitação.
A Nota Técnica 14/23 menciona, ainda, a exigência de contrapartida para a prorrogação das concessões. Esses recursos seriam destinados às medidas de eficiência energética, como melhorias nos sistemas de iluminação, popularização de medidores digitais, investimentos para combater perdas não técnicas (furto de energia) e instalação de painéis fotovoltaicos em comunidades sujeitas à insegurança hídrica.
O MME previu também a possibilidade de prorrogação antecipada. Nos casos das concessionárias que manifestaram seu interesse na renovação antes da publicação das novas regras, será dado prazo de 60 dias para retificar ou não o requerimento. Nos casos em que a concessão não for prorrogada, a indenização referente aos ativos não amortizados continuará sendo calculada pela Aneel com base na atual metodologia (Base de Regulação Remuneratória – BRR).
A nota técnica não contempla uma proposta de ato normativo, apenas diretrizes gerais sobre a prorrogação de contratos de concessão. Essas diretrizes serão discutidas entre o poder concedente e os agentes do setor por meio da consulta pública.
Do ponto de vista jurídico, alguns dos principais pontos de atenção envolvem a aferição da capacidade técnica e econômico-financeira das concessionárias, além do tratamento daqueles pedidos que já foram apresentados e os que estão por vir, considerando o prazo de vencimento das concessões, a exigência de contrapartida para a prorrogação e o novo contexto de inovação e tecnologia em que se inserem as novas concessões de distribuição.
Trata-se de um debate relevante que deve ser acompanhado de perto nos próximos meses. A definição das novas regras de prorrogação para as concessões de distribuição de energia representará um importante indicador para o futuro do mercado de distribuição no Brasil e servirá de precedente para outras concessões em outros segmentos de serviço público.

- Categoria: Bancário, seguros e financeiro
A Superintendência de Supervisão de Securitização (SSE) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) publicou, no dia 5 de julho, o Ofício-Circular 6/2023/CVM/SSE (OC 6), com o objetivo de complementar as manifestações contidas no Ofício-Circular 4/2023/CVM/SSE (OC 4) sobre a possível caracterização dos tokens de recebíveis e tokens renda fixa (em conjunto TR) como valores mobiliários, seja por serem considerados ofertas públicas de operações de securitização (segundo a Lei 14.430/22) ou contratos de investimento coletivo (segundo a Lei 6.385/76).
O OC 6 traz ainda novas explicações sobre o OC 4 e aponta como o entendimento expresso nesse ofício pode afetar direta ou indiretamente a tokenização de títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira – como Cédulas de Crédito Bancário (CCB), Certificados de Cédulas de Crédito Bancário (CCCB) ou Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI). Também dá esclarecimentos sobre a utilização de plataforma de crowdfunding para a oferta pública de títulos ou valores mobiliários representativos de operações de securitização.
A seguir, fazemos uma breve síntese sobre os principais pontos abordados no OC 6 e como esses tópicos podem afetar o mercado de tokenização no Brasil.
Diferenças entre operação de securitização e contrato de investimento coletivo
Aprofundando-se na questão tratada no OC 4, a SSE esclarece que é possível que determinada modalidade de TR seja considerada contrato de investimento coletivo, sem que necessariamente se enquadre como operação de securitização
Nesse caso, o ofertante do TR não se isentaria de cumprir as normas aplicáveis sobre oferta pública de valores mobiliários, porém estaria dispensado da necessidade de fazer a oferta via securitizadora.
A SSE esclarece que isso pode acontecer quando, cumulativamente:
- houver oferta pública de um único direito creditório, via instrumento de cessão ou outra modalidade, sem coobrigação ou outra forma de retenção de risco pelo cedente ou por terceiro;
- o fluxo de caixa do direito creditório fluir diretamente para os investidores, com a mínima interferência do cedente ou de terceiros para viabilizar o repasse do fluxo;
- não houver mecanismos predeterminados para a substituição, recompra ou revolvência do direito creditório cedido, nem qualquer coobrigação pelo adimplemento do contrato de investimento coletivo ofertado;
- não houver prestadores de serviço previamente contratados, como, por exemplo, os equivalentes aos de custódia, escrituração, depositário, agente fiduciário, cobrança ordinária do direito creditório ofertado ou serviço de monitoramento ou acompanhamento; ou seja, não houver um “empacotamento” do direito creditório com serviços, mas sim a venda direta; e
- em caso de inadimplência, quando cabe ao investidor adotar as medidas de cobrança judiciais ou extrajudiciais, podendo o investidor, diretamente as suas expensas, contratar agentes de cobrança.
Nesse sentido, a venda perfeita e acabada de um único ativo (true sale) pode descaracterizar a operação de securitização. É preciso, porém, avaliar se as demais características do TR o tornam um contrato de investimento coletivo – caso em que as normas sobre oferta pública de valores mobiliários devem ser aplicadas.
As considerações da SSE sobre a possível caracterização de operação de securitização são bastante positivas para o mercado de tokenização no Brasil, na medida em que trazem maior previsibilidade e segurança jurídica para os ofertantes de tokens lastreados em créditos ou direitos creditórios. A partir de agora, os ofertantes poderão se orientar em bases mais sólidas sobre a necessidade ou não de ampararem suas operações por meio de entidade securitizadora.
Títulos cambiais de responsabilidade de instituição financeira
Avançando na discussão sobre o alcance do OC 4, a SSE esclarece que o entendimento ali manifestado não se aplica aos títulos de responsabilidade de instituição financeira, como CCB, CCCB e CCI, quando atendidos os requisitos do art. 45-A da Lei 10.931/04.
Por expressa disposição legal, a emissão e a comercialização de tais títulos estão fora do perímetro regulatório da CVM. Contudo, a SSE esclarece que, se uma oportunidade de investimento for lastreada em uma cesta de alguns desses títulos, é possível que a operação seja caracterizada como contrato de investimento coletivo ou operação de securitização, ambos sujeitos à jurisdição da CVM.
A SSE esclarece que a cesta pode corresponder à oferta pública de um único ativo que represente ou corresponda ao investimento em mais de uma CCB, um CCCB ou uma CCI. Nesses casos, a SSE aponta ser possível haver descasamento entre o fluxo de caixa do lastro e do valor correspondente ao contrato de investimento coletivo, fazendo com que o contrato ofertado não corresponda ao título de responsabilidade da instituição financeira propriamente, mas ao investimento que tem como lastro aqueles títulos.
As considerações da SSE sobre a tokenização de títulos cambiais de responsabilidade financeira ou de títulos baseados em cesta desses ativos é positiva para o mercado, por trazerem maior previsibilidade e segurança jurídica para os interessados em ofertar tokens lastreados nesses títulos.
Simplificação da oferta pública de tokens de recebíveis no modelo de crowdfunding
Ao editar o OC 4, a SSE orientou que, até o volume de R$ 15 milhões, os títulos de securitização emitidos por companhias securitizadoras podem ser tokenizados e ofertados publicamente por meio de plataformas de crowdfunding, nos termos da Resolução CVM 88/22 – regulamentação de crowdfunding – valendo-se, dessa forma, de regime regulatório de ofertas públicas mais simples em comparação àquele previsto na Resolução CVM 160/22.
Para viabilizar que essas operações de securitização cumpram os limites de receita bruta anual do emissor (aplicáveis, em geral, à sociedade empresária de pequeno porte no âmbito de crowdfunding, nos termos previstos no art. 2º, inciso VII e parágrafo 2º, da Resolução CVM 88/22), a SSE esclareceu que, nas operações de securitização de tokens, esses limites poderiam ter como base o patrimônio separado.
Esse patrimônio seria constituído por meio da instituição do regime fiduciário pela companhia securitizadora, e não necessariamente a companhia securitizadora na condição de emissora do título de securitização. Ou seja, o emissor, para fins da Resolução CVM 88/22, seria o patrimônio separado da emissão dos tokens.
Contudo, na edição do OC 4, a SSE havia entendido que essa orientação não seria aplicável às emissões concentradas em apenas um devedor ou devedores que sejam partes relacionadas entre si – inclusive devedores do lastro em operação de securitização.
Esse entendimento, no entanto, acaba de ser alterado e retificado pelo OC 6. A SSE passou a admitir que o patrimônio separado pode ser considerado como emissor para fins da Resolução CVM 88/22, inclusive em emissões concentradas.
Isso significa que o patrimônio separado, e não a companhia securitizadora ou o(s) devedor(es), é equiparado ao emissor, quando se tratar de atender aos requisitos da regulamentação de crowdfunding, entre os quais se destacam:
- limite de receita bruta anual de R$ 40 milhões ou, em relação ao grupo econômico, R$ 80 milhões;
- valor máximo de captação de R$ 15 milhões;
- somatório da captação total; e
- prazo de 120 dias de intervalo entre ofertas públicas.
Adicionalmente, as limitações em relação à manutenção e trânsito de recursos de investidores em ofertas de crowdfunding previstas no art. 5º, § 1º, incisos (i) a (iii),[1] da Resolução CVM 88/22, em uma interpretação direta, criam proibição de a plataforma de crowdfunding e seus sócios constituírem companhia securitizadora para emitir os tokens e ofertá-los nessa plataforma.
A SSE traz alternativa para afastar essa restrição às operações de securitização de tokens realizadas por meio de plataforma de crowdfunding. O órgão deixa claro que as securitizadoras podem ser constituídas pela própria plataforma, desde que as emissões sejam realizadas com a constituição de patrimônio separado nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis às operações de securitização.
O esforço interpretativo do regulador se traduz em simplificação do procedimento de oferta pública dos tokens de recebíveis para viabilizar e estimular a utilização da regulamentação de crowdfunding para essa finalidade. A norma não foi concebida para os tokens de recebíveis, mas está sendo colocada, nesse momento, como alternativa jurídica para facilitar a distribuição desses tokens no mercado.
[1] Art. 5º, § 1º, da Resolução CVM 88/22: “Os montantes transferidos pelos investidores não podem transitar por contas correntes: I – mantidas em nome da plataforma; II – mantidas em nome de sócios, administradores, e pessoas ligadas à plataforma; III – mantidas em nome de empresas controladas pelas pessoas mencionadas nos incisos I e II deste parágrafo; (…)”